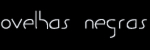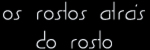In Revista A-Z (abril/89)
Marcadores: Dispersos
Clarice Lispector, A Legião Estrangeira
Toco de leve num joelho e lembro: eu estava na esquina da rua X quando vi os carros se aproximarem. Mas não sabia qual sua função exata; todas as vezes que perguntara sobre isso, observei que as pessoas evitavam responder. Percebia apenas que sentiam medo. Supunha que em determinados círculos pudessem explicar-me para que serviam aqueles
enormes carros vermelhos, chamados carros-recolhedores, mas chegara havia pouco do interior e ainda não tivera acesso a nenhum círculo, exceto o da pensão onde morava, composto exclusivamente de velhos, viúvas e solteironas. Minha reação mais natural foi, portanto, sentir medo como eles. Como todos. Encolhi-me na entrada de um edifício onde, devido às sombras da noite e da iluminação escassa, julgava que eles não poderiam me ver. À parte o medo, achei bonito o carro. Quando o vi surgindo no começo da rua, varando a névoa, todo vermelho e luminoso, não pude deixar de pensar que se tratava de uma das coisas mais belas que já havia visto. Quase não havia ruído: a sua chegada era anunciada pela iluminação excessiva — além de dois grandes faróis dianteiros, havia uma série de luzes fortíssimas na parte superior e posterior do carro. Eu não podia ver os condutores, as portas não se abriam nunca e o brilho das luzes não permitia ver seus rostos. Adivinhei, porém, que usavam os uniformes do comando-geral. E encolhi-me ainda mais, indeciso entre o medo, o fascínio e a curiosidade. De onde estava, podia vê-los aproximar-se lentamente, os faróis giravam devassando os antos escuros da rua, e surpreendi-me ao perceber que ela não estava deserta como eu supunha. Em cada canto revelado pelos faróis havia um grupo de pessoas, silenciosas e sem movimentos. Todas elas usavam as roupas brancas dos descontentes. As luzes batiam em seus rostos tornando-as sobrenaturais, apenas o rosto pálido e a veste branca recortados contra a escuridão. Eram belas, tão belas quanto o carro-recolhedor.
Uma guinada súbita faz com que o joelho onde estou apoiado se esquive num movimento brusco. Os solavancos não permitem que eu o encontre novamente. Estendo as mãos para o vazio à minha frente e procuro — até encontrar dois ombros sobre os quais me debruço. Os ombros não se movem. Não se escuta nenhum som: alguma coisa foi feita para que o silêncio se estabelecesse assim absoluto aqui dentro. Também não há janelas nem luzes. Da esquina onde estava, olhei as pessoas brancas subitamente desnudadas. O carro parou e um feixe mais intenso de luz projetou-se sobre elas. No momento em que essa luz incidiu sobre seus corpos, pareceram paralisadas. Em seguida duas comportas abriram-se nos lados do carro expelindo uma espécie de vento que sugava as pessoas.
Observei que elas não lutavam nem gritavam, embora suas bocas se abrissem e seus braços ensaiassem alguns movimentos descontrolados. Flutuavam por um instante no ar gelado da noite, perdidas naquela estranha dança, agarradas umas às outras, até penetrarem pelas comportas escancaradas como bocas. As comportas fechavam-se e o carro voltava a andar, parando mais adiante, quando os faróis tornavam a repetir os mesmos movimentos. Da minha esquina, julguei compreender uma porção de coisas. Quase todas as coisas: as lágrimas de minha mãe quando decidi vir embora para a capital e os olhos assustados das pessoas que eu inquiria sobre os carros-recolhedores. Compreendi mais, e tão subitamente que se tornou impossível transformá-lo em palavras: apenas as imagens atravessavam meu cérebro como flechas superpostas, confundidas. E eu não sabia distinguir o fim de uma descoberta do começo de outra, tão interligadas estavam todas. Deixei de sentir medo e saí de meu esconderijo. No mesmo instante, o farol-mestre analisou meu corpo. Eu vestia roupas comuns, calças e camisa escuras, não brancas. Percebendo isso, o farol imediatamente se voltou para outro lado. Lentamente, abandonei a esquina. Um ar gelado bateu no meu rosto. Dei alguns passos tontos, olhei para cima e vi o edifício de vidro estendido em direção ao céu. À minha frente desdobrava-se a rua que havia pouco eu julgara deserta. Não entendia bem por quê, mas tive certeza de que tinha-me tornado, também, um descontente. Meu corpo oscila tocando outros corpos. Nenhum se esquiva.
Todos me sustentam como se me apertassem a mão. Na noite seguinte, vesti-me de branco como eles e parei na mesma esquina da rua X. À mesma hora tornei a ver a luminosidade crescendo aos poucos até expandir-se por toda a rua. Saí de meu lugar escondido e parei sob o poste. Como na noite anterior, um facho de luz nasceu do carro-recolhedor projetando-se sobre mim. Investigou-me devagar, enquanto eu apertava os olhos, ofuscado pelo brilho. Pouco depois, vi as comportas abrirem-se: o mesmo vento de ontem envolveu aos poucos meu corpo. Senti-me flutuando no ar, gritei, mas nenhum som saiu de minha boca. Tentei segurar-me no poste, mas o vento cada vez mais forte me obrigava a abrir os dedos e, cada vez mais, a flutuar.
Então penetrei pela comporta aberta. Quando meu corpo transpôs as aberturas de metal, houve ainda algum tempo em que flutuei no escuro, sugado pelo vento que diminuía lentamente. Até que meus pés tocaram alguma coisa macia, que mais tarde percebi ser um outro corpo. Acomodei-me ao lado dele, toquei-o com os dedos, de leve. Era uma jovem, creio, a julgar pelos cabelos compridos e a pele muito lisa, sem indícios de barba.
Tentei falar, perguntar quem era, para onde estavam nos levando — mas, embora abrisse a boca e sentisse a garganta vibrando para dar passagem à voz, nenhum som se ouviu. Pelos movimentos de seus ombros, percebi que ela chorava. Abracei-a, então, e permanecemos juntos até que as comportas tornaram a se abrir e novos corpos caíram sobre nós. Eram muitos. Várias vezes o carro-recolhedor parou, e de cada vez novos e novos corpos entravam. Já não conseguíamos mais nos movimentar. Perdi-me da jovem, tentei estabelecer ligação com uma outra pessoa ao meu lado, mas os freqüentes solavancos nos afastam uns dos outros, nos emaranham como fios de uma teia soprada pelo vento. Mal posso distinguir a mim mesmo dos outros. Faz muito tempo que estamos aqui: meus membros dormentes se confundem com os membros dos demais. Como se fôssemos um único organismo, composto de inúmeros braços, pernas e cabeças, harmonizados por um pensamento comum.
Agora o carro pára. Minhas unhas raspam o metal do fundo. Dentro do silêncio, um silêncio maior se faz. Alguém passa a mão no meu rosto, como se quisesse despedir-se. As comportas se abrem dando passagem a uma luz acinzentada. Vejo os rostos pálidos dos meus companheiros. Parecem crianças. Não: parecem seres de um outro mundo, um mundo futuro. Ou um mundo que não foi possível. Eles temem. Eu também temo. Abaixo de nós vejo o poço cheio de lanças pontiagudas onde se entrelaçam serpentes. Do poço até as comportas, uma rampa inclinada. Um vento começa a sugar-nos para o poço. Tento segurar-me no chão do carro, minhas unhas se estraçalham contra a aspereza do metal, meus dedos estão ensangüentados, meu corpo exausto. Outras carnes roçam a minha, bocas, seios, braços, olhos. Guardo nos dedos um punhado de cabelos que não são meus. Não resisto mais. Ao passar, alguém se agarra em mim, carregando-me junto. Vamos abraçados, nossas costas roçando doloridamente pela superfície escorregadia da rampa. Por cima de nós, um céu cinzento. Lá embaixo, as cobras e as lanças. Venenosas, agudas. Abraço com força o meu camarada e fecho os olhos como se gritasse. Como se pudesse gritar.
Marcadores: Pedras de Calcuta
Era uma vez um homem cansado que ia indo por um caminho. Tinha passado do meio-dia, a tarde estava ficando muito quente. No ar azul e claro não soprava nenhum vento, O homem procurou a sombra de uma árvore, sentou e ficou ali, quieto.
Até que passou um surfista. Ia de moto, sem camisa, a bermuda colorida, a prancha amarrada na garupa da moto. Abanou para o homem sentado, mas ele não se mexeu.
“Coitado” — pensou o homem. — “Vai indo assim todo animado. Parece que não sabe que vai morrer um dia.”
Remexeu a areia com um pedacinho de pau, mas sem prestar atenção. Então passou uma velhinha que parecia saída de um livro de histórias infantis. Usava um vestido escuro, comprido, e carregava no ombro uma dessas latas de metal, cheia de leite. Caminhava muito depressa.
“Coitada” — pensou o homem. — “Velha desse jeito, pra que tanta pressa? A morte vai chegar logo — e aí?”
Acendeu um cigarro, ficou soltando anéis de fumaça contra o céu cada vez mais azul. Aí passaram duas moças de braço dado. Parecia que recém tinham tomado banho, tão fresquinhas estavam. Os cabelos ainda molhados brilhavam ao sol. Cochichavam e riam muito, olhando o homem sentado, que nem olhava para elas.
“Coitadas” — o homem pensou. — “Tão assanhadinhas. Ah, se elas soubessem que a morte existe e pode chegar a qualquer momento...”
Ficou um rastro de perfume no ar, mas ele nem respirou mais fundo nem nada. De repente um passarinho começou a cantar, no galho bem acima dele. Ouviu um pouco, depois cuspiu de lado.
“Coitado” — o homem pensou. — “Esse idiotinha fica cantando à toa, de repente vem um moleque, joga uma pedra e pronto, acabou.”
Estendeu as pernas, mas logo as recolheu assustado. De longe, vinha um barulho forte como o de um exército em marcha. O homem fixou bem os olhos na curva da estrada. Até que apontou um elefante lá longe. Depois vieram tigres, macacos, camelos, mágicos, equilibristas: era um circo passando. Os palhaços fizeram micagens especiais para ele, mas o homem não deu atenção. A bailarina, equilibrada num pé só sobre o pônei branco, jogou uma rosa vermelha de tule a seus pés, mas ele não apanhou.
“Coitados” — pensou o homem. — “Quanta ilusão. Um dia o circo pega fogo, a morte chega e de que serviu essa alegria toda?”
Com a ponta do pé, empurrou para longe a rosa vermelha. Nesse momento, ia passando um casal de namorados. O rapaz pegou a rosa, sacudiu para afastar a poeira, depois colocou-a nos cabelos da moça. Ela sorriu, e agradeceu com um beijo. Ele respondeu com outro, ela com outro — e assim foram indo, aos beijos, até sumirem.
“Coitados” — pensou o homem. — “Amor, amor: não tem besteira maior. Casam, têm filhos, ficam velhos, doentes. Um dia morrem e pronto.”
A tarde quase já tinha virado noite, quando um vulto encapuzado veio se aproximando. Ele precisou apertar os olhos para ver melhor. Mesmo assim, não via direito a cara do vulto que se aproximava cada vez mais, até parar bem na frente dele.
— Quem é você? — o homem perguntou. A figura afastou o capuz, mostrou os dentes arreganhados e disse:
— Sou a Morte. Posso sentar ao seu lado?
O homem deu um pulo.
— Não — ele disse. — Já está ficando tarde e eu ainda tenho muito o que fazer.
Virou as costas e saiu correndo, sem olhar para trás.
O Estado de S. Paulo, 1/o4/1987 - In Pequenas Epifanias
Marcadores: Pequenas Epifanias
Como um bebê ou um cristal: tome-o nas mãos com muito cuidado. Ele pode quebrar, o momento presente. Escolha um fundo musical adequado — quem sabe, Mozart, se quiser uma ilusão de dignidade. Melhor evitar o rock, o samba-enredo, a rumba ou qualquer outro ritmo agitado: ele pode quebrar, o momento presente. Como um bebê, então, a quem se troca as fraldas, depois de tomá-lo nas mãos, desembrulhe-o com muito cuidado também. Olhe devagar para ele, parado no canto do quarto ou esquecido sobre a mesa, entre legumes, ou misturado às folhas abertas de algum jornal. Contemple o momento presente como um parente, um amigo antigo, tão familiar que não há risco algum nessa presença quieta, ali no canto do quarto. Como a uma laranja, redonda, dourada — mas sem fome, contemple o momento presente. Como a cinza de um cigarro que o gesto demorou demais, caída entre as folhas de um jornal aberto em qualquer página, contemple o momento presente. E deixe o vento soprar sobre ele.
Desligue a música, agora. Seja qual for, desligue. Contemple o momento presente dentro do silêncio mais absoluto. Mesmo fechando todas as janelas, eu sei, é difícil evitar esses ruídos vindos da rua. Os alarmes de automóveis que disparam de repente, as motos com seus escapamentos abertos, algum avião no céu, ou esses rumores desconhecidos que acontecem às vezes dentro das paredes dos apartamentos, principalmente onde habitam as pessoas solitárias. Mas não sinta solidão, não sinta nada: você só tem olhos que olham o momento presente, esteja ele — ou você — onde estiver. E não dói, não há nada que provoque dor nesse olhar.
Não há memória, também. Você nunca o viu antes. Tenha a forma que tiver — um bebê, um cristal, um diamante, uma faca, uma pêra, um postal, um ET, uma moça, um patim — ele não se parece a nada que você tenha visto antes. Só está ali, à sua frente, como um punhado de argila à espera de que você o tome nas mãos para dar-lhe uma forma qualquer — um bebê, um cristal, um diamante e assim por diante. E se você não o fizer, ele se fará por si mesmo, o momento presente. Não chore sobre ele. No máximo um suspiro. Mas que seja discreto, baixinho, quase inaudível. Não o agarre com voracidade — cuidado, ele pode quebrar. Não ria dele, por mais ridículo que pareça. Fique todo concentrado nessa falta absoluta de emoção. Não espere nada dele, nenhuma alegria, nenhum incêndio no coração. Ele nada lhe dará, o momento presente.
Deixe que ele respire, como uma coisa viva. Respire você também, como essa coisa viva que você é. Contemple-o de frente, igual àquela personagem de Clarice Lispector contemplando o búfalo atrás das grades da jaula do jardim zoológico. Você pode estender a mão para ele, tentar uma carícia desinteressada. Mas será melhor não fazer gesto algum.
Ele não reagirá, mesmo todo pulsante, ali à sua frente.
Respire, respire. Conte até dez, até vinte talvez. Daqui a pouco ele vai começar a se transformar em outra coisa, o momento presente. Qualquer coisa inteiramente imprevisível? Você não sabe, eu não sei, ele não sabe: os momentos presentes não têm o controle sobre si mesmos. Se o telefone tocar, atenda. Se a campainha chamar, abra a porta. Quando estiver desocupado outra vez, procure-o novamente com os olhos. Ele já não estará lá. Haverá outro em seu lugar. E então, como a um bebê ou a um cristal, tome-o nas mãos com muito cuidado. Ele pode quebrar, o momento presente. Experimente então dizer “eu te amo”. Ou qualquer coisa assim, para ninguém.
O Estado de S. Paulo, 11/3/1987 - In`Pequenas Epifanias
Marcadores: Pequenas Epifanias
Começou a amanhecer. Não sei ao certo como soubemos que tinha começado a amanhecer: era tão escuro ali dentro que noite ou dia lá fora não faria a menor diferença. Por algumas frestas, frinchas — não importa—, tivemos certeza de que começara, claramente, a amanhecer. E por condicionamento, talvez, porque sempre com o amanhecer chega a hora de ir embora, começamos a ir embora. Feito vampiros às avessas — necessitados de luz, não de sombra.
Tinha roxo e rosa no céu. Até as latas cheias de lixo na rua deserta pareciam vagamente douradas. Fez com que caminhássemos a pé, para olharmos o céu. E enquanto eu olhava o céu limpo da cidade suja, interpunha entre nós seu primeiro muro de palavras. Confusas, atormentadas, sobre tudo e sobre nada: palavras amontoadas umas sobre as outras, como se amontoam tijolos para separar alguma coisa de outra coisa. Eu, mal sabendo que esse — que parecia seu jeito mais falso de ser — seria nas semanas seguintes seu jeito mais verdadeiro, às vezes único.
Quando o tempo passasse um pouco mais, nos surpreendendo ainda juntos em outra madrugada, minha cabeça repetiria tonta e lúcida «Éramos tão pálidos, e nos queríamos tanto”. Éramos muito pálidos naquela primeira manhã entre as latas de lixo da rua deserta, caminhando em direção ao dia de hoje — mas ainda não nos queríamos com este enorme susto no fundo dos olhos despreparados de querer sem dor.
Lembro que olhando para cima, descobri entre o roxo e o rosa das nuvens um anjo também pálido, magro e de barba por fazer, vestido de negro, com um leve sorriso nos lábios, vertendo uma gota de mel sobre nossas cabeças. Não prestei atenção nele. Me deixava levar, guiado apenas pelo jardim que entrevia pelas frestas dos tijolos, nos muros-palavras erguidos entre nós, com descuido e precisão. Viriam depois, mais muros que os de palavras, muros de silêncio tão espesso que nem mesmo os demorados exercícios de piano, as notas repetidas e os dedos distendidos, conseguiriam derrubar.
Errei pela primeira vez quando me pediu a palavra amor, e eu neguei. Mentindo e blefando no jogo de não conceder poderes excessivos, quando o único jogo acertado seria não jogar: neguei e errei. Todo atento para não errar, errava cada vez mais. Mas durante as ausências, olhando então para cima e abrindo aboca, recebia em cheio na garganta as gotas de mel do jarro de lata que aquele anjo pálido trazia ao ombro. Embora me recusasse a ver que o anjo parecia cada vez mais sombrio. Incapaz de perceber que em seu leve sorriso, bem no canto da boca, começava a surgir uma marca de sarcasmo, feito um tique cruel.
Passaram-se muitos dias. A lua deu mais de uma volta completa no Zodíaco. Ultrapassou Sagitário e caminhou até Áries, completando seu triângulo de fogo e paixão. Bati as mãos contra o muro, procurando brechas. Não havia mais. Espatifei as unhas, gritei por uma resposta qualquer. Nem uma veio de volta. Olhei para fora de mim e não consegui localizar ninguém no meio das vibrações da cidade suja. Olhei para dentro de mim e só havia sangue. Derramado, como nas cirandas.
Queria acordar, mas não era um sonho.
Então localizei outra vez aquele mesmo anjo parado entre nuvens. Estava de branco, agora, mas nenhum sorriso nos severos, em suas mãos havia um jarro de ouro. De dentro ele, chovia um mar de sal sobre a minha cabeça. Por quê?! — eu perguntei. O anjo abriu aboca. E não sei se entendo o que me diz.
O Estado de S. Paulo, 1/7/986 - In Pequenas Epifanias
Marcadores: Pequenas Epifanias
Perguntou a Medusa para Édipo:
— Escuta aqui, você viu bem onde amarrou seu cavalo? (O cavalo era um Pegasozinho meio de quinta. Mas com asas.)
— Hein? — resmungou Édipo, as rédeas ainda na mão.
— Não faz o distraído comigo que eu te petrifico, viu? — grito a Medusa, que era muito temperamental. — Te conheço não é de hoje.
— Saco — murmurou Édipo. — Sempre onipotente.
Medusa ficou uma fúria:
— Olha nos meus olhos já! — ordenou. — Direto nos meus olhos, seu panaca. Ela olhou fundo nos olhos dele. As cobrinhas da cabeça ficaram em pé. — Considere-se petrificado.
— Naja idiota — bocejou Édipo. — Não vê que sou cego?
Medusa bateu na testa:
— É mesmo! Por Juno, eu tinha esquecido.
Sei, sei. O enigma, Tebas, Jocasta, aquela baixaria toda.
Cuspiu de lado: — Tarado.
Édipo ia reagir quando chegou Perséfone: percebeu pelo excesso de perfume no ar. Sim, pensou, Perséfone tinha mesmo ficado meio tang demais depois de superada aquela horrível fase darkno Hades.
— Édipo, meu gato! — ela gritou. — Nossa, quanto tempo. Desde aquela tarde em Elêusis, quem diria? — Começou a falar outra abobrinha qualquer, mas interrompeu-se com um grito: — Por Palas-Atena, baby: Você viu bem onde amarrou seu cavalo?
— Perua! — interrompeu a Medusa. — Eu já dei o toque pra ele. Perséfone fez que não ouviu. Já tinham rolado uns lances entre elas no verão passado, em Creta (Medusa calçava bico largo). Super-heavy: Perséfone preferiu tirar o time. Mais ainda depois que conhecera Teseu, na musculação. Insistiu, como se Medusa não existisse:
— Mas me diz, meu bem: você viu onde amarrou seu cavalo?
— Eu não vejo, pô — rosnou Édipo. — E você que vê, por Cronos, poderia me fazer o enorme favor de dizer, Parcas, onde...
Perséfone era muito dispersiva. Nesse momento olhou para cima e viu o inconfundível acrílico da asa-delta de Ícaro.
Chamou:
— Ícaro! Ícaro, desça já-já aqui, seu piradinho!
Ícaro desceu. Não porque tivesse ouvido (ao voar, usava sempre headphones com som de Phillip Glass: dava o maior clima), mas por coincidência tinha olhado para baixo e visto os três. Quatro com Pégaso.
— E aí, lasanha? Dando banda? — Perséfone era demais galinha.
— Estou procurando Apoio — respondeu Ícaro, muito digno.
Baixo-astral como era, Medusa não perdeu a oportunidade:
— Apolo? Acabei de vê-lo com Narciso, nos Jardins com as Hespérides. Aliás, nunca vi Narciso tão bonito. Herítia apresentou uns pomos pra eles, e você precisava ver, que gracinha, Apoio dando pedacinhos pra ele...
Ícaro ficou lívido. Estava a ponto de rodar a cariátide quando Perséfone, diplornatiquérrima (era Libra), cortou:
—Você conhece Édipo, Ícaro?
— Prazer — disse Ícaro, estendendo a mão. — Ícaro.
— Édipo — disse Édipo, uma mão nas rédeas, outra tateando no ar. — Escuta, você não é o filho de Dédalo?
— Você conhece meu pai? Ele... — Ícaro parecia encantado, mas interrompeu-se com um grito: — Por Vulcano, Édipo! Você viu bem onde amarrou seu cavalo?
Foi então que Édipo sacou que a situação era realmente grave. Soltou as rédeas e disse aquela frase que acabou entrando para a História: — Por Zeus, vocês que vêem querem parar com essa galinhagem e me dizer de uma vez por todas: onde foi que eu vim amarrar meu cavalo?
O Estado de S. Paulo, /1o/986 - In Pequenas Epifanias
Marcadores: Pequenas Epifanias
Houvesse cortinas no quarto, elas tremulariam com a brisa entrando pelas janelas abertas, de manhã bem cedo. Acordei sem a menor dificuldade, espiei a rua em silêncio, muito limpa, as azaléias vermelhas e brancas todas floridas. Parecia que alguém tinha recém pintado o céu, de tão azul. Respirei fundo. O ar puro da cidade lavava meus pulmões por dentro. Setembro estava chegando enfim.
Na sala, encontrei a mesa posta para o café — leite e pão frescos, mamão, suco de laranja, o jornal ao lado. Comi bem devagarinho, lendo as notícias do dia. Tudo estava em paz, no Nordeste, no Oriente Médio, nas Américas Central, do Norte e do Sul. Na página policial, um debate sobre a espantosa diminuição da criminalidade. Comi, li, fumei tão devagarinho que mal percebi que estava atrasado para o trabalho. Achei prudente ligar, avisando que iria demorar um pouco.
A linha não estava ocupada. Quando o chefe atendeu, comecei a contar uma história meio longa demais, confusa demais. Só quando ele repetiu calma, calma, pela terceira vez, foi que parei de falar. Então ele disse que tinha acabado de sair de uma reunião com os patrões: tinham decidido que meu trabalho era tão bom, mas tão bom que, a partir daquele dia, eu nem precisava mais ir lá. Bastava passar todo fim de mês, para receber o salário que havia sido triplicado.
Desliguei um pouco tonto. Então, podia voltar a meu livro? Discreta e silenciosa como sempre, a empregada tinha tirado a mesa. No centro dela, agora, sobre uma toalha de renda branca, havia rosas cor de chá, aquelas que Oxum mais gosta. No escritório, abri as gavetas e apanhei a pilha de originais de três anos, manchados de café, de vinho, de tinta e umas gotas escuras que pareciam sangue. Reli rapidamente. E a chave que faltava, há tanto tempo, finalmente pintou. Coloquei papel na máquina, comecei a escrever iluminado, possuído a um só tempo por Kafka, Fitzgerald, Clarice e Fante. Não, Pedro não tinha ido embora, nem Dulce partido, nem Eliana enlouquecido. As terras de Calmaritá realmente existiam: para chegar lá, bastava tomar a estrada e seguir em frente.
Escrevi horas. Sem sentir, cheio de prazer. Quando pensava em parar, o telefone tocou. Então uma voz que eu não ouvia há muito tempo, tanto tempo que quase não a reconheci (mas como poderia esquecê-la?), uma voz amorosa falou meu nome, uma voz quente repetiu que sentia uma saudade enorme, uma falta insuportável, e que queria voltar, pediu, para irmos às ilhas gregas como tínhamos combinado naquela noite. Se podia voltar, insistiu, para sermos felizes juntos. Eu disse que sim, claro que sim, muitas vezes que sim, e aquela voz repetiu e repetia que me queria desta vez ainda mais, de um jeito melhor e para sempre agora. Os passaportes estavam prontos, nos encontraríamos no aeroporto: São Paulo/Roma/Atenas, depois Poros, Tinos, Delos, Patmos, Cíclades. Leve seu livro, disse. Não esqueça suas partituras, falei. Olhei em volta, a empregada tinha colocado para tocar A sagração da primavera, minha mala estava feita. Peguei os originais, a gabardine, o chapéu e a mala. Então desci para a limusine que me esperava e embarquei rumo a.
PS — Andaram falando que minhas crônicas estavam tristes demais. Aí escrevi esta, pra variar um pouco. Pois como já dizia Cecília/Mia Farrow em A cor púrpura do Cairo: “Encontrei o amor. Ele não é real, mas que se há de fazer? Agente não pode ter tudo na vida...” Fred e Ginger dançam vertiginosamente. Começo a sorrir, quase imperceptível. Axé. E The End.
O Estado de S. Paulo, 27/8/1986 - In Pequenas Epifanias
Marcadores: Pequenas Epifanias
Nunca na minha vida casei, mas — imagino — minha relação com São Paulo é igual a um casamento.Atualmente, em crise. Como conheço bem esse laço, sei que apesar das porradas e desacatos, das queixas e frustrações, ainda não será desta vez que resultará em separação definitiva. No máximo, posso dormir no sofá ou num hotel no fim de semana, mas acabo voltando. Na segunda-feira, volto brava e masoquistamente, como se volta sempre para um caso de amor desesperado e desesperançado, cheio de fantasias de que amanhã ou depois, quem sabe, possa ter conserto. Este, amargamente, não sei se terá.
Porque está demais, querida Sampa. E sempre penso que pode ser este agosto, mês especialmente dado a essas feiúras, sempre penso que pode ser o tempo, tão instável ultimamente, sempre penso que pode ser qualquer coisa de fora, alheia à alma da cidade — para que seja mais fácil perdoar, esquecer, deixar pra lá. Não sei se é. As calçadas e as ruas estão esburacadas demais, o céu anda sujo demais, o trânsito engarrafado demais, os táxis tão hostis a pobres pedestres como eu... Cada vez é mais difícil se mexer pelas ruas da cidade — e mais penoso, mais atordoante e feio.
Feio é a palavra mais exata. A feiúra desabou sobre São Paulo feito as pragas desabavam dos céus, biblicamente. Uma feiúra maior, mais poderosa e horrorosa que a das gentes, que a das ruas. Uma feiúra que é talvez a soma de todas as pequenas e grandes feiúras aprisionadas na cidade, e que pairam então sobre ela, sobre nós, feito uma aura. Aura escura, cinza, marrom, cheia de fuligem, de pressa, miséria, desamor e solidão. Principalmente solidão, calamidade pública.
Fico fazendo medonhas fantasias futuristas. Lá pelo ano 2ooo, pegue Blade Runner, elimine Harrison Ford e empobreça mais — muito, muito mais —, encha de mendigos morando pelas ruas. Encha com gangs de pivetes armados até os dentes, assaltando e matando, imagine incêndios incontroláveis, edifícios abandonados ocupados por multidões sem casa. Por sobre tudo, espalhe um ar irrespirável, denso de monóxido de carbono, arsênico e sei lá quais outros venenos que li outro dia no jornal que o ar de São Paulo tem. Nem luz nas lâmpadas, nem água nas torneiras. E filas — muito maiores que essas de agora — para conseguir leite, carne, pão, arroz, feijão. Imagine em cada figura cruzada em cada esquina a possibilidade de um assassino. E em cada olhar mais demorado a sombra da morte, não do encontro ou da solidariedade.
Ah, heavy Sampa... Vacilo um pouco em fazer aquela linha clamar-aos-poderes, pedir a ação da prefeitura e dos políticos. Pela minha cabeça passa, intuitiva e espontaneamente, que tudo só pode ficar pior, à medida que o século e a miséria avançarem. E, se vocês elegerem Maluf para governador, juro: mudo de cidade. Acabo de vez este casamento, porque acredito ainda em certas coisas bem limpinhas que quero preservar em mim. E isso eu não vou permitir, querida Sampa: que nenhuma cidade, pessoa ou instituição acabe com essas coisas muito clarinhas e muito limpinhas (talvez por isso meio bobas, mas que se há de fazer? São elas que me mantêm vivo) resistindo aqui dentro de mim.
Antes de ficar feio, violento e sujo feito você anda, peço o desquite. Litigioso, aos berros. Vou pra não voltar: falar mal de você na mesa mais esquecida daquele canto mais escuro e cheio de moscas, no bar mais vagabundo do mais brega dos subúrbios de Asunción, Paraguai.
O Estado de S. Paulo, 20/8/1986 - In Pequenas Epifanias
Marcadores: Pequenas Epifanias
Foi um sábado de setembro último. Era um daqueles dias de ventania descabelada da primavera gaúcha, e Déa Martins me convidou para ver o pôr-do-sol na Ponta do Gasômetro, na beira do Guaíba, onde os Oxuns se encontram. Sentamos na grama, ficamos olhando o céu, o rio, o horizonte verde das ilhas. Provavelmente fumei um cigarro, Déa deve ter falado dos problemas de produção com os Paralamas do Sucesso, lembramos de nossa amiga Stella Miranda ou inventamos mais histórias sobre as irmãs Salete, Bebete e Janete. O que quero dizer é que não houve mesmo nada especialmente prévio. Nenhum aviso, nenhuma suspeita. “Aconteceu sem um sino pra tocar”, como no poema do príncipe Péricles Cavalcanti que Adriana Calcanhoto canta e outro dia me fez chorar de beleza. Ríamos muito, isso é sempre o melhor com Déa: ri-se sem parar.
O vento espalhava rapidamente as nuvens pelo céu. Dissolviam-se em fiapos primeiro brancos, depois rosa, depois vermelho cada vez mais púrpura, até o violeta, enquanto o Sol ia-se transformando aos poucos numa esfera rubra suspensa. De repente observei: certa nuvem não se mexia. Apenas uma. Parada, branca, enorme, eu olhei desconfiado. E tinha uma forma inconfundível, qualquer criança veria. Desviei os olhos, falei sem parar, as outras nuvens continuavam a esfiapar-se. Aquela, não. Então, com muito cuidado eu disse: “Déa olha lá aquela nuvem.” Ela olhou. E disse: “Meu Deus, é um anjo.”
Sem gritaria, ficamos olhando a nuvem-anjo. Ninguém mais olhava para ela embora, apesar de discreta, fosse um escândalo.
Quanto às outras nuvens, continuavam a se esgaçar, virando sem parar elefantes, camelos, colinas, nuas mulheres barrocas, como é próprio da natureza das nuvens. Mas aquela, aquela uma não se transformava em nada diferente dela mesma, apenas aperfeiçoava a própria forma. Quer dizer: ficava cadavez mais anjo. Mais tarde, ao chegar em casa,tentei desenhá-la. Olho o desenho agora: a perna direita levemente dobrada, como num plie de dança clássica, a esquerda alongada para trás, num per. feito relevé o corpo se curvando suave para a frente, com o braço esquerdo erguido para o alto e o direito estendido em direção ao Sol. A palma aberta da mão direita se voltava para baixo, como se abençoasse o Sol que partia para o Oriente. Além de anjo, bailarino. E tinha asas, imensas, duplas, quádruplas, múltiplas, espalhadas em várias cores atrás dos cabelos longos. Estava lá parada no céu, a nuvem-anjo, abençoando o sol, o rio, o céu sobre nossas cabeças, a cidade longe.
Quase não falamos. Ficamos até supernaturais, espiamos outras coisas, remexemos nas formigas, namoramos à toa em volta. Vezenquando um espichava o canto do olho para avisar ao outro: “Continua lá”. E assim foi, até que o Sol sumiu, o azul- marinho veio vindo das bandas dos Moinhos de Vento, apareceu a conjunção Vênus-Júpiter em Escorpião. A nuvem? Continuava lá, imóvel. E sozinha. O vento era tanto que todas as outras tinham desaparecido, sopradas para Tramandaí, Buenos Aires, Montevidéu. Só restava ela, a nuvem-anjo, abençoando os últimos raios dourados. Começou a esfiapar-se também apenas quando levantamos para ir embora. Ao chegarmos ao carro, não havia mais nada além de estrelas no céu imenso da Lua quase cheia em Aquário.
Pensei: “Glória a Deus sobre todas as coisas”. Foi o único pensamento que me veio. Nem era direito pensamento, parecia mais uma oração.
Marcadores: Pequenas Epifanias
Quando vocês estiverem lendo isto aqui, estarei viajando. E estarei bem porque estarei viajando. Vem de longe essa sensação. Não apenas desde a infância, viagens de carro para a fronteira com a Argentina, muitas vezes atolando noite adentro, puxados por carro de boi, ou em trem Maria Fumaça, longuíssima viagem até Porto Alegre, com baldeação em Santa Maria da Boca do Monte. Outro dia, seguindo informações vagas de parentes, remexendo em livros de História, descobri que um de meus antepassados foi Cristóvão Pereira de Abreu, tropeiro solitário que abriu caminho pela primeira vez entre o Rio Grande do Sul e Sorocaba, imagino que talvez lá pelo século 17 ou i8. Deve estar no sangue, portanto, no DNA. Como afirmam que “quem herda aos seus não rouba”, está tudo certo e é assim que é e assim que sou.
Pois adoro viajar. Quem sabe porque o transitório que é a vida, em viagem deixa de ser metáfora e passa a ser real? Para mim, nada mais vivo do que ver o povo e paisagem passar e passar além de uma janela em movimento. Talvez trouxe esta mania dos trens (janela de trem é a melhor que existe), carros e ônibus da infância, porque mesmo em avião hoje em dia, só viajo na janela. Quem já viu de cima Paris, o Rio de Janeiro ou a antiga Berlim do muro sabe que vale a pena.
Topo qualquer negócio por uma viagem. Quando mais jovem, cheguei a fazer mais de uma vez São Paulo-Salvador de ônibus (na altura de Jequié você entende o sentido da palavra exaustão), há três anos naveguei São Luís do Maranhão-Alcântara num barquinho saltitante (na maré baixa, você caminha quilômetros pelo manguezal), e exatamente há um ano atrás, já bastante bombardeado, encarei Paris-Lisboa de ônibus, e logo depois Paris-Oslo de ônibus também. Não por economia, a diferença de avião é mínima — mas por pura paixão pela janela. Sábia paixão. Não fosse isso, jamais teria comprado aquela fita de Nina Hagen numa lanchonete de beira de estrada nos Países Bascos (tristes e feios) à margem dos Pireneus, ou visto a cidadezinha onde nasceu Ingrid Bergman, num vale belíssimo na fronteira da Suécia com a Noruega.
Para suportar tais fadigas, é preciso não só gostar de viajar, mas principalmente de ver. Para um verdadeiro apaixonado pelo ver, não há necessidade sequer de fotografar, vídeo então seria ridículo. Quando não se tem a voracidade de registrar o que se vê, vê-se mais e melhor, sem ânsia de guardar, mostrar ou contar o visto. Vê-se solitária e talvez inutilmente, para dentro, secretamente, pois ninguém poderá provar jamais que viu mesmo. Além do mais a memória filtra e enfeita as coisas. Até hoje não sei se aquela Ciudad Rodrigo que vi pela janela do ônibus, envolta em névoas no alto de uma colina no norte da Espanha, seria mesmo real ou metade efeito de um Lexotan dado por meu amigo Gianni Crotti em Lisboa. Cá entre nós, nem preciso saber.
Mando esta da estrada, ando com o pé que é um leque outra vez. Lembro um velho poema de Manuel Bandeira — «café com pão/ café com pão” — recriando a sonoridade dos trens de antigamente. Pois aqui nesta janela, além dela, passa boi, passa boiada, passa cascata, matagal, vilarejo e tudo mais que compõe a paisagem das coisas viventes, embora passe também cemitério e fome. Coisas belas, coisas feias: o bom é que passam, passam, passam. Deixa passar.
Marcadores: Pequenas Epifanias
Coisas assim, eu penso e aprendo olhando meu jardim sobrevivente. Óbvias, quem sabe. Pra mim, não: é que nunca antes na vida tive um jardim. Que nem sequer, e ainda bem, é só meu. Tem a mão mais antiga de meu pai, e também o “dedo verde” de minha irmã Cláudia, que me ensina toques espertos contra pragas. Por que existem as pragas. Ah, se existem. E bem mais que as sete bíblicas. Fora os agostos, formigas-cortadeiras, caracóis, lesmas, pulgões, ácaros, cochonilhas e falanges do mal de nome ainda mais esquisito que esse último. Armados até os dentes, lutamos. Todo santo dia. Guerra sem tréguas, Bósnia.
Contabilizo perdas: foram-se a angélica, begônias, lágrimas.de.cristo que eu achava que eram brincos-de-princesa (meu pai jura que voltam), uma dália amarelinha adorada pelos erês de Oxum e outras muitas. A hortênsia empacou, o jasmineiro agonizou, mas resistiu bravo. Já as margaridas ficaram ainda mais folhudas, os gerânios cresceram loucamente e as roseiras se revelaram inesperadamente fortes, com menos de um ano de vida e de um metro de altura. A branca Lygia certos dias chegou a render nada menos que seis rosas. Todas abertas ao mesmo tempo, numa apoteose a Oxalá (sugestão para fantasia carnavalesca). O belo fica ainda mais belo, quando também é forte? Pois é.
E teve certa amarílis, que em julho dei por perdida. Semana passada, arrancando baldes de ervas-daninhas de nojentas raízes brancas estranguladoras, a alegria: como uma ponta de espada brotando da terra, miniexcalibur. Ao contrário, lá estava a amarílis nascendo outra vez. Limpei mais, adorei, conversei, bravo, é isso aí, minha filha, não se entrega não. Happy end? Ledo engano: manhã seguinte, a pontinha de espada não passava de um toco roído durante a noite não sei por que abanteÁsma (só mesmo usando essa palavra) das trevas. Continuamos lutando, juntos, a amarílis e eu. Mas quando você pensa que um perigo medonho passou é porque outro ainda pior está vindo? Oh, Deus. E o perigo-passado realmente deixou você mais forte para o perigo-vindouro? E se só ficou o cansaço e se a amariis desistir? E se eu desistir e for cuidar das verbenas, cravinas e amores-perfeitos que acabei de plantar?
Aprendem-se coisas, eu dizia. Vezenquando, assustadoras.
Mas lutamos, eu também dizia. E olho agora para trás e vejo na estante às minhas costas, bem à frente de um livro com reproduções de Egon Schiele, aquela árvore japonesa da fortuna e da felicidade, quando percebi que não superaria o inverno, transplantei-a do jardim para o meu quarto. Era um resto negro calcinado pela geada. E quase invisível, um pontinho verde de vida na base. Fui até lá agora e medi: está Com mais de meio palmo de altura empinadíssima, viva.
Então eu agradeço, eu tenho medo e espanto e terror e ao mesmo tempo maravilhamento e outras coisas com e sem nome, mas agradeço. Aos deuses dos jardins, aos deuses dos homens, aos deuses do tempo e até aos das ervas daninhas que nos fazem lutar feito tigres feridos fundo no peito, sim, eu agradeço.
Marcadores: Pequenas Epifanias
Você está lá. Há aquela luz à sua volta. Não posso descrever seus traços, nem mesmo dizer se é homem ou mulher, vejo apenas um vulto. E sei, mas não sei por que sei, que trata-se de um espaço aberto. Como a plataforma de uma estação. Perto de você há vultos menores, quadrados, retangulares. Parecem malas, bagagens. Sei que são objetos porque não se movem, enquanto você às vezes dá alguns passos, abre ou estende os braços. Imagino então assim: você é alguém que vai viajar para longe, ao amanhecer. Eu poderia até afirmar isso, e ninguém duvidaria, não só porque sou dono e soberano de minha própria imaginação, mas porque é exatamente isso o que imaginaria qualquer um que entrevisse o mesmo que entrevejo. O problema para descrever é esse: apenas entrevejo.
Apenas entrevendo, continuo a entrever.
Não há mais ninguém nessa estação. Ou por algum motivo não entrevejo os outros que talvez estejam também lá, apenas você, num zoom seletivo que exclui os demais. E por se tratar de uma estação, deve haver um trem que não chega, não passa nem parte. O que passa é apenas o tempo. Sei que passa não porque a luz se modifique ou aconteça alguma coisa, mas pelos seus pequenos movimentos, um passo, um braço, que revelam ansiedade e espera. O que se pode fazer numa situação como essa — mesmo para mim, que deveria ser o dono dela, mas me recuso — a não ser esperar? Esperamos, todos. O que está lá, o que conta sobre isso e os que lêem sobre isso. Esperamos então. Horas, dias, meses, anos e anos. Ninguém sabe o quanto. Podemos nos distrair enquanto esperamos, ligar o rádio, olhar pela janela, abrir a geladeira, mastigar alguma coisa, beber mais água neste dia seco, até mesmo ligar a TV para entrar noutras histórias, falsas ou verdadeiras, mas onde aconteçam coisas, em vez de ficarmos parados nesta onde nada acontece desde as primeiras palavras. E voltar a ela como quem volta a chamar um número de telefone eternamente ocupado, só para constatar que continua ocupado e apenas para ter a sensação de não desistir. Desistir não é nobre. E arduamente, não desistimos.
Então acontece. É tão surpreendente que aconteça que pouco importa seja a única coisa que poderia acontecer. O trem chega e pára. Na plataforma você começa a tentar colocar as bagagens dentro dele. Mas elas não saem do chão. O trem apita, o trem vai partir. Você percebe que não pode levar nada além de você mesmo. E entra no trem. Mas isso que você tenta fazer entrar no trem, e que é o seu corpo, também não pode entrar.
Então você o deixa, deixa o vulto que entrevejo jogado na estação junto com as bagagens. O trem então parte levando de você algo que nem você nem eu sequer conseguimos entrever. Outra coisa, talvez nada, porque nada podemos garantir ter visto partir dentro do trem.
Você não grita nem acorda. Não há terror, mesmo sendo aterrorizante: é assim que é. E pior ainda, não se trata de um sonho. Começa a amanhecer. Ou a anoitecer. Ninguém sabe quando passa o trem. Nem para onde vai. E não se leva nada. Isso é tudo que sabemos.
Marcadores: Pequenas Epifanias
Veio então um filme mexicano extraordinário, numa exibição especial qualquer, com certa atriz magnífica (não lembro o título, talvez Frida, algum cinéfilo me diga por favor). Saí do cinema aos prantos. E devorei, numa noite, uma biografia escrita por Rauda Jamis. Aterrorizado, fascinado. Ó Deus, por que a beleza pode ser tão medonha? Ou ao contrário, por que o medonho pode ser tão belo? Vieram então os quadros. As cores, as corças feridas com cabeça humana, corpos esquartejados, colunas vertebrais metálicas, as pernas amputadas, pregos na carne: a Dor. Maiúscula, maior que tudo. E sempre o rosto. Em todos os quadros, o rosto indescritível.
Em Paris, há três anos, caminhando por uma mostra de arte mexicana no Beaubourg, de repente tive uma espécie de vertigem. Que, estranho, não vinha de dentro de mim, mas emanava de um ponto na parede. Olhei: era uma explosão de cores primárias, brilhantes, exageradas. Era uma das dezenas de auto-retratos de Frida Kahlo. Amarelo, vermelho, verde, lilás. Tive febre, depois. E comprei um livro de reproduções, as livrarias de SaintGermain-des-Prés estavam cheias deles. E as de Amsterdam, as de Berlim, as de Milão e Londres e Oslo também, fui descobrindo. A imagem martirizada de Frida Kahlo estava por toda a parte, como um Cristo-mulher contemporâneo. Um Cristo artista, bissexual, bêbado, drogado, adúltero, arrancando sua transcendência do próprio sangue, com as próprias unhas. E eu cruzava a Europa de ponta a ponta ouvindo Adriana Calcanhoto cantar no walkman: “Eu ando pelo mundo/ Prestando atenção em cores/ Cores que eu não alcanço/ Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores”.
Agora leio O diário de Frida Kahlo, um livro lindíssimo da Livraria José Olympio Editora, publicado no mundo todo este ano a partir de cadernos deixados no Banco do México. Os diários, escritos com tinta colorida, entremeados de desenhos perturbadores, com símbolos esotéricos hindus, celtas, pré-colombianos, cobrem os anos de 1944-1934. Sempre deitada, coberta de panos e mantas de seda índios, cheia de jóias extravagantes, ela olhava-se ao espelho e pintava e escrevia sem parar o que conhecia melhor: a própria dor. A coluna bífida, poliomielite, uma perna esmagada e amputada, várias fraturas na coluna, 33 cirurgias durante uma vida de apenas 47 anos.
Sobre aquele rosto, diz Carlos Fuentes, que a viu apenas uma vez no Palácio das Belas-Artes da Cidade do México: “O corpo é o templo da alma. O rosto é o templo do corpo. E quando o corpo decai, a alma não tem outro santuário a não ser o rosto”. E Frida, que era poeta, diz assim, cito em espanhol, que é mais belo: “Desde que me escribiste, en aquel día tán claro y lejano, he querido explicarte que no puedo irme de los días, ni regresar a tiempo ai otro tiempo. No te he olvidado — las noches son largas y dificiles”. E diz mais, escute, é importante: “Lo que más importa es la no-ilusión. La maílana nace”.
Passo noites longas, difíceis, o sono raro, entre fragmentos febris de suores e pesadelos, assombrado por Frida Kahlo. Choro muito. Não consigo terminar o livro, não consigo parar, não consigo ir em frente. Seguro sua mão imaginária no escuro do quarto e sei que seja qual for a dimensão da minha própria dor, não será jamais maior que a dela. Por isso mesmo, eu o suportarei.
Como ela, em sua homenagem, Frida.
Marcadores: Pequenas Epifanias
Esse medo não tenho, tô muito bombardeado pra interessar a ETs, mas também rezo e penso no planeta com imensa pena. Só não choro porque o Ódio é maior que a pena. Rolando na cama, luzinhas vermelhas do vídeo, computador e baterias brilhando no escuro, teço medonhas fantasias no meio da noite. Como estas: Amanhã de manhã vou sair pelas ruas desgrenhado como se ainda tivesse cabelos, em robe de chambre e barba por fazer e chinelos em frangalhos aos berros de chega! chega! e vou até Triunfo, nem que seja a pé, soltar uma bomba na câmara de vereadores e cuspir na cara daquele tal Deusinho e vou gritar aos quatro ventos como é que foi mesmo aquela história do seqüestro do pai de Romário? e o massacre dos sem-terra em Rondônia? por que ninguém fala mais nisso? e quando estiver bem doido eu vou entrar clandestino num avião da Air France para ir até Paris dar um tiro bem no meio dos cornos de Jacques Chirac pois cá entre nós alguém tem que fazer esse servicinho mas depois vou ficar comovido e vai me baixar uma Teresa de Calcutá de frente e partirei para a Bósnia chorando alto como chorei naquele cinema em Saint-Germain-des-Prés ano passado vendo Bosna! documentário que Bernard-Henry Lévi fez lá naquele inferno e tudo isso sempre gritando chega! chega! chega! tomado de cólera divina e asco e. Corta.
Nesse trecho da viagem, se não dormi, o cinza das madrugadas já começou a ficar cada vez mais claro através das frestas das persianas. E é possível que eu ceda à tentação de tomar mesmo um Lexotan 3 mg com 40 gotas de codeína, coisa que faço rarissimamente, vez por mês, modestíssima orgia barbitúrico-estupefaciente. Mas é mais provável que levante bem na hora do lobo, cinco, cinco e meia da matina, para abrir as janelas do quarto lembrando sempre daquela peça de Antônio Bivar, Abre a janela e deixa entrar o ar puro e o sol da manhã, em que Maria della Costa estuprava uma estátua grega. Certamente irei ao quarto dos fundos que virou biblioteca, também para escancarar janelas e ver o sol nascer atrás dos telhados, enquanto cheiro a malva que Nídia Guimarães me deu em Canela. Pego ao acaso Hoelderlin, Anne Sexton, Mário Quintana ou T. S. Eliot, poetas assim, dessa estirpe, leio meia dúzia de versos, depois desço apaziguado as escadas até a cozinha. E passo café e faço pranaiamas nirvânicos voltado para o Oriente e observo como anda o pé de araçá plantado há um mês e cuido também o alecrim, o poejo, a hortelã, o boldo, a arruda, o manjericão, o capim-cidró, e só depois suspiro cheio de amor por todas as coisas belas que o Criador fez para o deleite nosso. Beatificado.
Passou, penso, o Puro Ódio passou.
Aí pego os jornais do dia embaixo da porta. No primeiro cigarro, descubro que não, não passou. A moça bonita de Garibaldi jogada no rio, terremotos, vendavais pelo Caribe (ai, Jacques Chirac!), balas perdidas, evangélicos chutando santas, ai clips quentintarantinescos do horror nosso de cada dia. Nove da manhã meus pais já levantaram, chegou a diarista. Tomar banho. Lento, limpo, longo. Porque assim é, todo dia, e a gente diz sim, alguns não admitem. Esses me interessam. Welcome, companheiro desta ala Sul da enfermaria Shikasta!
Marcadores: Pequenas Epifanias
Em Garopaba o céu azul é muito forte. Não troveja quando o Cristo é colocado na cruz.
Emanuel Medeiros Vieira, "Garopaba meu amor”
Foram os primeiros a chegar. Durante a noite, o vento sacudindo a lona da barraca, podiam ouvir os gritos dos outros, as estacas de metal violando a terra. O chão amanheceu juncado de latas de cerveja copos de plástico papéis amassados pontas de cigarro seringas mnchadas de sangue latas de conserva ampolas vazias vidros de óleo de bronzear bagas bolsas de couro fotonovelas tamancos ortopédicos. Pela manhã sentaram sobre a rocha mais alta, cruzaram as pernas, respiraram sete vezes, profundamente, e pediram nada para o mar batendo na areia.
— Conta.
— Não sei.
(Tapa no ouvido direito.)
— Conta.
— Não sei.
(Tapa no ouvido esquerdo.)
— Conta.
— Não sei.
(Soco no estômago.)
Os homens estavam parados no topo da colina. O mais baixo tirou do bolso alguma coisa metálica, o sol arrancou um reflexo cego.
Quando começaram a descer, percebeu que era um revólver. Soube então que procuravam por ele. E não se moveu. Mais tarde não entenderia se masoquismo ou lentidão de reflexos, ou ainda uma obscura crença no inevitável das coisas, conjunções astrais, fatalidade. Por enquanto não.
Estava ali no meio das barracas desarmadas e os homens vinham descendo a colina em direção a ele. Havia o mar atrás, algumas rochas. E baías e matas cheias de gatos selvagens e clareiras com raízes arrancando da terra escuras substâncias para transmutá-las através do tronco em flores vermelhas, escancaradas feito feridas sangrentas na extremidade dos glhos.
Talvez não houvesse mais tarde agora, pensou ali parado enquanto os homens continuavam descendo a colina em direção a ele e o silêncio dos outros à sua volta gritava que estava perdido.
O vento sacode tanto a barraca que poderia arrancá-la do chão, soprá-la sobre a baía e nos levar pelos ares além das ruínas de Atlântida, continente perdido de Mu, ilha da Madeira, costas da África, ultrapassar o Marrocos, Tunísia, Pérsia, Turquia... (Mar, o mundo é tão vasto, você consegue imaginar o Afeganistão? de manhã cedo acordar epensar olhando o
teto: estas tábuas deste teto deste quarto foram retiradas duma árvore plantada aqui, nunca pensei que um dia dormiria embaixo dos pedaços de uma árvore afeganistanesa. Até o Nepal, Mar, o vento nos levaria para depositar-nos na praça mais central de Katmandu.)
— Se eu seguir em frente, seu veado, você pode descansar. Se eu dobrar à direita, seu filho da puta, você pode começar a rezar. Pra onde você acha que eu vou, seu maconheiro de merda?
— Pra onde o senhor quiser. Eu não sei. Não me importa mais.
Em volta há ruídos de pandeiros com fitas coloridas, assobios de flautas, violas e tambores. O vinho corre, os cigarros passam de mão em mão. Nos olhamos dentro dos olhos esverdeados de mar, nos achamos ciganos, suspiramos fundo e damos graças por este ano que se vai e nos encontra vivos e livres e belos e ainda (não sabemos como) fora das grades
de um presídio ou de um hospício. Por quanto tempo? Não há mais ruídos de pandeiros, nem fitas coloridas esvoaçam ao vento, nem sopros de flautas se perdem em direção à costa invisível da África. Não corre mais o vinho por nossas bocas secas, nossos dedos de unhas roídas até a carne seguram o medo enquanto os homens revistam as barracas. Nos misturamos confusos, sem nos olhar nos olhos. Evitamos nos encarar — por que sentimos vergonha ou piedade ou uma compreensão sangrenta do que somos e do que tudo é? —, mas, quando os olhos de um esbarram nos olhos do outro, são de criança assustada esses olhos. Cão batido, rabo entre as pernas.
Mastigamos em silêncio as chicotadas sobre nossas costas. E os corações de vidro pintado estalam ainda mais alto que as ondas quebrando contra as pedras.
— Conta.
— Não sei.
(Bofetada na face esquerda.)
— Conta.
— Não sei.
(Bofetada na face direita.)
— Conta.
— Não sei. (Pontapé nas costas.)
Mar veio correndo pelo calçamento antigo na frente da igreja, os braços estendidos em direção a ele. Os morros, os barracos dos pescadores, a casa onde dormiu dom Pedro, o calçamento na frente da igreja. Recusava-se a pisar nos paralelepípedos, os pés nus acomodavam-se melhor ao redondo quente das pedras antigas, absorvendo vibrações perdidas, rodas de carruagem, barra rendada das saias de sinhás-moças, solas cascudas dos
pés dos escravos. Mar veio correndo sobre as carruagens, as sinhás-moças, os pés cascudos e pretos. Nos chocaremos agora, no próximo segundo, nossos rostos afundados nos ombros um do outro não dirão nada, e não será preciso: neste próximo abraço deste próximo segundo para onde corro também, os braços abertos, nestas pedras de um tempo morto e mais limpo.
Aqui, agora. Quando os olhos de um localizaram os olhos (metal azul) do outro, a mão do homem fechou-se sobre seu ombro — e tudo estava perdido outra vez.
Pouca-vergonha, o dente de ouro e o cabo do revólver cintilando à luz do sol, tenho pena de você. Pouca-vergonha é fome, é doença, é miséria, é a sujeira deste lugar, pouca-vergonha é falta de liberdade e a estupidez de vocês. Pena tenho eu de você, que precisa se sujeitar a esse emprego imundo: eu sou um ser humano decente e você é um verme. Revoltadinha a bicha. Veja como se defende bem. Isso, esconde o saco com cuidado. Se você se descuidar, boneca, faço uma omelete das suas bolas. Se me entregar direitinho o serviço, você está livre agora mesmo. Entregar o quê? Entregar quem? Os nomes, quero os nomes. Confessa. O anel pesado marca a testa, como um sinete. Cabelos compridos emaranhados entre as
mãos dos homens. A cadeira quase quebra com a bofetada. Quem sabe uns choquezinhos pra avivar a memória?
Just as every cop is a criminal And all tbe sinners
saints As heads are tails just call me Lúcifer Cause I'm in need of
some restraint So if you meet me have some courtesy Have some
simpathy and some taste Use all your well-learned politesse Or I’ll lay
your soul to waste
Mar, ainda não te falei de ontem. Talvez não haja mais tempo.
Não sei se sairei vivo. Ontem lavamos na fonte os cabelos um do outro.
Depositamos a vela acesa sobre o muro. Pedir o quê, agora, Mar? Se para sempre teremos medo. Da dor física, tapa na cara, fio no nervo exposto do dente. Meu corpo vai ficar marcado pelo roxo das pancadas, não pelo roxo dos teus dentes em minha carne.
— Repete comigo: eu sou um veado imundo.
— Não.
(Tapa no ouvido direito.)
— Repete comigo: eu sou um maconheiro sujo.
— Não.
(Tapa no ouvido esquerdo.)
— Repete comigo: eu sou um filho da puta.
— Não.
(Soco no estômago.)
Luiz delira com malária no quarto. Minerva decepa com gestosprecisos a cabeça e a cauda dos peixes. Os gatos rondam. Jair está no mar pescando. Ou na putaria, ela diz. O sono dentro dos barcos, a bóia dura machucando a anca {não te tocar, não pedir um abraço, não pedir ajuda, não dizer que estou ferido, que quase morri, não dizer nada, fechar os olhos,
ouvir o barulho do mar, fingindo dormir, que tudo está bem, os hematomas no plexo solar, o coração rasgado, tudo bem). Os montes verdes do Siriú do outro lado da baía. Estar outra vez tão perto das pessoas que não ser si-mesmo e sim o ser dos outros, sal do mar roendo as pedras, espinhos cravados na carne macia do tornozelo. Curvo-me para o punhado de algas
verdes na palma de tua mão. E respiro.
Paredes caiadas de um branco sujo. O chão de cimento com restos de vômito, merda e mijo. O homem caminha para o fio com a bandeira do Brasil dependurada. Não quero entender. Isso deveria ser apenas uma metáfora, não essa bandeira real, verde-amarela que o homem joga para um canto ao mesmo tempo que seus dedos desencapam com cuidado o fio.
Depois caminha suavemente para mim, olhos postos nos meus, um sorriso doce no canto da boca de dentes podres. Da parede, um general me olha imperturbável.
Sleeping-bags, tênis e jeans estendidos sobre a grama. Os livros: Huxley, Graciliano, Castañeda, Artaud, Rubem Fonseca, Galeano, Lucienne Samôr. O morro de bananeiras e samambaias gigantescas. À noite os gatos selvagens saem do mato e vêm procurar restos de peixe na praia. Tua mão roçou de leve meu ombro quando os microfones anunciaram Marly, a mulher dos cabelos de aço e sua demonstração de força capilar. A Roda da Fortuna gira muito depressa: quando estamos em cima os demônios se soltam e afiam suas garras para nos esperar embaixo. A platéia aplaude e espera mais uma acrobacia. (Gilda arremessa no ar a outra barra presa pelo arame.) Os dentes arreganhados do horror depois de cada alegria. Colhemos cogumelos pelos montes e sabemos que o mundo não vale a nossa lucidez.
Depois da grande guerra nuclear, um vento soprando as cinzas radioativas sobre os escombros de Sodoma e Gomorra e a voz de Mick Jagger esvoaçando pelos desertos.
Pleased to meet you
Hope you guess my name
Is the nature of my game (2)
But what’s puzzlin' you
Is the nature of my game
Clama por Deus, pelo demônio. As luzes do mar são barcos pescando, não discos voadores. Com Deus me deito com Deus me levanto com a graça de Deus e do Espírito Santo se a morte me perseguir os anjos hão de me proteger, amém. Invoca seus mortos. Os que o câncer levou, os que os ferros retorcidos dos automóveis dilaceraram, os que as lâminas
cortaram, os que o excesso de barbitúricos adormeceu para sempre, os que cerraram com força nós em torno de suas gargantas em banheiros fechados dos boqueirões & praças de Munique. E vai entendendo por que os ladrões roubam e por que os assassinos matam e por que alguns empunham armas e mais além vai entendendo também as bombas e também o caos a guerra a loucura e a morte.
Cruza a pequena ponte de madeira até a praia. A igreja. A casa onde dormira dom Pedro. A colina. Não há mais ninguém no topo da colina. O vento espalha o lixo deixado pelas barracas. Tenta respirar. As costelas doem. Meu pai, precisava te dizer tanto. E não direi nada. Melhor que morras acreditando na justiça e na lei suja dos homens. Mar adentro: dias
mais tarde encontrariam suas órbitas de olhos comidos pelos peixes transbordando algas e corais. (Sentimos coisas incontroláveis, Mar: amor narcótico, amor veneno matando para sempre células nervosas, amor vizinho da loucura, maldito amor de mis entrañas: viva la muerte.) Os olhos secos. Não encontraria Mar. Não choraria. Vai entendendo cada vez mais.
Chega bem perto agora. É um ser de espuma nos cantos da boca. Olhos em brasa. Quase toca os cascos rachados. Eu estou satisfeito por encontrar você, sussurra. Enterra os dedos na areia. As unhas cheias de ódio.
Marcadores: Pedras de Calcuta
Não, não tem a menor importância, sacode a cabeça e ajeita os gerânios no vaso com movimentos rápidos, longe de mim essa idéia, apenas você sabe como Ruth é nervosa, e depois de tudo o que passou realmente não é de admirar. Apanha algumas pétalas caídas sobre a madeira e tritura-as entre os dedos sem parar de falar, espera qualquer coisa como um sumo grosso entre as unhas, esperma quente de homem: as pétalas partem-se secas em poeira, gotejam lentamente sobre o assoalho encerado na manhã anterior. Manhã ainda, os cristais retinem sob os raios de sol, mas você sabe, a ideia foi dela, Ruth casar-se com esse armênio gerânio Ascânio é nome de motorista de caminhão, se eu usasse longas saias varreria o chão com a espessa barra bordada, tão original sempre, Ruth, disse-lhe uma vez
que parecia uma égua no cio, talvez estivesse enganada, talvez tenha estado sempre enganada, mas aquela pele morena cheirando a sal, os olhos meio verdes de tanta luz, e o cheiro, não sei se você chegou alguma vez a reparar no cheiro dela. Era verdadeiramente obsceno, Roberto dizia sempre, tão sensível, Roberto, às vezes chegava a refugiar-se no banheiro quando Ruth assava feito um bazar oriental, e vomitava, chegava a vomitar, não que tivesse nojo; não sei se você alguma vez chegou a reparar nisso, também não era nojo, Roberto tinha uma incapacidade total para adaptar-se a coisas assim animais, como Ruth, portanto não me surpreendeu o rompimento, a fuga com Ariel, era realmente inevitável, é verdade que sofri um pouco, sobretudo depois que a surpreendi com o armênio no sofá da sala, e isso conto apenas para você. Fico tão cansada às vezes, e digo para mim mesma que está errado, que não é assim, que não é este o tempo, que não é este o lugar, que não é esta a vida. E fumo, então, fico horas fumando sem pensar absolutamente nada: disseram-me uma vez que os discos voadores costumam aparecer ao crepúsculo, mas nunca consegui ver um, me pergunto se eles só se mostram para quem de certa forma está preparado, os tais escolhidos, e confesso que fico um pouco ofendida ao supor que não seja uma das escolhidas, você me entende? Claro, é preciso julgar a si próprio com o máximo de rigidez, mas não sei se você concorda, as coisas por natureza já são tão duras para mim que não me acho no direito de endurecê-las ainda mais. Ruth havia desabotoado as calças do armênio e
estava debruçada sobre ele, não me peça detalhes, naturalmente não chego aos extremos de delicadeza de Roberto, se você insistisse em saber eu não vomitaria, mas me custa contar, apenas isso, me dilacera, é uma questão de respeito próprio, você não acha? Mamãe também ficava furiosa na hora do jantar, não dizia nada, claro, com a educação que teve mamãe jamais-jamais desceria a ponto de fazer qualquer comentário agressivo sobre aquela
situação profundamente desagradável, mas retirava-se para seu quarto e Roberto e eu íamos colocar lenços embebidos em água-de-colônia sobre suas têmporas enquanto o armênio comia na mesa da sala, a camisa sempre esabotoada, as gotas de suor pingando dos pêlos sobre o arroz, a salada, a carne, como um sal, um sol. Pobre mamãe: sentava-se na sua poltrona favorita e cruzava as pernas muito digna, uma vez a surpreendi esfregando as pernas até deitar a cabeça no espaldar da poltrona, os olhos fechados, suspirando. Ficara muito solitária depois da morte de papai, Roberto e eu compreendíamos perfeitamente essas coisas, embora não falássemos sobre elas, e nada fazíamos, apenas Ruth ironizava, não ironizava propriamente, você a conhece bem, mas fazia aquelas caras, aquelas bocas, dizia aquelas frasezinhas, depois saía a correr de conversível com o armênio. Afasta os cabelos da testa ampla com ambas as mãos e fixa os olhos na porta, vazios, medrosos, uma princesa no deserto, exilada de sua tribo, depois traça riscos nervosos nos braços da poltrona, descabelada, uma mulher das cavernas: escuta ávida o rumor da máquina decepando a grama além das janelas. Foi Roberto, coitado, quem precisou tomar conta de todos os negócios depois da morte de papai. Ruth? Não. Antes do armênio houve o grego Dmitri,
entregador de gelo, antes do grego um colega de escola, Helmut, filho de alemães, eu também não entendo bem, sempre essa mania de estrangeiros, deve ser uma forma de escapismo, Roberto ficava ofendido com isso e a chamava de judia, chamava muitas vezes de judia, até que a palavra perdesse o sentido e nem mais ele se sentisse ofendendo-a nem mais ela se sentisse ofendida, mesmo porque ela não era judia, nenhum de nós, você sabe, mamãe sempre teve uma preocupação incrível com isso, chegou a pagar um advogado para rever toda a nossa árvore genealógica. Não dou importância a essas coisas, mas havia brões, uma dama de companhia de Isabel, a Redentora, Ruth dizia também que uma escrava nagô, qualquer coisa assim, ela era meio negra, meio puta, com aquele cheiro, aquela mania
de se esfregar em todos os homens, tão deprimente, até em Ariel, coitadinho, tão indefeso com aquele olho desbotado, o melhor amigo de Roberto, foi ele quem teceu aquele xale azul-marinho que mamãe gostava tanto, um talento, um doce, Ariel, o armênio, um dia, tenho até vergonha de contar, você me perdoe, coisas assim tão íntimas, mas você é praticamente da família, não tem importância, acho, meu Deus. Mostra, o gesto largo, e entre dois suspiros, a mão no seio, alguma coisa se passou comigo desde aquela vez, não fui mais capaz de acreditar nos homens, uma vez provei da boca de Ruth, você talvez não creia, mas tinha mesmo gosto de sal, passei devagar a língua no meio de seus beiços, ela acordou e ficou me olhando, só depois de muito tempo é que fui perceber que ela estava ali acordada, me olhando, e eu não senti nada, veja a complexidade da alma humana, como dizia Roberto, nesse tempo eu andava assim observando as minhas sensações, Roberto tinha me aconselhado, então eu não sentia nada, podia fazer as coisas mais audaciosas sem sentir nada, bastava estar atenta como estes gerânios, você acha que um gerânio sente alguma coisa? quero dizer, um gerânio está sempre tão ocupado em ser um gerânio e deve ter tanta certeza de ser um gerânio que não lhe sobra tempo para nenhuma outra dúvida, era
horrível, eu sentia o cheiro do armênio o dia todo, pela casa inteira, um cheiro grosso de macho, um cheiro quase de animal, na minha pele, no meu quarto, nos meus lençóis, nos meus cabelos, na minha alma, na boca de Ruth. Roberto trazia sempre incenso junto com os cigarros, havia uns de sândalo, outros de benjoim, almíscar, alfazema, rosamusgosadaíndia, mas nada atenuava o cheiro do armênio na cozinha, nas panelas, no banheiro, nas paredes, nas mãos de Ariel, nos seios de Ruth: Ruth despia-se na minha frente e mostrava as manchas roxas dos dentes e das unhas do armênio, mamãe encontrava os pêlos do peito do armênio boiando na sopa, aquele olho verdeazulado, em todos os cantos, na fumaça dos cigarros: Roberto e eu ficávamos de olhos inchados e não conseguíamos mais rir nem inventar historinhas como antes: em todas as visões estavam Ruth e o armênio, a nudez morena, suarenta, de Ruth, e o armênio entre os sacos de arroz e açúcar no armazém de papai. Mas longe, muito longe de mim essa idéia de matá-los, embora já não tivéssemos paz dentro desta casa e mesmo no campo, para onde fugíamos nos fins de semana, Roberto e Ariel rolavam no meio da grama enquanto eu fumava olhando para os dois e sabendo do
terrível que era Roberto procurar com náusea o corpo áspero do armênio no corpo branco de Ariel que procurava o cheiro do armênio no cheiro de pinho do peito de Roberto. Mamãe não resistiu muito tempo, ai, fico esperando a volta de umas tardes sem pirâmides, sem triângulos, sem cabalas, de umas noites sem signos nem pentagramas, de uns crepúsculos sem discos voadores, e vou procurando pelas manhãs de cortinas ao vento apenas coisas como cortinas ao vento e o dia caminhando ao encontro de si mesmo no outro lado do mundo, mas já não encontro paz desde que mamãe morreu e após o enterro Roberto e Ariel fugiram para o Oriente, deixando-me sozinha com os dois, tenho medo do ranger de meus dentes e desta solidão nas entranhas, não sei por que lhe digo tudo isto, por favor, fique mais um pouco, desdobra-se agora e parece quase verdadeira embalando seus fantasmas parada no meio da sala, não sei sequer seu nome, e pouco importa, fico à espera de que abram a porta do quarto: no sétimo dia de siroco a casa estará cheia de gerânios e dessas flores morenas e esguias como beduínos, com cheiro de deserto, deixarei preparadas as facas, os sacrários, Ariel mandou-me amuletos do Nepal, tomaremos chá, embalarei
Ruth nos meus braços e depois terei muito cuidado ao depositá-la entre os sacos de açúcar para libertar a mão direita, estendê-la em direção ao armênio e tocá-lo tão fundo que por um instante ele se dissolva e fique oscilando ao vento exatamente como estes gerânios — você está vendo?
Marcadores: Pedras de Calcuta
precisava controlar a vontade de dizer para qualquer alguém, olha, venci mais um. Quando a irritação não era muita, conseguia olhar para os lados pensando que dentro das corridas, dos gritos e dos cheiros havia como olhos que não precisavam se olhar para que uma silenciosa voz coletiva repetisse, olha, venci mais um; e, quando além da não-irritação havia também um pouco de bom humor, conseguia até mesmo sorrir e falar qualquer coisa sobre o tempo com alguém da fila. Mas havia os dias molhados, quando as pessoas com capas e guarda-chuvas andavam por baixo das marquises espetando os olhos ou deixando ao desabrigo os sem capa nem guarda-chuva, como ele; mas havia aquelas pessoas que nos ônibus superlotados não sentavam imediatamente no lugar deixado vago, até que duas ou três paradas depois, tão discretamente quanto podia, ignorando grávidas, velhinhos e aleijados, ele se atrevesse a conquistar o banco (lavava muitas vezes as mãos depois de chegar em casa, canos viscosos — estafilococos, miasmas, meningites), embora soubesse que tudo ou nada disso tinha importância; mas havia as latas transbordantes de lixo e os cães sarnentos e os pivetes pedindo um-cruzeirinho-pra-minha-mãe-entrevada, mãos crispadas nas bolsas. O dia se reduzindo à sua exiguidade de ônibus tomados e máquinas batendo telefones cafezinhos pequenas paranóias visitas demoradas ao banheiro para que o tempo passasse mais depressa e o deixasse livre para. Para subir rápido a rua da Praia, atravessar a Borges, descer a galeria Chaves e plantar-se ali, entre o cheiro dos pastéis, gasolina, e o ardido-suor-dos-trabalhadores-do-Brasil, tentava inutilmente dar uma outra orientação ao cansaço despolitizado e à dor seca nas costas, alguém compreenderia? E para que tudo não doesse demais quando não era capaz de, apenas esperando, evitar o insuportável, fazia a si próprio perguntas como: se a vida é um circo, serei eu o palhaço? Às vezes também o domador que coloca a cabeça dentro da boca escancarada do leão, às vezes o equilibrista do arame suspenso no abismo, a bailarina sobre o pônei, e também o engolidor de espadas, e mais a mulher serrada ao meio — e ainda, o quê? Inesperadamente, ela chegou por trás e afundou os dedos no seu cabelo, coçando-lhe a cabeça como fazia antigamente. Ele voltou-se e afundou os dedos no seu cabelo, coçando-lhe a cabeça como fazia antigamente. Depois os dois se abraçaram e se deram beijos nas duas faces e como duas pessoas que não se vêem há muito tempo atropelaram perguntas como: por onde é que tu anda, criatura, ou exclamações como: mas tu não mudou nada, ou reticências tão demoradas que as filas chegavam a deter-se um pouco, as pessoas reclamando e uma hesitação entre mergulhar nas gentes entre um beijo e um me telefona qualquer dia e
ficar ali e convidar para qualquer coisa, mas um medo que doesse remexer naquilo, e tão mais fácil simplesmente escapar que chegou a dar dois passos. Ou três. Mas de repente estavam sentados no Chalé com dois chopes um em frente ao outro, e ela dizia que as nuvens pareciam o saiote de uma bailarina de Degas e tinha um céu laranja atrás dos edifícios e uma estrela muito brilhante que ela apontou dizendo que era Vênus e riu quando
ele mexeu com ela e disse que podia nascer uma verruga na ponta de seu dedo, e teriam ficado nesse clima por mais tempo se de repente ela não perguntasse se ele não se lembrava de um determinado bar e ele disse que sim e ela risse continuando, sabe que a garçonete nos conhecia tanto que outro dia me perguntou ué, tu não ia casar com aquele moço, e ela dissera que não, que eram apenas amigos. Então ele pediu outro chope e com um ar dramático disse que só se casaria com ela se ela tivesse um bom dote, duas vacas leiteiras, por exemplo, mas ela respondeu rindo que vacas leiteiras não tinha não, mas se servia uma coleção completa de Gênios da Pintura, e ele perguntou se tinha Bosch e Klimt, e ela disse claro, dois fascículos inteiros, e ele disse ah, vou considerar a sua proposta, e ela disse mas não pense que vou me jogar nessa empreitada (ele achou engraçado, mas foi assim mesmo
que ela disse, acentuando tanto a palavra que ele percebeu que o jeito dela falar não tinha mudado nada, sempre ironizando um pouco o próprio vocabulário e carregando de intenções o que a ela mesma parecia meio ridículo), assim no mais, ela continuou, só caso contigo se tu também tiver um dote ponderável. Ele acendeu um cigarro e ela outro e ele viu que ela havia mudado para Continental com filtro e que antigamente era Minister, Minister, gola role preta, olheiras e festivais de filmes nouvelle vague no Rex ou no Ópera, e ela odiava Godard, só gostava do trecho onde Pierrot le fou sentava numa pedra e Ana Karina vinha caminhando pela praia gritando que se há de fazer, não há nada a fazer, rien à faire e assim por diante, até chegar em primeiro plano, e então ele lembrou e disse que tinha as obras completas de Sartre, Simone e Camus, e ela fez hmmmmmm, é uma boa oferta, e se ela lembrava que tinha sido posta para fora da aula de introdução à metafísica depois de dizer que estava mergulhada na fissura ôntica, o nome científico da fossa, e ela lembrava sim. E logo em seguida ele quis falar duma passeata em que tinha apanhado dentro da catedral, e já fazia tanto tempo, todos gritando o-povo-organizado-derruba-a-ditadura-mais-pão-menos-canhão, braços dados, mas não chegou a dizer nada porque ela estava contando que fizera vinte e oito anos semana passada e que tinha ficado completamente louca o dia inteiro, ainda por cima um domingo, e que sentira vontade de escrever um conto que começasse assim, aos vinte e oito anos ela enlouqueceu completamente e de súbito abriu a
janela do quarto e pôs-se a dançar nua sobre o telhado gritando muito alto que precisava de espaço, e pediu também um segundo chope enquanto ele achava que era-um-bom-começo-se-ela-soubesse-desenvolver-bem-a-trama, mas ela apagou o cigarro e resmungou que trama, cara, eu não sei desenvolver bosta nenhuma, tenho preguiça de imaginar o que vem depois, uma clínica, por exemplo, e se ele achava possível que um conto fosse só aquilo, uma frase, e ele quis dizer ué, por que não, Mário de Andrade, por exemplo, mas começou a soprar um vento frio e ela falou que tinha também um casaco de peles imensurável comprado na Suécia e um vidrinho de patchuli pela metade, ele disse ah, então era esse o cheiro, e ela explicou que era um pouco audacioso usar porque quando boto um pouquinho os magrinhos todos na rua vêm perguntar como é que é, tá na mão, magra, tá nas ideia, bicho, eu digo, e riram um pouco até ele dizer que tinha também um pôster de Marilyn Monroe tão amarelado mas tão bonito que um amigo o fizera jurar que deixaria para ele no testamento, então não podia dispor completamente, e sem saber por que lembrou duma charge e falou, mas não se usa mais dizer assim, é antediluviano, diz cartum, nego, senão
tu passa por desatualizado, e ele riu e continuou, um cartum, então, onde tinha um palhaço ajoelhado no confessionário aos prantos enquanto o padre atrás da parede de madeira furadinha morria de rir. Foi então que ela perguntou se ele ainda continuava com a análise e ele fez que sim com a cabeça, quase dois anos, mas falando em palhaço lembrou a história do circo e quis saber o que ela achava, ela disse que se sentia mais como um peludo, e ele achou engraçadíssimo porque fazia uns dez anos que não escutava aquela palavra, chegou a ouvir bem nítido na memória um coro de vozes gritando tá-na-hora-peludo, lonas furadas, daqueles que montam e desmontam o barracão e carregam as garrafas de madeira dos malabaristas e as jaulas das feras e apanham no ar a sombrinha que a bailarina do pônei
joga longe antes de equilibrar-se num pé só, e ele pediu outro chope e foi ao banheiro mijar e quando voltou ela estava com um gato no colo sentada numa mesa de dentro, porque lá fora tinha esfriado muito e começava a chover, e ele pensou que se fosse cinema agora poderia haver um flash-back que mostrasse os dois na chuva recitando Clarice Lispector, para te morder e para soprar a fim de que eu não te doa demais, meu amor, já que tenho
que te doer, meu Deus, tu decorou até hoje, e o teu cabelo tá caindo, ela falou quando ele se abaixou para apanhar o maço de cigarros e acendeu um, já tem como uma tonsura, e ele suspirou sem dizer nada até ela emendar que ficava até legal, dava um ar meio místico, mas ele cortou talvez um pouco bruscamente dizendo pode ser, mas atualmente ando mais pra Freud do que pra Buda ou pra são Francisco de Assis, pois é, nada de sair por aí dando a roupa aos pobres, mas eu tenho também um Atlas celeste e ela acrescentou que no verão sabia reconhecer Orion e Escorpião, e que Escorpião levantava quando Orion já estava deitando na linha do horizonte, e que, segundo o mito, Escorpião estava sempre querendo picar o calcanhar do guerreiro, e ele contou que uma vez havia feito um círculo de fogo em
torno dum escorpião, mas ele não tinha se suicidado, o sacana, ficou esperando até o fogo apagar e ele achatá-lo com o pé, e que tinha se passado muito tempo, mas por que falar de escorpiões agora, os dois acenderam cigarros, e ela falou que era inverossímil pensar que a distância, quer dizer, o tempo que a separava dos dezoito anos era exatamente o mesmo que a separava dos trinta e oito, e tenho também uma luneta, só que quebrada, ele cortou novamente, ah eu estava me esquecendo do disco da Silvinha Telles que também tenho, ela sorriu, como é mesmo o nome? aquele assim todos acham que eu falo demais, e que ando bebendo demais, cantarolou, a voz grave, e outro flash-back, uma madrugada qualquer, cuba-libre e Maysa, que eu não largo o cigarro, tá todo riscado, então não interessa, ele afetou um ar de desprezo, logo a melhor faixa, e ela falou tu viu que horror fizeram na pracinha da ponta do Gasômetro, e mais um flash-back, os dois sem dinheiro para assistir ao Arqui-Samba no Cine Cacique e Nara Leão dizendo é a parte que te cabe neste latifúndio, deitados na grama e o barulho do rio limpo, naquele tempo, corta, outro dia fui lá e tinha uma coisa chocante, uma porção de gente morando dentro duns canos, e eu me senti tão mal olhando aquilo e de repente me pareceu que, ela olhou bem para ele, mas os
dois baixaram a cabeça quase ao mesmo tempo e, começando a despedaçar a caixa de fósforos, ele disse que era incrível assistir como as ruas iam se modificando e de repente uma casa que existia aqui de repente não ocupava mais lugar no espaço, mas apenas na memória, e assim uma porção de coisas, ela completou, e que era como ir perdendo uma memória objetiva e não encontrar fora de si nenhum referencial mais e que. Aí ela olhou o
relógio e falou que precisava mesmo ir andando antes que a chuva apertasse e as ruas ficassem alagadas, não sei se tomo um táxi ou uma gôndola, e ele chegou a abrir a boca para dizer qualquer coisa e ela perguntou o que foi, perfeitamente calma, a bolsa de couro a tiracolo e nenhuma pintura, como sempre, a fissura ôntica? e ele disse que não era nada, só ia tomar outro chope enquanto os ônibus esvaziavam um pouco mais. Então, por trás, inesperadamente, ela afundou os dedos no seu cabelo, coçando-lhe a cabeça como fazia antigamente, depois saiu depressa enquanto ele acendia outro cigarro e continuava a despedaçar a caixa de fósforos pensando coisas como: ou então o mágico que tira coelhos da cartola, ou ainda o motociclista do Globo da Morte, ou quem sabe estava nos bastidores ou na platéia ao invés de no picadeiro, como se fosse apenas um leitor e não uma personagem nem de Tânia Faillace nem de ninguém.
Marcadores: Pedras de Calcuta
Inundado de mijo, a loura travestida masturbando o negro alto de âncora dourada no blazer, presságio de viagem, recompôs meticuloso enquanto a náusea rolava garganta abaixo para cair fundo no estômago, âncora dourada, a bainha das calças mergulhada no mijo cobrindo o sujo dos mosaicos, olhou desamparado o cano subindo da privada à caixa, os dedos das mãos de unhas esmaltadas e um anel desses de diploma aumentando o descascado da parede verde gosma, verde visgo, a palma úmida da mão enterrada na gosma verde viva da parede. E novamente a secura, esfarelou a tinta e como um tropel contraiu a garganta para depois expandi-la num jato espesso de pequenos amargos fragmentos cavalos derramados dos lábios, e outra vez, partículas entre os dentes, e outra mais, espuma, lâmina, âncora dourada, e outra ainda. Soluçou seco, o lenço chupando o molhado frio da testa, e novamente a âncora dourada do blazer, dedos hábeis, passou mal, meu bem, delimitada fronteira com o turbilhão, mergulhou nas vagas em braçadas hesitantes até a coluna onde antes de localizar a cintilância da (calça e arribar exausto náufrago julgou ver duas sombras se afastando em cochichos disfarçados e como uma suspeita, mas o cheiro de mata, lavanda e suor, trópico ardido, cebola crua, o fio dourado são Jorge ou são Cristóvão é o do menino nas costas? enredar-se em cipós, a língua atenta à possibilidade de visitar regiões imponderáveis, afundar em poças lamacentas até quase afogar-se em gozo de unhas farpadas, a espessura cálida palpitante brasa sob o céu estrelado da boca, arfou agora
já: vamos sair?
Ultrapassaram os táxis estacionados, a malícia contida dos motoristas e uma quase madrugada querendo brotar por trás da cartolina dos edifícios, as duas filas de coqueiros onde lixou as palmas das mãos, e depois a rua verde-vermelho e depois o parque e depois a grama molhada verde sobrenatural do mercúrio (umidade através das solas dos sapatos), acender dois cigarros, estender a mão jogando fora o fósforo para colher devagar o rijo fruto, aqui não, nego, muito claro (a voz mais rouca), esgar no canto da boca fumaça alça metálica, conheço um lugarzinho especial, recanto chinês. Avançaram pelo escuro cada vez mais denso até o pequeno templo, missa, ritual, liturgia secreta, ariscas silhuetas entre as folhagens, irmãos de maldição tão solitários que mesmo nos iguais há sempre um inimigo, contraponto de grilos, gemidos e suspiros leves como folhas pisadas numa dança, dentro não, muita bandeira, aqui no canto. Ajoelhar-se entre as pernas abertas, o ruído do fecho, narinas escancaradas para o cheiro acre das virilhas, mijo seco, talco, sebo, esperma dormido, salivas alheias, tremor dos dedos trazendo à tona finalmente o fruto, palma da mão feito bandeja expondo o banquete à sede que a língua ávida procura saciar como um cão inábil e dedos que devassam vorazes saliências reentrâncias bruscos músculos cabelos até os mamilos onde se detêm, carícia e ódio, e de repente as silhuetas destacadas da massa de folhagens e de repente o cerco e de repente o golpe, suspeita confirmada. Mas antes de a pedra fechada na mão baixar com força contra seu queixo espatifando os dentes e o rosto afundar as folhas apodrecidas sobre a poça de lama da chuva da tarde, âncora dourada, teve tempo de ver, presságio de viagem, e antes de o sangue gotejar sobre a blusa branca, um pouco antes ainda de os estilhaços de imagens e vozes e faces cruzarem seu cérebro em todas as direções, cometa espatifado, chuva sangrenta de estrelas, teve tempo de pensar, ridiculamente, e sabia que era assim, que só queria, como uma dor ainda mais aguda, e tanto que chegou a gemer, pelo que estava pensando, não pelo punho fechado muitas
vezes contra a barriga, só queria, desesperadamente, um pouco de. Ou: qualquer coisa assim.
Marcadores: Pedras de Calcuta
Carlos Drummond de Andrade, "Certas palavras”
Na primeira noite, ele sonhou que o navio começara a afundar.
As pessoas corriam desorientadas de um lado para outro no tombadilho, sem lhe dar atenção. Finalmente conseguiu segurar o braço de um marinheiro e disse que não sabia nadar. O marinheiro olhou bem para ele antes de responder, sacudindo os ombros: "Ou você aprende ou morre".
Acordou quando a água chegava a seus tornozelos.
Na segunda noite, ele sonhou que o navio continuava afundando. As pessoas corriam de outro para um lado, e depois o braço, e depois o olhar, o marinheiro repetindo que ou ele aprendia a nadar ou morria. Quando a água alcançava quase a sua cintura, ele pensou que talvez pudesse aprender a nadar. Mas acordou antes de descobrir.
Na terceira noite, o navio afundou.
Marcadores: Pedras de Calcuta
Eu sou o menino que abriu a porta das feras no dia em que todas as
famílias visitam o zôo.
Gilberto Gil, "Zooilógico”
Honti nóisfumoz no sológico. Foi um bunito paçeio. Eu goztei muntu du sológico. Nóis demo aminduim pru elephanti. Mais du qui eu maiz goztei foi da sebra qui é alistadinha qui nem u pijama du meu vô Noé.
Apenas não sabiam exatamente por que tinham ido parar no jardim zoológico. Pois se tinham existido os campos, um pouco antes, a encosta cheia de vacas olhando para eles com grandes olhos castanhos, o lago lá embaixo, a superfície do lago com suas manchas móveis, azuis e verdes, os quero-queros que não os deixavam aproximar-se demasiado, com vôos rasantes sobre suas cabeças nuas. Como em Os pássaros, alguém lembrou sem muito propósito, porque os quero-queros de maneira alguma pareciam ameaçadores. Nada ameaçava ninguém naquela encosta, um deles disse que gostaria de ficar para sempre ali, entre o cheiro de terra, bosta de vaca, capim, esmagando ervinhas com o corpo, o verde novinho de outubro rebentando em brotos macios. Sim, sim, sim — a encosta, o campo,o lago, os cheiros, um pouco antes. Poderiam ter permanecido lá o tempo que quisessem, mas agora estavam numa fila de carros e precisavam pagar e pagaram e o cobrador não tinha perguntado se eram estudantes e estudante tinha desconto mas agora o cobrador já tinha preenchido um talão e alguém quis reclamar mas outro disse que não, coitado do moço, devia preencher mais de mil talões por dia e tudo continuava bem embora estivessem chegando de campos inteiramente gratuitos, sem talões, sem cobrador, coitado, com aquela calça Lee tão esfarrapadinha, sem filas de carros, sem. O automóvel movia-se lento, os seis pesando dentro. O automóvel movia-se entre dezenas de outros automóveis. O automóvel movia-se quase imóvel. Tanto que eles eram obrigados a ver, a não ser que fechassem os olhos. Mas fazia calor, fechar os olhos trazia uma cegueira úmida, heia de felpas. Eram forçados a abri-los para ver. E o que viam. Alguém tentou brincar dizendo que o estampado da zebra era extremamente artístico, vejam só, uma precursora da op-art, e todos riram, os olhos parados da zebra, meio nervosamente, o camelo era um momento pouco inspirado de Deus, havia uma amiga deles parecida com o camelo, os cascos rachados, e depois as corças, não sabiam bem se corças ou cervos ou veados ou mesmo gazelas, mas corças era tão bonito que repetiam encantados, as corças! as corças!, e um lhama, você já foi ao Peru?, e búfalos, e mais carros, a poeira da estrada, as pessoas oferecendo Coca-Cola, amendoim, pipoca para os javalis, o elefante introduzia a tromba no tanque de água vazio e jogava terra seca sobre a casca grossa, o elefante não tinha presas, o elefante quase cego e surdo, como todos os elefantes, mas aquele especialmente cego, especialmente surdo, sem um cemitério onde pudesse morrer discreto, recolhido, obrigado a morrer sordidamente na presença das mocinhas de pantalonas e colantes e jóias de plástico que riam jogando coisas secas para o elefante sedento. Rodaram estonteados por alguns minutos, depois a moça conseguiu estacionar o carro e desceram rápidos, como se não suportassem ficar juntos por mais um segundo sequer, então procuraram procuraram. Cimento, arame farpado: uma cerca alta cortou seus passos. Voltaram-se para o outro lado, mas as pessoas, as pessoas em mesas de madeira cortando nacos de carne sangrenta com facas afiadas, podiam sentir a carne fibrosa espirrando sangue quando os dentes se fechavam em torno dela, o cheiro de carne queimada que o vento espalhava entre os pinheiros, o vôo rasante dos quero-queros, latas vazias, pontas de cigarro, papéis engordurados, crianças nuas, senhoras gordas balançando-se em redes, adolescentes mastigando olhos castanhos de vaca torrados na brasa, homens sem camisa, os músculos do peito movendo-se atrás dos pêlos no gesto de cortar galhos para suas fogueiras, garrafas de cerveja, sacolas de plástico & arrotos sobre a grama. Deram volta, os seis, à esquerda havia um campo quase como aquele de antes, onde não tinham ousado ficar porque era liberdade demais? e não suportariam? mais um campo de vacas e quero-queros? E outra cerca. Uma placa proibindo a entrada. desorganizaram-se e de repente um não sabia mais onde estava o outro, levaram alguns segundos para localizar-se outra vez, os olhos de cada um lendo no rosto do outro o que ainda não tinham decifrado no próprio olho, contaram-se: cinco. O rapaz com a pedrinha da Mauritânia no pescoço tinha desaparecido (era uma pedrinha estampada, diziam que na Mauritânia havia rochas e rochas inteiras assim, estampadas, coloridas — mas eles nunca tinham estado lá, da Mauritânia, além de lendas, só conheciam a pedrinha que o rapaz desaparecido trazia). Um outro enveredou às cegas por um caminho de gravatás e lá no fundo descobriu, com alívio, no fundo do caminho estava o desaparecido, de pernas cruzadas, como se meditasse. Aproximou-se devagar, controlando o estalo dos gravetos sob a sola dos tênis, pensou em cobrir-lhe os olhos com as mãos em concha, como quando eram crianças, nunca tinham sido crianças juntos, mas não tinha importância, aproximou-se devagar e viu o movimento dos ombros do outro, que se ergueu brusco, chorando, as faces congestionadas. No mesmo momento abraçaram-se e o rapaz que não estava perdido, sem que fosse nem um pouco necessário, atropelou perguntas como o-que-foi-que-calma-te-aconteceu-respira-fundo-calma-por-que-você-calma-está-chorando-assim-calma-está-calma-tudo-calma-bem. Depois desabraçaram-se, afastaram-se, a pedrinha da Mauritânia, ele viu, e um pouco acima a boca do rapaz que chorava perguntou:
— O que fizeram de nós?
Tentou apontar as cercas, talvez as jaulas, o lixo cobrindo a grama. Mas não conseguiu. Apenas soluçava e repetia:
— Eu tenho ódio. Eu tenho muito ódio.
E rapidamente os outros quatro estavam também ali com eles. O rapaz sentou-se chorando num tronco coberto de musgo, as unhas rasgavam o musgo verde-escuro enterrando-se na madeira, os dentes cerrados, os pés afundados entre os espinhos dos gravatás. Existiam cercas, souberam de repente, ou não de repente, mais uma vez, e quietamente souberam como nunca tinham sabido antes, os seis: existiam cercas, concreto, arame farpado, existiam cercas segregando animais e verde.
— As cercas — ele disse. —Já não somos humanos. Que não suportaria ver de novo, mas era preciso que se movessem, como se o lugar tivesse ficado impregnado do ódio que o rapaz descarregara e se fechasse, cheio de arestas, sobre suas cabeças confusamente lúcidas. Aos tropeções rastejaram até um pequeno gramado onde permaneceram cegos, surdos, mudos, de mãos vazias, sem coragem de olhar-se nos olhos, as pessoas em volta hesitando entre jogar-lhes pipocas ou procurar animais mais interessantes. Caminharam lentos, as cabeças baixas, uma escassa manada, por uma escada de madeira até o bosque de eucaliptos e foram entrando sem olhar para trás. No meio da clareira as folhas secas estalaram sob seus pés. Sem saber, tiveram certeza e deixaram que os troncos das árvores e o chão aos poucos sustentassem o cansaço das costas de cada um. Passou-se algum tempo — como se o que acontecesse aqui, agora, fosse uma história qualquer contada por qualquer um deles e não o que acontecia ali, então. Algum tempo de mãos cruzadas na nuca e olhos postos na copa dos eucaliptos, passou-se. Depois apareceu uma borboleta negra, laranja e azul esvoaçando sem rumo e alguém disse que elas viviam apenas vinte e quatro horas, que não precisavam trabalhar nem montar um lar, o lar eram as flores onde iam pousando descuidadas, depositando seus ovos, e os filhos que se virassem sozinhos. Mas antes alguém lembrou, ou ninguém, talvez todos tenham pensado sem dizer, antes foram crisálida, larva lenta, feia, cascuda, escura, fechada sobre si mesma, elaborando em silêncio e desbeleza as asas de mais tarde. Suspiraram e riram e fizeram coisas como observar uma fileira de formigas tirando pacientes mínimos montículos do interior da terra para depositá-los longe, de maneira a não atrapalhá-las em suas entradas e saídas, e um outro disse que o estalo na ponta do chicote era a barreira do som sendo quebrada, e todos riram outra vez, o verde vibrante de uma mosca varejeira, jóia viva parada no ar. Então estavam outra vez dentro do automóvel e vinham voltando por entre as fábricas. O ar cheirava mal, a fuligem das chaminés depositava-se nas dobras da roupa, um dia, disseram, um dia talvez consigam acarpetar toda a terra de asfalto. Mas restarão os mares, um outro quis reclamar, veemente, mas lembrou-se de que os mares seriam grandes extensões de lodo e lixo. E no meio da estrada um rapaz espancava um cavalo, o chicote inúmeras vezes quebrando a barreira do som sobre as ancas do animal. Filho da puta, gritaram com as sobras do ódio, vai chicotear tua mãe, mas o rapaz botou a mão no pau escancarando as pernas os dentes afiados, carnívoros, depois as pontes, o sangue dos caminhões e o muro separando a cidade do rio como a parede de um túnel fechando-se sobre eles nos últimos andares dos edifícios — como se escorregassem pela garganta de um enorme animal metálico, como se caíssem sem fundo nem volta, sugados por um estômago que os digeriria faminto, massa visguenta, em direção às inúmeras voltas de um intestino de concreto para defecá-los numa vala podre. A sinaleira mandou que seguissem em frente. Eles seguiram. Alguém acendeu um cigarro. Outro rebuscou um biscoito no fundo do pacote. A moça ligou o rádio. A moça esperava um bebé. O rádio tocou um blues. Os blues costumam ser lentos, doloridos. Aquele também. Eles acompanharam o lento e o dolorido com os dedos tamborilando nos vidros sujos.
Marcadores: Pedras de Calcuta