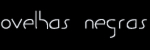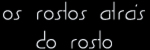Publicado na revista A-Z em maio de 89.
As cenas abaixo narradas foram testemunhadas pelo jornalista e escritor Caio Fernando Abreu, no dia 6 de abril de 1989, na rua Haddock Lobo, exatamente em frente ao edifício Canopus, n: 959.
20h - Quinta-feira normal. Vou chegando em casa, começo a subir a Haddock Lobo, da Alameda Franca até a Itú. Na porta de meu prédio, um movimento estranho. Um fio de sangue desce a ladeira. Acompanho, chego mais perto e vejo: na sarjeta, o cadáver de um homem semicoberto por folhas de jornal. Um carro de polícia, gente parada. Pergunto ao porteiro o que foi. Com ar de desprezo, ele conta: "Um ladrão. A polícia deu uns tiros". Que horror, eu digo. Ou só penso. O porteiro: "Um bandido a mais, um a menos, que diferença faz, seu Caio?"
As cenas abaixo narradas foram testemunhadas pelo jornalista e escritor Caio Fernando Abreu, no dia 6 de abril de 1989, na rua Haddock Lobo, exatamente em frente ao edifício Canopus, n: 959.
20h - Quinta-feira normal. Vou chegando em casa, começo a subir a Haddock Lobo, da Alameda Franca até a Itú. Na porta de meu prédio, um movimento estranho. Um fio de sangue desce a ladeira. Acompanho, chego mais perto e vejo: na sarjeta, o cadáver de um homem semicoberto por folhas de jornal. Um carro de polícia, gente parada. Pergunto ao porteiro o que foi. Com ar de desprezo, ele conta: "Um ladrão. A polícia deu uns tiros". Que horror, eu digo. Ou só penso. O porteiro: "Um bandido a mais, um a menos, que diferença faz, seu Caio?"
20h10m - Subindo pelo elevador, vou pensando pois é, que diferença faz? Entro no apartamento. Meu amigo Luciano conta, viu tudo de sua janela. As seis da tarde dois homens desceram a rua correndo, provavelmente depois de um assalto. A polícia desceu atrás, atirando. Um dos homens entrou num táxi parado, encostou o revólver na cabeça do moto¬rista e conseguiu fugir. O outro levou os tiros nas costas. Ficou lá, de bruços, estendido no chão. Foi às seis horas. Agora são mais de oito.
20h30m - Tento trabalhar, não consigo. Tento comer, não desce. Tento ver TV, não entendo o que vejo. Tento ouvir Mozart, soa falso. Ligo para alguém, não atende. Espio pela janela - moro no segundo andar. O morto continua lá. Colocaram uma dessas sinalizações de madeira no meio da rua, para desviar os carros. As senhoras chiques dos edifícios vizinhos entram em casa de saia mais justa do que de costume. Desviam os olhos, a morte é feia. E não tem griffe.
21h – Percebo que acabei de ler cinco vezes a mesma frase de Saí Negro, de Julia Kristeva, sem entender uma palavra. Espio pela janela. O cara continua lá. Mortíssimo, por fora do jornal dois pés de tênis. Carros páram, buzinam, rádios ligados muito alto. Há uma espécie de festa em volta do morto. Lembro de João Bosco, lembra? "Tá lá o corpo estendido no chão/em vez de vela uma foto de um gol". Nem isso, não há nada em volta dele. Curiosos, risinhos.
22h - Continuo pirando. Me bato pela casa falando alto porra, mas esse cara deve ter uma mãe, e uma mulher, um filho, uma tia, um vizinho que seja. Ninguém sabe da morte dele. E nem uma vela ilumina sua morte pobre. Lembro de Elis cantando Onze Fitas, de Fátima Guedes: "Por engano, desgosto ou cortesia/tava lá morto e posto o desregrado". Me sinto sujo.
23h - Tomo banho. Não relaxo, nem me sinto mais limpo. Pelo menos uma vela, uma só. Não consigo me controlar. Desço com um pacote de velas na mão. Uma maçada em volta do corpo, fazendo piadinhas. Tento acender a vela, o vento sopra, apaga. Torno a acender, torna a apagar. Um cara pergunta: "Era seu parente?" De certa forma, não digo. O policial me pede para subir, tô criando confusão. Deixo o pacote aos pés do defunto. Vale a intenção. Vale? Tô pirando.
24h - Já pirei. Dou um salto da cama, abro a janela, começo a gritar: "Assassinos! Isso é crime! Urubus! Gentalha!. A polícia olha para cima. Bato a janela com força. A polícia chama pelo porteiro interno, querem me levar por desacato à autoridade. Luciano segura, desdobra, convence.
01h - O corpo continua lá. Param mais dois carros. Desce um fotógrafo, arrancam os jornais de cima do corpo, rasgam a roupa dele. Jovem, não deve (devia) ter 30 anos. Já está rígido. Fotografam em vários ân¬gulos, completamente nu. Desamparado. Mais carros páram. Festa nos Jardins: "Onze tiros fizeram a avaria/ e o morto já tava conformado".
02h - Pára um camburão, tiram de dentro uma caixa comprida de plástico. Enfiam o homem lá dentro. Da janela, espio. Dentro do camburão há pelo menos mais três caixas. Cheias. De caras mortos, como ele. Quem eram?
02h30m - Um policial recolhe os jornais, a mortalha. Outro, com uma mangueira, limpa com jatos d’água as marcas de sangue. Não fica nenhum sinal.
Nos dois ou três dias seguintes, compro todos os jornais da cidade. Não sai nenhuma notícia. Continuo a ouvir Elis: "Essa história contada assim por cima/a verdade não rima, a verdade não rima ". Pois é, a verdade. O quê?
(Caio F.)
Marcadores: Dispersos
À memória de Luia Felpuda
1
Hermes. — O rebenque estalou contra a madeira gasta da mesa. Ele repetiu mais alto, quase gritando, quase com raiva: — Eu chamei Hermes. Quem é essa lorpa?
Avancei do fundo da sala.
— Sou eu.
— Sou eu, meu sargento. Repita.
Os outros olhavam, nus como eu. Só se ouvia o ruído das pás do ventilador girando enferrujadas no teto, mas eu sabia que riam baixinho, cutucando-se excitados. Atrás dele, a parede de reboco descascado, a janela pintada de azul-marinho aberta sobre um pátio cheio de cinamomos caiados de branco até a metade do tronco. Nenhum vento nas copas imóveis. E moscas amolecidas pelo calor, tão tontas que se chocavam no ar, entre o cheiro da bosta quente de cavalo e corpos sujos de machos.
De repente, mais nu que os outros, eu: no centro da sala. O suor escorria pelos sovacos.
— Ficou surdo, idiota?
— Não. Não, seu sargento.
— Meu sargento.
— Meu sargento.
— Por que não respondeu quando eu chamei?
— Não ouvi. Desculpe, eu...
— Não ouvi, meu sargento. Repita.
— Não ouvi. Meu sargento.
Parecia divertido, o olho verde frio de cobra quase oculto sob as sobrancelhas unidas em ângulo agudo sobre o nariz. Começava a odiar aquele bigode grosso como um manduruvá cabeludo rastejando em volta da boca, cortina de veludo negro entreaberta sobre os lábios molhados.
— Tem cera nos ouvidos, pamonha?
Olhou em volta, pedindo aprovação, dando licença. Um alívio percorreu a sala. Os homens riam livremente agora. Podia ver, à minha direita, o alemão de costela quebrada, a ponta quase furando a barriga sacudida por um riso banguela. E o saco murcho do crioulo parrudo.
— Não, meu sargento.
— E no rabo?
Surpreso e suspenso, o coro de risos. As pás do ventilador voltaram a arranhar o silêncio, feito filme de mocinho, um segundo antes do tiro. Ele olhou os homens, um por um. O riso recomeçou, estridente. A ponta da costela vibrava no ar, um acidente na roça com minha ermón. Imóveis, as folhas bem de cima dos cinamomos. O saco murcho, como se não houvesse nada dentro, sou faixa preta, morou? Uma mosca esvoaçou perto do meu olho. Pisquei.
— Esquece. E não pisca, bocó. Só quando eu mandar.
Levantou-se e veio vindo na minha direção. A camiseta branca com grandes manchas de suor embaixo dos braços peludos, cruzados sobre o peito, a ponta do rebenque curto de montaria, ereto e tenso, batendo ritmado nos cabelos quase raspados. duros de brilhantina, colados ao crânio. Num salto, o rebenque enveredou em direção à minha cara, desviou-se a menos de um palmo, zunindo, para estalar com força nas botas. Estremeci. Era ridícula a sensação de minha bunda exposta, branca e provavelmente trêmula, na frente daquela meia dúzia de homens pelados. O manduruvá contraiu-se, lesma respingada de sal, a cortina afastou-se para um lado. Um brilho de ouro dançou sobre o canino esquerdo.
— Está com medo, molóide?
— Não, meu sargento. É quê.
O rebenque estalou outra vez na bota. Couro contra couro. Seco. A sala inteira pareceu estremecer comigo. Na parede, o retrato do marechal Castelo Branco oscilou. Os risos cessaram. Mas junto com o zumbido do sangue quente na minha cabeça, as pás ferrugentas do ventilador e o vôo gordo das moscas, eu localizava também um ofegar seboso, nojento. Os outros esperavam. Eu esperava. Seria assim, um cristão na arena? pensei sem querer. O leão brincando com a vítima, patas vadias no ar, antes de desferir o golpe mortal.
— Quem fala aqui sou eu, correto?
— Correto, sargento. Meu sargento.
— Limite-se a dizer sim, meu sargento ou não, meu sargento. Correto?
— Sim, meu sargento
Muito perto, cheiro de suor de gente e cavalo, bosta quente, alfafa, cigarro e brilhantina. Sem mover a cabeça, senti seus olhos de cobra percorrendo meu corpo inteiro vagarosamente. Leão entediado, general espartano, tão minucioso que podia descobrir a cicatriz de arame farpado escondida na minha coxa direita, os três pontos de uma pedrada entre os cabelos, e pequenas marcas, manchas, mesmo as que eu desconhecia, todas as verrugas e os sinais mais secretos da minha pele. Moveu o cigarro com os dentes. A brasa quente passou raspando junto à minha face. O mamilo do peito saliente roçou meu ombro. Voltei a estremecer.
— Mocinho delicado, hein? É daqueles bem-educados, é? Pois se te pego num cortado bravo, tu vai ver o que é bom pra tosse, perobão.
Os homens remexiam-se, inquietos. Romanos, queriam sangue. O rebenque, a bota, o estalo.
— Sen-tido!
Estiquei a coluna. O pescoço doía, retesado. As mãos pareciam feitas apenas de ossos crispados, sem carne, pele nem músculos. Pisou o cigarro com o salto da bota. Cuspiu de lado.
— Descan-sar!
Girou rápido sobre os calcanhares, voltando para a mesa. Cruzei as mãos nas costas, tentando inutilmente esconder a bunda nua. Além da copa dos cinamomos, o céu azul não tinha nenhuma nuvem. Mas lá embaixo, na banda do rio, o horizonte começava a ficar avermelhado. Com um tapa, alguém esmagou uma mosca.
— Silêncio, patetas!
Olhou para o meu peito. E baixou os olhos um pouco mais.
— Então tu é que é o tal de Hermes?
— Sim, meu sargento.
— Tem certeza?
— Sim, meu sargento.
— Mas de onde foi que tu tirou esse nome?
— Não sei, meu sargento.
Sorriu. Eu pressenti o ataque. E quase admirei sua capacidade de comandar as reações daquela manada bruta da qual, para ele, eu devia fazer parte. Presa suculenta, carne indefesa e fraca. Como um idiota, pensei em Deborah Kerr no meio dos leões em cinemascope, cor de luxe, túnica branca, rosas nas mãos, um quadro antigo na casa de minha avó, Cecília entre os leões, ou seria Jean Simmons? figura de catecismo, os-ristãos-eram-obrigados-a-negar-sua-fé-sob-pena-de-morte, o padre Lima fugiu com a filha do barbeiro, que deve ter virado mula-sem-cabeça, a filha, não o padre, nem o barbeiro. O silêncio crescendo. Um cavalo esmolambado cruzou o espaço vazio da janela, palco, tela, minha cabeça galopava, Steve Reeves ou Victor Macture, sozinho na arena, peitos suados, o mártir, estrangulando o leão, os cantos da boca, não era assim, ascomissuras-dos-lábios-voltadas-para-baixonum-esforço-hercúleo, o trigo venceu a ferocidade do monstro de guampas. A mosca pousou bem na ponta do meu nariz.
— Por acaso tu é filho das macegas?
Minha cara incendiava. Ele apagou o cigarro dentro do pequeno capacete militar invertido, sustentado por três espingardas cruzadas. E me olhou de frente, pela primeira vez, firme, sobrancelhas agudas sobre o nariz, fundo, um falcão atento à presa, forte. A mosca levantou vôo da ponta do meu nariz.
Não me fira, pensei com força, tenho dezessete anos, quase dezoito, gosto de desenhar, meu quarto tem um Anjo da Guarda com a moldura quebrada, a janela dá para um jasmineiro, no verão eu fico tonto, meu sargento, me dá assim como um nojo doce, a noite inteira, todas as noites, todo o verão, vezenquando saio nu na janela com uma coisa que não entendo direito acontecendo pelas minhas veias, depois abro As mil e uma noites e tento ler, meu sargento, sois um bom dervixe, habituado a uma vida tranqüila, distante dos cuidados do mundo, na manhã seguinte minha mãe diz sempre que tenho olheiras, e bate na porta quando vou ao banheiro e repete repete que aquele disco da Nara Leão é muito chato, que eu devia parar de desenhar tanto, porque já tenho dezessete anos, quase dezoito, e nenhuma vergonha na cara, meu sargento, nenhum amigo, só esta tontura seca de estar começando a viver, um monte de coisas que eu não entendo, todas as manhãs, meu sargento, para todo o sempre, amém.
Feito cometas, faíscas cruzaram na frente dos meus olhos. Tive medo de cair. Mas as folhas mais altas dos cinamomos começaram a se mover. O sol quase caindo no Guaíba. E não sei se pelo olhar dele, se pelo nariz livre da mosca, se pela minha história, pela brisa vinda do rio ou puro cansaço, parei de odiá-lo naquele exato momento. Como quem muda uma estação de rádio. Esta, sentia impreciso, sem interferências.
— Pois, seu Hermes, então tu é o tal que tem pé chato, taquicardia e pressão baixa? O médico me disse. Arrimo de família, também?
— Sim, meu sargento — menti apressado, aquele médico amigo de meu pai. Uma suspeita cruzou minha cabeça, e se ele descobrisse? Mas tive certeza: ele já sabia. O tempo todo. Desde o começo. Movimentei os ombros, mais leves. Olhei fundo no fundo frio do olho dele.
— Trabalha?
— Sim, meu sargento — menti outra vez.
—Onde?
— Num escritório, meu sargento.
— Estuda?
— Sim, meu sargento.
—O quê?
— Pré-vestibular, meu sargento.
— E vai fazer o quê? Engenharia, direito, medicina?
— Não, meu sargento.
— Odontologia? Agronomia? Veterinária?
— Filosofia, meu sargento.
Uma corrente elétrica percorreu os outros. Esperei que atacasse novamente. Ou risse. Tornou a me examinar lento. Respeito, aquilo, ou pena? O olhar se deteve, abaixo do meu umbigo.
Acendeu outro cigarro, Continental sem filtro, eu podia ver, com o isqueiro em forma de bala. Espiou pela janela. Devia ter visto o céu avermelhado sobre o rio, o laranja do céu, o quase roxo das nuvens amontoadas no horizonte das ilhas. Voltou os olhos para mim. Pupilas tão contraídas que o verde parecia vidro liso, fácil de quebrar.
— Pois, seu filósofo, o senhor está dispensado de servir à pátria. Seu certificado fica pronto daqui a três meses. Pode se vestir. — Olhou em volta, o alemão, o crioulo, os outros machos. — E vocês, seus analfabetos, deviam era criar vergonha nessa cara porca e se mirar no exemplo aí do moço. Como se não bastasse ser arrimo de família, um dia ainda vai sair filosofando por aí, enquanto vocês vão continuar pastando que nem gado até a morte.
Caminhei para a porta, tão vitorioso que meu passo era uma folha vadia, dançando na brisa da tardezinha. Abriram caminho para que eu passasse. Lerdos, vencidos. Antes de entrar na outra sala, ouvi o rebenque estalando contra a bota negra.
— Sen-tido! Estão pensando que isso aqui é o cu-da-mãe-joana?
2
Parado no portão de ferro, olhei direto para o sol. Meu truque antigo: o em-volta tão claro que virava seu oposto e se tornava escuro, enchendo-se de sombras e reflexos que se uniam aos poucos, organizando-se em forma de objetos ou apenas dançando soltos no espaço à minha frente, sem formar coisa alguma. Eram esses os que me interessavam, os que dançavam vadios no ar, sem fazer parte das nuvens, das árvores nem das casas. Eu não sabia para onde iriam, depois que meus olhos novamente acostumados à luz colocavam cada coisa em seu lugar, assim: casa — paredes, janelas e portas; árvores — tronco, galhos e folhas; nuvens — fiapos estirados ou embolados, vezenquando brancos, vezenquando coloridos. Cada coisa era cada coisa e inteira, na união de todas as suas infinitas partes. Mas e as sombras e os reflexos, esses que não se integravam em forma alguma, onde ficavam guardados? Para onde ia a parte das coisas que não cabia na própria coisa? Para o fundo do meu olho, esperando o ofuscamento para vir à tona outra vez? Ou entre as próprias coisas-coisas, no espaço vazio entre o fim de uma parte e o começo de outra pequena parte da coisa inteira? Como um por trás do real, feito espírito de sombra ou luz, claro-escuro escondido no mais de-dentro de um tronco de árvore ou no espaço entre um tijolo e outro ou no meio de dois fiapos de nuvem, onde? As cigarras chiavam no pátio de cinamomos caiados.
Respirei fundo, erguendo um pouco os ombros para engolir mais ar. Meu corpo inteiro nunca tinha me parecido tão novo. Comecei a descer o morro, o quartel ficando para trás. Bola de fogo suspensa, o sol caía no rio. Sacudi um pé de manacá, a chuva adocicada despencou na minha cabeça. Na primeira curva, o Chevrolet antigo parou a meu lado. Como um grande morcego cinza.
— Vai pra cidade?
Como se estivesse surpreso, espiei para dentro. Ele estava debruçado na janela, o sol iluminando o meio sorriso, fazendo brilhar o remendo dourado do canino esquerdo.
— Quer carona?
— Vou tomar o bonde logo ali na Azenha.
— Te deixo lá — disse. E abriu a porta do carro.
Entrei. O cigarro moveu-se de um lado para outro na boca, enquanto a mão engatava a primeira. Um vento entrando pela janela fazia meu cabelo voar. Ele segurou o cigarro, Continental sem filtro, eu tinha visto, entre o polegar e o indicador amarelados, cuspiu pela janela, depois me olhou.
— Ficou com medo de mim?
Não parecia mais um leão, nem general espartano. A voz macia, era um homem comum sentado na direção de seu carro. Tirei do bolso a caixinha de chicletes, abri devagar sem oferecer. Mastiguei.
A camada de açúcar partiu-se, um sopro gelado abriu minha garganta. Engoli o vento para que ficasse ainda mais gelada.
— Não sei. — E quase acrescentei meu sargento. Sorri por dentro. — Bom, no começo fiquei um pouco. Depois vi que o senhor estava do meu lado.
— Senhor, não: Garcia, a bagualada toda me chama de Garcia. Luiz Garcia de Souza.
Sargento Garcia. — Simulou uma continência, tornou a cuspir, tirando antes o cigarro da boca.
— Quer dizer então que tu achou que eu estava do teu lado. — Eu quis dizer qualquer coisa, mas ele não deixou. O carro chegava no fim do morro. — É que logo vi que tu era diferente do resto. — Olhou para mim. Sem frio nem medo, me encolhi no banco. — Tenho que lidar com gente grossa o dia inteiro. Nem te conto. Aí quando aparece um moço mais fino, assim que nem tu, a gente logo vê. — Passou os dedos no bigode. — Então quer dizer que tu vai ser filósofo, é? Mas me conta, qual é a tua filosofia de vida?
— De vida? — Eu mordi o chiclete mais forte, mas o açúcar tinha ido embora. — Não sei, outro dia andei lendo um cara aí. Leibniz, aquele das mônadas, conhece?
—Das o quê?
— As mônadas. É um cara aí, ele dizia que tudo no universo são. Assim que nem janelas fechadas, como caixas. Mônadas, entende? Separadas umas das outras. — Ele franziu a testa, interessado. Ou sem entender nada. Continuei:
— Incomunicáveis, entende? Umas coisas assim meio sem ter nada a ver umas com as outras.
—Tudo?
— É, tudo, eu acho. As casas, as pessoas, cada uma delas. Os animais, as plantas, tudo. Cada um, uma mônada. Fechada.
Pisou no freio. Estendi as mãos para a frente.
— Mas tu acredita mesmo nisso?
— Eu acho quê.
— Pois pra te falar a verdade, eu aqui não entendo desses troços. Passo o dia inteiro naquele quartel, com aquela bagualada mais grossa que dedo destroncado. E com eles a gente tem é que tratar assim mesmo, no braço, trazer ali no cabresto, de rédea curta, senão te montam pelo cangote e a vida vira um inferno. Não tenho tempo pra perder pensando nessas coisas aí de universo
- A voz amaciou, depois tornou a endurecer. — Minha filosofia de vida é simples: pisa nos outros antes que te pisem. Não tem essas mônicas daí.
Mas tu tem muita estrada pela frente, guri. Sabe que idade eu tenho? — Examinou meu rosto. Eu não disse nada. — Pois tenho trinta e três. Do teu tamanho andava por aí meio desnorteado, matando contrabandista na fronteira. O quartel é que me pôs nos eixos, senão tinha virado bandido. A vida me ensinou a ser um cara aberto, admito tudo. Só não agüento comunista. Mas graças a Deus a revolução já deu um jeito nesse putedo todo. Aprendi a me virar, seu filósofo. A me defender no braço e no grito. — Jogou fora o cigarro. A voz macia outra vez. — Mas contigo é diferente.
Mastiguei o chiclete com mais força. Agora não passava de uma borracha sem gosto.
— Diferente como?
Ele olhava direto para mim. Embora o vento entrasse pela janela aberta, uma coisa morna tinha se instalado dentro do carro, naquele ar enfumaçado entre ele e eu. Podia haver pontes entre as mônadas, pensei. E mordi a ponta da língua.
— Assim, um moço fino, educado. Bonito.
— Fez uma curva mais rápida. O pneu guinchou.
— Escuta, tu tem mesmo que ir embora já?
— Agora já, já, não. Mas se eu chegar em casa muito tarde minha mãe fica uma fúria.
Mais duas quadras e chegaríamos no ponto do bonde, em frente ao cinema Castelo. Bem depressa, eu tinha que dizer ou fazer alguma coisa, só não sabia o que, meu coração galopava esquisito, as palmas das mãos molhadas.
Olhei para ele. Continuava olhando para mim. As casas baixas da Azenha passavam amontoadas, meio caídas umas sobre as outras, uma parede rosa, umajanela azul, uma porta verde, um gato preto numa janela branca, uma mulher de lenço amarelo na cabeça, chamando alguém, a lomba do cemitério, uma menina pulando corda, os ciprestes ficando para trás. Estendeu a mão.
Achei que ia fazer uma mudança, mas os dedos desviaram-se da alavanca para pousar sobre a minha coxa.
— Escuta, tu não tá a fim de dar uma chegada comigo num lugar aí?
— Que lugar? — Temi que a voz desafinasse. Mas saiu firme.
Aranha lenta, a mão subiu mais, deslizou pela parte interna da coxa. E apertou, quente.
— Um lugar aí. Coisa fina. A gente pode ficar mais à vontade, sabe como é. Ninguém incomoda. Quer?
Tínhamos ultrapassado o ponto do bonde. Bem no fundo, lá onde o riacho encontrava com o Guaíba, só a parte superior do sol estava fora d’água. Devia estar amanhecendo no Japão — antípodas, mônadas —, nessas horas eu sempre pensava assim. Me vinha a sensação de que o mundo era enorme, cheio de coisas desconhecidas. Boas nem más. Coisas soltas feito aqueles reflexos e sombras metidos no meio de outras coisas, como se nem existissem, esperando só a hora da gente ficar ofuscado para sair flutuando no meio do que se podia tocar. Assim: dentro do que se podia tocar, escondido, vivia também o que só era visível quando o olho ficava tão inundado de luz que enxergava esse invisível no meio do tocável. Eu não sabia.
— Me dá um cigarro — pedi. Ele acendeu. Tossi. Meu pai com o cinturão dobrado, agora tu vai me fumar todo esse maço, desgraçado, parece filho de bagaceira. A mão quente subiu mais, afastou a camisa, um dedo entrou no meu umbigo, apertou, juntou-se aos outros, aranha peluda, tornou a baixar, caminhando entre as minhas pernas.
— Claro que quer. Estou vendo que tu não quer outra coisa, guri.
Pegou na minha mão. Conduziu-a até o meio das pernas dele. Meus dedos se abriram um pouco. Duro, tenso, rijo. Quase estourando a calça verde. Moveu-se, quando toquei, e inchou mais. Cavidades-porosas-que-se-en chem-de-sangue-quando-excitadas
Meu primo gritou na minha cara: maricão, mariquinha, quiáquiáquiá. O vento descabelava o verde da Redenção, os coqueiros da João Pessoa. Mariquinha, maricão, quiáquiáquiá. E não, eu não sabia.
— Nunca fiz isso.
Ele parecia contente.
— Mas não me diga. Nunca? Nem q
uando era piá? Uma sacanagenzinha ali, na beira da sanga? Nem com mulher? Com china de zona? Não acredito. Nem nunca barranqueou égua? Tamanho homem.
— É verdade.
Diminuiu a marcha. Curvou-se sobre mim.
— Pois eu te ensino. Quer?
Traguei fundo. Uma tontura me subiu pela cabeça. De dentro das casas, das árvores e das nuvens, as sombras e os reflexos guardados espiavam, esperando que eu olhasse outra vez direto para o sol. Mas ele já tinha caído no rio. Durante a noite os pontos de luz dormiam quietos escondidos, guardados no meio das coisas. Ninguém sabia. Nem eu.
— Quero — eu disse.
3
Vontade de parar, eu tinha, mas o andar era inconsolável, a cabeça em várias direções, subindo a ladeira atrás dele, tu sabe como é, tem sempre gente espiando a vida alheia, melhor eu ir na frente, fica no portão azul, vem vindo devagar, como se tu não me conhecesse, como se nunca tivesse me visto em toda a tua vida.
Como se nunca o tivesse visto em toda a minha vida, seguia aquela mancha verde, mãos nos bolsos, cigarro aceso, de repente sumindo portão adentro com um rápido olhar para trás, gancho que me fisgava. Mergulhei na sombra atrás dele. Subi os degraus de cimento, empurrei a porta entreaberta, madeira velha, vidro rachado, penetrei na sala escura com cheiro de mofo e cigarro velho, flores murchas boiando em água viscosa.
— O de sempre, então? — ela perguntava, e quase imediatamente corrigi, dentro da minha própria cabeça, olhando melhor e mais atento, ele, dentro de um robe colorido desses meio estofadinhos, cheio de manchas vermelhas de tomate, batom, esmalte ou sangue. — O senhor, hein, sargento? — piscou íntimo, íntima, para o sargento e para mim. — Esta é a sua vítima?
— Conhece a Isadora?
A mão molhada, cheia de anéis, as longas unhas vermelhas, meio descascadas, como a porta. Apertei. Ela riu.
— Isadora, queridinho. Nunca ouviu falar? Isadora Duncan, a bailarina. Uma mulher finíssima, má-ravilhosa, a minha ídola, eu adoro tanto que adotei o nome. Já pensou se eu usasse o Valdemir que minha mãezinha me deu? Coitadinha, tão bem-intencionada. Mas o nome, ai, o nome. Coisa mais cafona. Aí mudei. Se Deus quiser, um dia ainda vou morrer estrangulada pela minha própria echarpe. Tem coisa mais chique?
— Bacana — eu disse.
O sargento ria, esfregando as mãos.
— Não repare, Isadora. Ele está meio encabulado. Dizque é a primeira vez.
— Nossa. Taludinho assim. E nunca fez, é, meu bem? Nunquinha, jura pra tia? — A mão no meu ombro, pedra de anel arranhando leve meu pescoço. Revirou os olhos. — Conta a verdade pra tua Isadora, toda a verdade, nada mais que a verdade. Tu nunca fez, guri? — Tentei sorrir, O canto da minha boca tremeu. Ele falava sem parar, olhinhos meio estrábicos, sombreados de azul. — Mas olha, relaxa que vai dar tudo certinho. Sempre tem uma primeira vez na vida, é um momento histórico, queridinho. Merece até uma comemoração. Uma cachacinha, sargento? Tem aí daquela divina que o senhor gosta.
— O moço tá com pressa.
Isadora piscou maliciosa, os cílios duros de tinta respingando pequenos pontinhos pretos nas faces.
— Pressa, eu, hein? Sei. Não é todo dia que a gente tem carne fresquinha na mesa. De primeira, não é, sargento? — Ele riu. Ela rodou a chave nas mãos e, por um instante, pensei numa baliza na frente de um desfile de Sete de Setembro, jogando para o alto o bastão cheio de fitas coloridas. Tá bem, tá bem. Vou levar os pombinhos para a suíte nupcial. Que tal o quarto 7? Número da sorte, não? Afinal, a primeira vez é uma só na vida. — Passou por mim, enfiando-se no corredor escuro. — Tenho certeza que o mocinho vai a-do-rar, ficar freguês de caderno. Ninguém esquece uma mulher como Isadora.
O sargento me empurrou. Entre a farda verde e o robe cheio de manchas, o cheiro de suor e perfume adocicado, imprensado no corredor estreito, eu. Isadora cantava que queres tu de mim que fazes junto a mim se tudo está perdido amor? Um ruído seco, ferro contra ferro. A cama com lençóis encardidos, um rolo de papel higiênico cor-de-rosa sobre o caixote que servia de mesinha-de-cabeceira. Isadora enfiou a cabeça despenteada pelo vão da porta. — Divirtam-se, crianças. Só não gritem muito, senão os vizinhos ficam umas feras.
A cabeça desapareceu. A porta fechou. Sentei na cama, as mãos nos bolsos. Ele foi chegando muito perto. O volume esticando a calça, bem perto do meu rosto. O cheiro: cigarro, suor, bosta de cavalo. Ele enfiou a mão pela gola da minha camisa, deslizou os dedos, beliscou o mamilo. Estremeci. Gozo, nojo ou medo, não saberia. Os olhos dele se contraíram.
— Tira a roupa.
Joguei as peças, uma por uma, sobre o assoalho sujo. Deitei de costas. Fechei os olhos. Ardiam, como se tivesse acordado de manhã muito cedo. Então um corpo pesado caiu sobre o meu e uma boca molhada, uma boca funda feito poço, uma língua ágil lambeu meu pescoço, entrou no ouvido, enfiou-se pela minha boca, um choque seco de dentes, ferro contra ferro, enquanto dedos hábeis desciam por minhas virilhas inventando um caminho novo. Então que culpa tenho eu se até o pranto que chorei se foi por ti não sei — a voz de Isadora vinha de longe, como se saísse de dentro de um aquário, Isadora afogada, a maquiagem derretida colorindo a água, a voz aguda misturada aos gemidos, metendo-se entre aquele bafo morno, cigarro, suor, bosta de cavalo, que agora comandava meus movimentos, virando- me de bruços sobre a cama.
O cheiro azedo dos lençóis, senti, quantos corpos teriam passado por ali, e de quem, pensei. Tranquei a respiração. Os olhos abertos, a trama grossa do tecido. Com os joelhos, lento, firme, ele abria caminho entre as minhas coxas, procurando passagem. Punhal em brasa, farpa, lança afiada. Quis gritar, mas as duas mãos se fecharam sobre a minha boca. Ele empurrou, gemendo. Sem querer, imaginei uma lanterna rasgando a escuridão de uma caverna escondida, há muitos anos, uma caverna secreta. Mordeu minha nuca. Com um movimento brusco do corpo, procurei jogá-lo para fora de mim.
— Seu puto — ele gemeu. — Veadinho sujo. Bichinha-louca.
Agarrei o travesseiro com as duas mãos, e num arranco consegui deitar novamente de costas. Minha cara roçou contra a barba dele.
Tornei a ouvir a voz de Isadora que mais me podes dar que mais me tens a dar a marca de uma nova dor Molhada, nervosa, a língua voltou a entrar no meu ouvido. As mãos agarraram minha cintura. Comprimiu o corpo inteiro contra o meu. Eu podia sentir os pêlos molhados do peito dele melando a minha pele. Quis empurrá-lo outra vez, mas entre o pensamento e o gesto ele juntou-se ainda mais a mim, e depois um gemido mais fundo, e depois um estremecimento no corpo inteiro, e depois um líquido grosso morno viscoso espalhou-se pela minha barriga. Ele soltou o corpo. Como um saco de areia úmida jogado sobre mim.
A madeira amarela do teto, eu vi. O fio comprido, o bico de luz na ponta. Suspenso, apagado. Aquele cheiro adocicado boiando na penumbra cinza do quarto.
Quando ele estendeu a mão para o rolo de papel higiênico, consegui deslizar o corpo pela beirada da cama, e de repente estava no meio do quarto enfiando a roupa, abrindo a porta, olhando para trás ainda a tempo de vê- lo passar um pedaço de papel sobre a própria barriga, uma farda verde em cima da cadeira, ao lado das botas negras brilhantes, e antes que erguesse os olhos afundei no túnel escuro do corredor, a sala deserta com suas flores podres, a voz de Isadora ainda mais remota, se até o pranto que chorei se foi por ti não sei, barulho de copos na cozinha, o vidro rachado, a madeira descascada da porta, os quatro degraus de cimento, o portão azul, alguém gritando alguma coisa, mas longe, tão longe como se eu estivesse na janela de um trem em movimento, tentando apanhar um farrapo de voz na plataforma da estação cada vez mais recuada, sem conseguir juntar os sons em palavras, como uma língua estrangeira, como uma língua molhada nervosa entrando rápida pelo mais secreto de mim para acordar alguma coisa que não devia acordar nunca, que não devia abrir os olhos nem sentir cheiros nem gostos nem tatos, uma coisa que deveria permanecer para sempre surda cega muda naquele mais de dentro de mim, como os reflexos escondidos, que nenhum ofuscamento se fizesse outra vez, porque devia ficar enjaulada amordaçada ali no fundo pantanoso de mim, feito bicho numajaula fedida, entre grades e ferrugens quieta domada fera esquecida da própria ferocidade, para sempre e sempre assim.
Embora eu soubesse que, uma vez desperta, não voltaria a dormir,
Dobrei a esquina, passei na frente do colé gio sentei na praça onde as luzes recém começavam a acender. A bunda nua da estátua de pedra. Zeus, Zeus ou Júpiter, repeti. Enumerei: Palas-Atena ou Minerva, Posêidon ou Netuno, Hades ou Plutão, Afrodite ou Vênus, Hermes ou Mercúrio. Hermes, repeti, o mensageiro dos deuses, ladrão e andrógino. Nada doía. Eu não sentia nada. Tocando o pulso com os dedos podia perceber as batidas do coração. O ar entrava e saía, lavando os pulmões. Por cima das árvores do parque ainda era possível ver algumas nuvens avermelhadas, o rosa virando roxo, depois cinza, até o azul mais escuro e o negro da noite. Vai chover amanhã, pensei, vai cair tanta e tanta chuva que será como se a cidade toda tomasse banho. As sarjetas, os bueiros, os esgotos levariam para o rio todo o pó, toda a lama, toda a merda de todas as ruas.
Queria dançar sobre os canteiros, cheio de uma alegria tão maldita que os passantes jamais compreenderiam. Mas não sentia nada. Era assim, então. E ninguém me conhecia.
Subi correndo no primeiro bonde, sem esperar que parasse, sem saber para onde ia. Meu caminho, pensei confuso, meu caminho não cabe nos trilhos de um bonde. Pedi passagem, sentei, estiquei as pernas. Porque ninguém esquece uma mulher como Isadora, repeti sem entender, debruçado na janela aberta, olhando as casas e os verdes do Bonfim. Eu não o conhecia. Eu nunca o tinha visto em toda a minha vida. Uma vez desperta não voltará a dormir.
O bonde guinchou na curva. Amanhã, decidi, amanhã sem falta começo a fumar.
1
Hermes. — O rebenque estalou contra a madeira gasta da mesa. Ele repetiu mais alto, quase gritando, quase com raiva: — Eu chamei Hermes. Quem é essa lorpa?
Avancei do fundo da sala.
— Sou eu.
— Sou eu, meu sargento. Repita.
Os outros olhavam, nus como eu. Só se ouvia o ruído das pás do ventilador girando enferrujadas no teto, mas eu sabia que riam baixinho, cutucando-se excitados. Atrás dele, a parede de reboco descascado, a janela pintada de azul-marinho aberta sobre um pátio cheio de cinamomos caiados de branco até a metade do tronco. Nenhum vento nas copas imóveis. E moscas amolecidas pelo calor, tão tontas que se chocavam no ar, entre o cheiro da bosta quente de cavalo e corpos sujos de machos.
De repente, mais nu que os outros, eu: no centro da sala. O suor escorria pelos sovacos.
— Ficou surdo, idiota?
— Não. Não, seu sargento.
— Meu sargento.
— Meu sargento.
— Por que não respondeu quando eu chamei?
— Não ouvi. Desculpe, eu...
— Não ouvi, meu sargento. Repita.
— Não ouvi. Meu sargento.
Parecia divertido, o olho verde frio de cobra quase oculto sob as sobrancelhas unidas em ângulo agudo sobre o nariz. Começava a odiar aquele bigode grosso como um manduruvá cabeludo rastejando em volta da boca, cortina de veludo negro entreaberta sobre os lábios molhados.
— Tem cera nos ouvidos, pamonha?
Olhou em volta, pedindo aprovação, dando licença. Um alívio percorreu a sala. Os homens riam livremente agora. Podia ver, à minha direita, o alemão de costela quebrada, a ponta quase furando a barriga sacudida por um riso banguela. E o saco murcho do crioulo parrudo.
— Não, meu sargento.
— E no rabo?
Surpreso e suspenso, o coro de risos. As pás do ventilador voltaram a arranhar o silêncio, feito filme de mocinho, um segundo antes do tiro. Ele olhou os homens, um por um. O riso recomeçou, estridente. A ponta da costela vibrava no ar, um acidente na roça com minha ermón. Imóveis, as folhas bem de cima dos cinamomos. O saco murcho, como se não houvesse nada dentro, sou faixa preta, morou? Uma mosca esvoaçou perto do meu olho. Pisquei.
— Esquece. E não pisca, bocó. Só quando eu mandar.
Levantou-se e veio vindo na minha direção. A camiseta branca com grandes manchas de suor embaixo dos braços peludos, cruzados sobre o peito, a ponta do rebenque curto de montaria, ereto e tenso, batendo ritmado nos cabelos quase raspados. duros de brilhantina, colados ao crânio. Num salto, o rebenque enveredou em direção à minha cara, desviou-se a menos de um palmo, zunindo, para estalar com força nas botas. Estremeci. Era ridícula a sensação de minha bunda exposta, branca e provavelmente trêmula, na frente daquela meia dúzia de homens pelados. O manduruvá contraiu-se, lesma respingada de sal, a cortina afastou-se para um lado. Um brilho de ouro dançou sobre o canino esquerdo.
— Está com medo, molóide?
— Não, meu sargento. É quê.
O rebenque estalou outra vez na bota. Couro contra couro. Seco. A sala inteira pareceu estremecer comigo. Na parede, o retrato do marechal Castelo Branco oscilou. Os risos cessaram. Mas junto com o zumbido do sangue quente na minha cabeça, as pás ferrugentas do ventilador e o vôo gordo das moscas, eu localizava também um ofegar seboso, nojento. Os outros esperavam. Eu esperava. Seria assim, um cristão na arena? pensei sem querer. O leão brincando com a vítima, patas vadias no ar, antes de desferir o golpe mortal.
— Quem fala aqui sou eu, correto?
— Correto, sargento. Meu sargento.
— Limite-se a dizer sim, meu sargento ou não, meu sargento. Correto?
— Sim, meu sargento
Muito perto, cheiro de suor de gente e cavalo, bosta quente, alfafa, cigarro e brilhantina. Sem mover a cabeça, senti seus olhos de cobra percorrendo meu corpo inteiro vagarosamente. Leão entediado, general espartano, tão minucioso que podia descobrir a cicatriz de arame farpado escondida na minha coxa direita, os três pontos de uma pedrada entre os cabelos, e pequenas marcas, manchas, mesmo as que eu desconhecia, todas as verrugas e os sinais mais secretos da minha pele. Moveu o cigarro com os dentes. A brasa quente passou raspando junto à minha face. O mamilo do peito saliente roçou meu ombro. Voltei a estremecer.
— Mocinho delicado, hein? É daqueles bem-educados, é? Pois se te pego num cortado bravo, tu vai ver o que é bom pra tosse, perobão.
Os homens remexiam-se, inquietos. Romanos, queriam sangue. O rebenque, a bota, o estalo.
— Sen-tido!
Estiquei a coluna. O pescoço doía, retesado. As mãos pareciam feitas apenas de ossos crispados, sem carne, pele nem músculos. Pisou o cigarro com o salto da bota. Cuspiu de lado.
— Descan-sar!
Girou rápido sobre os calcanhares, voltando para a mesa. Cruzei as mãos nas costas, tentando inutilmente esconder a bunda nua. Além da copa dos cinamomos, o céu azul não tinha nenhuma nuvem. Mas lá embaixo, na banda do rio, o horizonte começava a ficar avermelhado. Com um tapa, alguém esmagou uma mosca.
— Silêncio, patetas!
Olhou para o meu peito. E baixou os olhos um pouco mais.
— Então tu é que é o tal de Hermes?
— Sim, meu sargento.
— Tem certeza?
— Sim, meu sargento.
— Mas de onde foi que tu tirou esse nome?
— Não sei, meu sargento.
Sorriu. Eu pressenti o ataque. E quase admirei sua capacidade de comandar as reações daquela manada bruta da qual, para ele, eu devia fazer parte. Presa suculenta, carne indefesa e fraca. Como um idiota, pensei em Deborah Kerr no meio dos leões em cinemascope, cor de luxe, túnica branca, rosas nas mãos, um quadro antigo na casa de minha avó, Cecília entre os leões, ou seria Jean Simmons? figura de catecismo, os-ristãos-eram-obrigados-a-negar-sua-fé-sob-pena-de-morte, o padre Lima fugiu com a filha do barbeiro, que deve ter virado mula-sem-cabeça, a filha, não o padre, nem o barbeiro. O silêncio crescendo. Um cavalo esmolambado cruzou o espaço vazio da janela, palco, tela, minha cabeça galopava, Steve Reeves ou Victor Macture, sozinho na arena, peitos suados, o mártir, estrangulando o leão, os cantos da boca, não era assim, ascomissuras-dos-lábios-voltadas-para-baixonum-esforço-hercúleo, o trigo venceu a ferocidade do monstro de guampas. A mosca pousou bem na ponta do meu nariz.
— Por acaso tu é filho das macegas?
Minha cara incendiava. Ele apagou o cigarro dentro do pequeno capacete militar invertido, sustentado por três espingardas cruzadas. E me olhou de frente, pela primeira vez, firme, sobrancelhas agudas sobre o nariz, fundo, um falcão atento à presa, forte. A mosca levantou vôo da ponta do meu nariz.
Não me fira, pensei com força, tenho dezessete anos, quase dezoito, gosto de desenhar, meu quarto tem um Anjo da Guarda com a moldura quebrada, a janela dá para um jasmineiro, no verão eu fico tonto, meu sargento, me dá assim como um nojo doce, a noite inteira, todas as noites, todo o verão, vezenquando saio nu na janela com uma coisa que não entendo direito acontecendo pelas minhas veias, depois abro As mil e uma noites e tento ler, meu sargento, sois um bom dervixe, habituado a uma vida tranqüila, distante dos cuidados do mundo, na manhã seguinte minha mãe diz sempre que tenho olheiras, e bate na porta quando vou ao banheiro e repete repete que aquele disco da Nara Leão é muito chato, que eu devia parar de desenhar tanto, porque já tenho dezessete anos, quase dezoito, e nenhuma vergonha na cara, meu sargento, nenhum amigo, só esta tontura seca de estar começando a viver, um monte de coisas que eu não entendo, todas as manhãs, meu sargento, para todo o sempre, amém.
Feito cometas, faíscas cruzaram na frente dos meus olhos. Tive medo de cair. Mas as folhas mais altas dos cinamomos começaram a se mover. O sol quase caindo no Guaíba. E não sei se pelo olhar dele, se pelo nariz livre da mosca, se pela minha história, pela brisa vinda do rio ou puro cansaço, parei de odiá-lo naquele exato momento. Como quem muda uma estação de rádio. Esta, sentia impreciso, sem interferências.
— Pois, seu Hermes, então tu é o tal que tem pé chato, taquicardia e pressão baixa? O médico me disse. Arrimo de família, também?
— Sim, meu sargento — menti apressado, aquele médico amigo de meu pai. Uma suspeita cruzou minha cabeça, e se ele descobrisse? Mas tive certeza: ele já sabia. O tempo todo. Desde o começo. Movimentei os ombros, mais leves. Olhei fundo no fundo frio do olho dele.
— Trabalha?
— Sim, meu sargento — menti outra vez.
—Onde?
— Num escritório, meu sargento.
— Estuda?
— Sim, meu sargento.
—O quê?
— Pré-vestibular, meu sargento.
— E vai fazer o quê? Engenharia, direito, medicina?
— Não, meu sargento.
— Odontologia? Agronomia? Veterinária?
— Filosofia, meu sargento.
Uma corrente elétrica percorreu os outros. Esperei que atacasse novamente. Ou risse. Tornou a me examinar lento. Respeito, aquilo, ou pena? O olhar se deteve, abaixo do meu umbigo.
Acendeu outro cigarro, Continental sem filtro, eu podia ver, com o isqueiro em forma de bala. Espiou pela janela. Devia ter visto o céu avermelhado sobre o rio, o laranja do céu, o quase roxo das nuvens amontoadas no horizonte das ilhas. Voltou os olhos para mim. Pupilas tão contraídas que o verde parecia vidro liso, fácil de quebrar.
— Pois, seu filósofo, o senhor está dispensado de servir à pátria. Seu certificado fica pronto daqui a três meses. Pode se vestir. — Olhou em volta, o alemão, o crioulo, os outros machos. — E vocês, seus analfabetos, deviam era criar vergonha nessa cara porca e se mirar no exemplo aí do moço. Como se não bastasse ser arrimo de família, um dia ainda vai sair filosofando por aí, enquanto vocês vão continuar pastando que nem gado até a morte.
Caminhei para a porta, tão vitorioso que meu passo era uma folha vadia, dançando na brisa da tardezinha. Abriram caminho para que eu passasse. Lerdos, vencidos. Antes de entrar na outra sala, ouvi o rebenque estalando contra a bota negra.
— Sen-tido! Estão pensando que isso aqui é o cu-da-mãe-joana?
2
Parado no portão de ferro, olhei direto para o sol. Meu truque antigo: o em-volta tão claro que virava seu oposto e se tornava escuro, enchendo-se de sombras e reflexos que se uniam aos poucos, organizando-se em forma de objetos ou apenas dançando soltos no espaço à minha frente, sem formar coisa alguma. Eram esses os que me interessavam, os que dançavam vadios no ar, sem fazer parte das nuvens, das árvores nem das casas. Eu não sabia para onde iriam, depois que meus olhos novamente acostumados à luz colocavam cada coisa em seu lugar, assim: casa — paredes, janelas e portas; árvores — tronco, galhos e folhas; nuvens — fiapos estirados ou embolados, vezenquando brancos, vezenquando coloridos. Cada coisa era cada coisa e inteira, na união de todas as suas infinitas partes. Mas e as sombras e os reflexos, esses que não se integravam em forma alguma, onde ficavam guardados? Para onde ia a parte das coisas que não cabia na própria coisa? Para o fundo do meu olho, esperando o ofuscamento para vir à tona outra vez? Ou entre as próprias coisas-coisas, no espaço vazio entre o fim de uma parte e o começo de outra pequena parte da coisa inteira? Como um por trás do real, feito espírito de sombra ou luz, claro-escuro escondido no mais de-dentro de um tronco de árvore ou no espaço entre um tijolo e outro ou no meio de dois fiapos de nuvem, onde? As cigarras chiavam no pátio de cinamomos caiados.
Respirei fundo, erguendo um pouco os ombros para engolir mais ar. Meu corpo inteiro nunca tinha me parecido tão novo. Comecei a descer o morro, o quartel ficando para trás. Bola de fogo suspensa, o sol caía no rio. Sacudi um pé de manacá, a chuva adocicada despencou na minha cabeça. Na primeira curva, o Chevrolet antigo parou a meu lado. Como um grande morcego cinza.
— Vai pra cidade?
Como se estivesse surpreso, espiei para dentro. Ele estava debruçado na janela, o sol iluminando o meio sorriso, fazendo brilhar o remendo dourado do canino esquerdo.
— Quer carona?
— Vou tomar o bonde logo ali na Azenha.
— Te deixo lá — disse. E abriu a porta do carro.
Entrei. O cigarro moveu-se de um lado para outro na boca, enquanto a mão engatava a primeira. Um vento entrando pela janela fazia meu cabelo voar. Ele segurou o cigarro, Continental sem filtro, eu tinha visto, entre o polegar e o indicador amarelados, cuspiu pela janela, depois me olhou.
— Ficou com medo de mim?
Não parecia mais um leão, nem general espartano. A voz macia, era um homem comum sentado na direção de seu carro. Tirei do bolso a caixinha de chicletes, abri devagar sem oferecer. Mastiguei.
A camada de açúcar partiu-se, um sopro gelado abriu minha garganta. Engoli o vento para que ficasse ainda mais gelada.
— Não sei. — E quase acrescentei meu sargento. Sorri por dentro. — Bom, no começo fiquei um pouco. Depois vi que o senhor estava do meu lado.
— Senhor, não: Garcia, a bagualada toda me chama de Garcia. Luiz Garcia de Souza.
Sargento Garcia. — Simulou uma continência, tornou a cuspir, tirando antes o cigarro da boca.
— Quer dizer então que tu achou que eu estava do teu lado. — Eu quis dizer qualquer coisa, mas ele não deixou. O carro chegava no fim do morro. — É que logo vi que tu era diferente do resto. — Olhou para mim. Sem frio nem medo, me encolhi no banco. — Tenho que lidar com gente grossa o dia inteiro. Nem te conto. Aí quando aparece um moço mais fino, assim que nem tu, a gente logo vê. — Passou os dedos no bigode. — Então quer dizer que tu vai ser filósofo, é? Mas me conta, qual é a tua filosofia de vida?
— De vida? — Eu mordi o chiclete mais forte, mas o açúcar tinha ido embora. — Não sei, outro dia andei lendo um cara aí. Leibniz, aquele das mônadas, conhece?
—Das o quê?
— As mônadas. É um cara aí, ele dizia que tudo no universo são. Assim que nem janelas fechadas, como caixas. Mônadas, entende? Separadas umas das outras. — Ele franziu a testa, interessado. Ou sem entender nada. Continuei:
— Incomunicáveis, entende? Umas coisas assim meio sem ter nada a ver umas com as outras.
—Tudo?
— É, tudo, eu acho. As casas, as pessoas, cada uma delas. Os animais, as plantas, tudo. Cada um, uma mônada. Fechada.
Pisou no freio. Estendi as mãos para a frente.
— Mas tu acredita mesmo nisso?
— Eu acho quê.
— Pois pra te falar a verdade, eu aqui não entendo desses troços. Passo o dia inteiro naquele quartel, com aquela bagualada mais grossa que dedo destroncado. E com eles a gente tem é que tratar assim mesmo, no braço, trazer ali no cabresto, de rédea curta, senão te montam pelo cangote e a vida vira um inferno. Não tenho tempo pra perder pensando nessas coisas aí de universo
- A voz amaciou, depois tornou a endurecer. — Minha filosofia de vida é simples: pisa nos outros antes que te pisem. Não tem essas mônicas daí.
Mas tu tem muita estrada pela frente, guri. Sabe que idade eu tenho? — Examinou meu rosto. Eu não disse nada. — Pois tenho trinta e três. Do teu tamanho andava por aí meio desnorteado, matando contrabandista na fronteira. O quartel é que me pôs nos eixos, senão tinha virado bandido. A vida me ensinou a ser um cara aberto, admito tudo. Só não agüento comunista. Mas graças a Deus a revolução já deu um jeito nesse putedo todo. Aprendi a me virar, seu filósofo. A me defender no braço e no grito. — Jogou fora o cigarro. A voz macia outra vez. — Mas contigo é diferente.
Mastiguei o chiclete com mais força. Agora não passava de uma borracha sem gosto.
— Diferente como?
Ele olhava direto para mim. Embora o vento entrasse pela janela aberta, uma coisa morna tinha se instalado dentro do carro, naquele ar enfumaçado entre ele e eu. Podia haver pontes entre as mônadas, pensei. E mordi a ponta da língua.
— Assim, um moço fino, educado. Bonito.
— Fez uma curva mais rápida. O pneu guinchou.
— Escuta, tu tem mesmo que ir embora já?
— Agora já, já, não. Mas se eu chegar em casa muito tarde minha mãe fica uma fúria.
Mais duas quadras e chegaríamos no ponto do bonde, em frente ao cinema Castelo. Bem depressa, eu tinha que dizer ou fazer alguma coisa, só não sabia o que, meu coração galopava esquisito, as palmas das mãos molhadas.
Olhei para ele. Continuava olhando para mim. As casas baixas da Azenha passavam amontoadas, meio caídas umas sobre as outras, uma parede rosa, umajanela azul, uma porta verde, um gato preto numa janela branca, uma mulher de lenço amarelo na cabeça, chamando alguém, a lomba do cemitério, uma menina pulando corda, os ciprestes ficando para trás. Estendeu a mão.
Achei que ia fazer uma mudança, mas os dedos desviaram-se da alavanca para pousar sobre a minha coxa.
— Escuta, tu não tá a fim de dar uma chegada comigo num lugar aí?
— Que lugar? — Temi que a voz desafinasse. Mas saiu firme.
Aranha lenta, a mão subiu mais, deslizou pela parte interna da coxa. E apertou, quente.
— Um lugar aí. Coisa fina. A gente pode ficar mais à vontade, sabe como é. Ninguém incomoda. Quer?
Tínhamos ultrapassado o ponto do bonde. Bem no fundo, lá onde o riacho encontrava com o Guaíba, só a parte superior do sol estava fora d’água. Devia estar amanhecendo no Japão — antípodas, mônadas —, nessas horas eu sempre pensava assim. Me vinha a sensação de que o mundo era enorme, cheio de coisas desconhecidas. Boas nem más. Coisas soltas feito aqueles reflexos e sombras metidos no meio de outras coisas, como se nem existissem, esperando só a hora da gente ficar ofuscado para sair flutuando no meio do que se podia tocar. Assim: dentro do que se podia tocar, escondido, vivia também o que só era visível quando o olho ficava tão inundado de luz que enxergava esse invisível no meio do tocável. Eu não sabia.
— Me dá um cigarro — pedi. Ele acendeu. Tossi. Meu pai com o cinturão dobrado, agora tu vai me fumar todo esse maço, desgraçado, parece filho de bagaceira. A mão quente subiu mais, afastou a camisa, um dedo entrou no meu umbigo, apertou, juntou-se aos outros, aranha peluda, tornou a baixar, caminhando entre as minhas pernas.
— Claro que quer. Estou vendo que tu não quer outra coisa, guri.
Pegou na minha mão. Conduziu-a até o meio das pernas dele. Meus dedos se abriram um pouco. Duro, tenso, rijo. Quase estourando a calça verde. Moveu-se, quando toquei, e inchou mais. Cavidades-porosas-que-se-en chem-de-sangue-quando-excitadas
Meu primo gritou na minha cara: maricão, mariquinha, quiáquiáquiá. O vento descabelava o verde da Redenção, os coqueiros da João Pessoa. Mariquinha, maricão, quiáquiáquiá. E não, eu não sabia.
— Nunca fiz isso.
Ele parecia contente.
— Mas não me diga. Nunca? Nem q
uando era piá? Uma sacanagenzinha ali, na beira da sanga? Nem com mulher? Com china de zona? Não acredito. Nem nunca barranqueou égua? Tamanho homem.
— É verdade.
Diminuiu a marcha. Curvou-se sobre mim.
— Pois eu te ensino. Quer?
Traguei fundo. Uma tontura me subiu pela cabeça. De dentro das casas, das árvores e das nuvens, as sombras e os reflexos guardados espiavam, esperando que eu olhasse outra vez direto para o sol. Mas ele já tinha caído no rio. Durante a noite os pontos de luz dormiam quietos escondidos, guardados no meio das coisas. Ninguém sabia. Nem eu.
— Quero — eu disse.
3
Vontade de parar, eu tinha, mas o andar era inconsolável, a cabeça em várias direções, subindo a ladeira atrás dele, tu sabe como é, tem sempre gente espiando a vida alheia, melhor eu ir na frente, fica no portão azul, vem vindo devagar, como se tu não me conhecesse, como se nunca tivesse me visto em toda a tua vida.
Como se nunca o tivesse visto em toda a minha vida, seguia aquela mancha verde, mãos nos bolsos, cigarro aceso, de repente sumindo portão adentro com um rápido olhar para trás, gancho que me fisgava. Mergulhei na sombra atrás dele. Subi os degraus de cimento, empurrei a porta entreaberta, madeira velha, vidro rachado, penetrei na sala escura com cheiro de mofo e cigarro velho, flores murchas boiando em água viscosa.
— O de sempre, então? — ela perguntava, e quase imediatamente corrigi, dentro da minha própria cabeça, olhando melhor e mais atento, ele, dentro de um robe colorido desses meio estofadinhos, cheio de manchas vermelhas de tomate, batom, esmalte ou sangue. — O senhor, hein, sargento? — piscou íntimo, íntima, para o sargento e para mim. — Esta é a sua vítima?
— Conhece a Isadora?
A mão molhada, cheia de anéis, as longas unhas vermelhas, meio descascadas, como a porta. Apertei. Ela riu.
— Isadora, queridinho. Nunca ouviu falar? Isadora Duncan, a bailarina. Uma mulher finíssima, má-ravilhosa, a minha ídola, eu adoro tanto que adotei o nome. Já pensou se eu usasse o Valdemir que minha mãezinha me deu? Coitadinha, tão bem-intencionada. Mas o nome, ai, o nome. Coisa mais cafona. Aí mudei. Se Deus quiser, um dia ainda vou morrer estrangulada pela minha própria echarpe. Tem coisa mais chique?
— Bacana — eu disse.
O sargento ria, esfregando as mãos.
— Não repare, Isadora. Ele está meio encabulado. Dizque é a primeira vez.
— Nossa. Taludinho assim. E nunca fez, é, meu bem? Nunquinha, jura pra tia? — A mão no meu ombro, pedra de anel arranhando leve meu pescoço. Revirou os olhos. — Conta a verdade pra tua Isadora, toda a verdade, nada mais que a verdade. Tu nunca fez, guri? — Tentei sorrir, O canto da minha boca tremeu. Ele falava sem parar, olhinhos meio estrábicos, sombreados de azul. — Mas olha, relaxa que vai dar tudo certinho. Sempre tem uma primeira vez na vida, é um momento histórico, queridinho. Merece até uma comemoração. Uma cachacinha, sargento? Tem aí daquela divina que o senhor gosta.
— O moço tá com pressa.
Isadora piscou maliciosa, os cílios duros de tinta respingando pequenos pontinhos pretos nas faces.
— Pressa, eu, hein? Sei. Não é todo dia que a gente tem carne fresquinha na mesa. De primeira, não é, sargento? — Ele riu. Ela rodou a chave nas mãos e, por um instante, pensei numa baliza na frente de um desfile de Sete de Setembro, jogando para o alto o bastão cheio de fitas coloridas. Tá bem, tá bem. Vou levar os pombinhos para a suíte nupcial. Que tal o quarto 7? Número da sorte, não? Afinal, a primeira vez é uma só na vida. — Passou por mim, enfiando-se no corredor escuro. — Tenho certeza que o mocinho vai a-do-rar, ficar freguês de caderno. Ninguém esquece uma mulher como Isadora.
O sargento me empurrou. Entre a farda verde e o robe cheio de manchas, o cheiro de suor e perfume adocicado, imprensado no corredor estreito, eu. Isadora cantava que queres tu de mim que fazes junto a mim se tudo está perdido amor? Um ruído seco, ferro contra ferro. A cama com lençóis encardidos, um rolo de papel higiênico cor-de-rosa sobre o caixote que servia de mesinha-de-cabeceira. Isadora enfiou a cabeça despenteada pelo vão da porta. — Divirtam-se, crianças. Só não gritem muito, senão os vizinhos ficam umas feras.
A cabeça desapareceu. A porta fechou. Sentei na cama, as mãos nos bolsos. Ele foi chegando muito perto. O volume esticando a calça, bem perto do meu rosto. O cheiro: cigarro, suor, bosta de cavalo. Ele enfiou a mão pela gola da minha camisa, deslizou os dedos, beliscou o mamilo. Estremeci. Gozo, nojo ou medo, não saberia. Os olhos dele se contraíram.
— Tira a roupa.
Joguei as peças, uma por uma, sobre o assoalho sujo. Deitei de costas. Fechei os olhos. Ardiam, como se tivesse acordado de manhã muito cedo. Então um corpo pesado caiu sobre o meu e uma boca molhada, uma boca funda feito poço, uma língua ágil lambeu meu pescoço, entrou no ouvido, enfiou-se pela minha boca, um choque seco de dentes, ferro contra ferro, enquanto dedos hábeis desciam por minhas virilhas inventando um caminho novo. Então que culpa tenho eu se até o pranto que chorei se foi por ti não sei — a voz de Isadora vinha de longe, como se saísse de dentro de um aquário, Isadora afogada, a maquiagem derretida colorindo a água, a voz aguda misturada aos gemidos, metendo-se entre aquele bafo morno, cigarro, suor, bosta de cavalo, que agora comandava meus movimentos, virando- me de bruços sobre a cama.
O cheiro azedo dos lençóis, senti, quantos corpos teriam passado por ali, e de quem, pensei. Tranquei a respiração. Os olhos abertos, a trama grossa do tecido. Com os joelhos, lento, firme, ele abria caminho entre as minhas coxas, procurando passagem. Punhal em brasa, farpa, lança afiada. Quis gritar, mas as duas mãos se fecharam sobre a minha boca. Ele empurrou, gemendo. Sem querer, imaginei uma lanterna rasgando a escuridão de uma caverna escondida, há muitos anos, uma caverna secreta. Mordeu minha nuca. Com um movimento brusco do corpo, procurei jogá-lo para fora de mim.
— Seu puto — ele gemeu. — Veadinho sujo. Bichinha-louca.
Agarrei o travesseiro com as duas mãos, e num arranco consegui deitar novamente de costas. Minha cara roçou contra a barba dele.
Tornei a ouvir a voz de Isadora que mais me podes dar que mais me tens a dar a marca de uma nova dor Molhada, nervosa, a língua voltou a entrar no meu ouvido. As mãos agarraram minha cintura. Comprimiu o corpo inteiro contra o meu. Eu podia sentir os pêlos molhados do peito dele melando a minha pele. Quis empurrá-lo outra vez, mas entre o pensamento e o gesto ele juntou-se ainda mais a mim, e depois um gemido mais fundo, e depois um estremecimento no corpo inteiro, e depois um líquido grosso morno viscoso espalhou-se pela minha barriga. Ele soltou o corpo. Como um saco de areia úmida jogado sobre mim.
A madeira amarela do teto, eu vi. O fio comprido, o bico de luz na ponta. Suspenso, apagado. Aquele cheiro adocicado boiando na penumbra cinza do quarto.
Quando ele estendeu a mão para o rolo de papel higiênico, consegui deslizar o corpo pela beirada da cama, e de repente estava no meio do quarto enfiando a roupa, abrindo a porta, olhando para trás ainda a tempo de vê- lo passar um pedaço de papel sobre a própria barriga, uma farda verde em cima da cadeira, ao lado das botas negras brilhantes, e antes que erguesse os olhos afundei no túnel escuro do corredor, a sala deserta com suas flores podres, a voz de Isadora ainda mais remota, se até o pranto que chorei se foi por ti não sei, barulho de copos na cozinha, o vidro rachado, a madeira descascada da porta, os quatro degraus de cimento, o portão azul, alguém gritando alguma coisa, mas longe, tão longe como se eu estivesse na janela de um trem em movimento, tentando apanhar um farrapo de voz na plataforma da estação cada vez mais recuada, sem conseguir juntar os sons em palavras, como uma língua estrangeira, como uma língua molhada nervosa entrando rápida pelo mais secreto de mim para acordar alguma coisa que não devia acordar nunca, que não devia abrir os olhos nem sentir cheiros nem gostos nem tatos, uma coisa que deveria permanecer para sempre surda cega muda naquele mais de dentro de mim, como os reflexos escondidos, que nenhum ofuscamento se fizesse outra vez, porque devia ficar enjaulada amordaçada ali no fundo pantanoso de mim, feito bicho numajaula fedida, entre grades e ferrugens quieta domada fera esquecida da própria ferocidade, para sempre e sempre assim.
Embora eu soubesse que, uma vez desperta, não voltaria a dormir,
Dobrei a esquina, passei na frente do colé gio sentei na praça onde as luzes recém começavam a acender. A bunda nua da estátua de pedra. Zeus, Zeus ou Júpiter, repeti. Enumerei: Palas-Atena ou Minerva, Posêidon ou Netuno, Hades ou Plutão, Afrodite ou Vênus, Hermes ou Mercúrio. Hermes, repeti, o mensageiro dos deuses, ladrão e andrógino. Nada doía. Eu não sentia nada. Tocando o pulso com os dedos podia perceber as batidas do coração. O ar entrava e saía, lavando os pulmões. Por cima das árvores do parque ainda era possível ver algumas nuvens avermelhadas, o rosa virando roxo, depois cinza, até o azul mais escuro e o negro da noite. Vai chover amanhã, pensei, vai cair tanta e tanta chuva que será como se a cidade toda tomasse banho. As sarjetas, os bueiros, os esgotos levariam para o rio todo o pó, toda a lama, toda a merda de todas as ruas.
Queria dançar sobre os canteiros, cheio de uma alegria tão maldita que os passantes jamais compreenderiam. Mas não sentia nada. Era assim, então. E ninguém me conhecia.
Subi correndo no primeiro bonde, sem esperar que parasse, sem saber para onde ia. Meu caminho, pensei confuso, meu caminho não cabe nos trilhos de um bonde. Pedi passagem, sentei, estiquei as pernas. Porque ninguém esquece uma mulher como Isadora, repeti sem entender, debruçado na janela aberta, olhando as casas e os verdes do Bonfim. Eu não o conhecia. Eu nunca o tinha visto em toda a minha vida. Uma vez desperta não voltará a dormir.
O bonde guinchou na curva. Amanhã, decidi, amanhã sem falta começo a fumar.
Marcadores: Morangos Mofados
De Lilith, a primeira mulher de Adão, nascida da lama e não de uma costela, até a assanhada Maria Padilha dos ritos afro-brasileiros, as deusas sempre existiram. Poderosíssimas, podem chamar-se Afrodite, Oxum, Ishtar ou lansã. E serem também terríveis, como Kali, que preside a destruição na índia, ou a grega Nêmesis. sempre pronta a punir os arrogantes.
E por falar em deusas, suponho que seja inevitável, na cabeça de todo mundo imediatamente surgir em flash-back a imagem da deletéria Rosana' arfando "como-uma-deusa-você-me-mantém". Cruzes. Além do gosto duvidoso, aqui - ou melhor, ali, porque quanto a mim quero distância - há um engano básico. Fundamental. Ou atávico, já que falamos de ancestralidades. Seguinte: em realmente o sendo, deusas jamais seriam mantidas. Elas têm poderes, são livres.
Mas por essa cançãozinha - insignificante e já envelhecida - é possível perceber o quanto o conceito de deusa foi deturpado no rolar da História. Claro, concordo que Marilyn Monroe foi uma deusa - deixou uma lenda, um mito. Mas Marilyn foi uma deusa-humana, destruída por sua porção divina, que a porção humana não teve barra para segurar. E quem teria? Certo, você pode chamar Maria Callas de deusa, ou Greta Garbo, Marlene Dietrich ou Jean Harlow. Você pode, muito brasileira e justamente, localizar a porção deusa de Maria Bethânia. Porque ela, como essas outras, conquistou o,direito de ser absoluta no que faz. Há até mesmo pequenas deusas à espera de que o tempo e os fados confirmem ou não a sua anunciada divindade. Veja só: Nastassia Kinski, Isabelle Adjani, e até mesmo Marisa Monte, quem viu sabe.
Mas deusas - ou Deusas mesmo, com o D assim em maiúscula - são outra história. Pouco chegada à erudição, mas muito às mitologias, selecionei para vocês algumas das que mais me dizem à piriquita.
Como hoje estou muito didática - escrevo esta matéria com o Sol em Virgem, será por isso? -, vamos em forma de tópicos. Rápidos, mas I hope não demasiado rasteiros. Então:
LlLITH - Segundo a Cabala, a primeira mulher de Adão, Eva que me perdoe. Eva, como é do conhecimento geral, foi feita de uma costela. Já Lilith foi forjada com sangue, saliva e lama. Tinha, portanto, um bom pé – digamos - na cozinha. E mais, era atrevidíssima. Quando Adão, muito timidamente (compreensível: era a primeira vez) pediu a ela que deitasse sob ele, a diaba simplesmente se recusou. Alegou que, como ele, era também feita do pó, portanto sua igual. Jeová ficou uma fera, não bastasse já toda aquela baixaria que tinha rolado com os anjos rebeldes, liderados por Lúcifer. Mas Lilith sentou pé. Foi embora para muito longe, deixou Adão literalmente na mão - até que surgisse a Eva, e dedicou-se a atacar sexualmente apenas os homens que lhe interessavam. Só que Lilith era barra-pesada, nada de carinhos e beijinhos. Vejam só esta descrição de seus arroubos feita pela escritora Sonia Coutinho, no romance Atire em Sofia: "Cubro o corpo dos homens com meu corpo quente e dizem que meu abraço é tão furioso que sufoca. Minhas vítimas têm o maior orgasmo de suas vidas, mas depois desfalecem e entram em crise de melancolia. Um dos meus privilégios é causar a loucura". Lilith é tão deusa que, expurgada do catolicismo oficial, foi ser underground noutras paragens. Na mitologia grega, aparece como Hécate. Na Astrologia esotérica, com seu próprio nome ou Lua Negra, aparece no ponto que revela a libido mais profunda. E até no candomblé a tirana ganhou um sincretismo.
MARIA PADILHA - A Padilha é um Exu feminino, a chamada Pomba Gira. Não, não: Exu não é exatamente um diabo, portanto a Padilha também não é uma diaba. Mas pode ser. Ou quase. Exu, como o Hermes dos gregos ou o Mercúrio dos romanos, na verdade é um go-between, um leva-e-traz, aquele que estabelece o contato entre o humano e o divino. Sem ele, portanto, nada feito. A Padilha, também chamada de Legbá, parece-se a uma cigana: cabelos muito pretos e compridos, rosa vermelha, roupas rendadas vermelhas e pretas. Adora beber, fumar,- e pensa em sexo sem parar. Quem viu a novela Carmen, da TV Manchete, deve lembrar a Maria Padilha que a Lucélia Santos trazia de frente. É preciso cuidado ao lidar com ela, porque tanto faz o bem quanto o mal. Quem quiser arriscar, mas não digam que não avisei, saiba que seus alimentos sagrados são o bode, o galo, a farofa e o dendê, seu dia, a segunda-feira e sua saudação, em jeje-nagô é "Laroiê!"
ISHTAR - Guerreira e amorosa, mas - digamos - bem mais chique que Maria Padilha, é esta deusa dos babilônios. Tão chique que usa um cinto de estrelas, mas tão decidida que sem a menor cerimônia tira o cinto para descer ao mundo das trevas e assumir seu côté heavy. Deusa do amanhecer e do fim de tarde, quando a luz do dia ainda não se definiu, Ishtar desafia o porteiro dos infernos e é capaz de entrar lá dentro ou, pelo menos, provocar uma rebelião dos mortos, se ela for impedida. Ishtar, curiosamente, deu um pulo lá da Babilônia e, vejam como este mundo é pequeno, foi dar na Africa, onde guarda muitas semelhanças com outra poderosa.
IANSÃ - Rainha dos raios, senhora das tempestades, Iansã ou Oyá é a única das deusas do candomblé que tem poder sobre os Eguns, ou espíritos dos mortos. Os Eguns ou Egunguos correm a obedecer cada ordem dada por ela
com sua espada. Iansã, dizem, no começo não era uma mulher, mas um búfalo. Só que de vez em quando tirava a pele e os chifres para transformar-se numa lindíssima mulher. Foi assim que seduziu Ogum, o único a saber de seu segredo, e com ele teve nove filhos. Mas Ogum tinha outras mulheres e um dia, chegado numa birita, encheu a cara e contou às outras mulheres o segredo de Iansã. Furiosa, ela transformou-se em búfalo, matou as outras a chifradas e deu o fora. Em seguida casou com Xangô, mas essa já é outra história que conto logo. Hoje em dia, para chamar Iansã, batem-se dois chifres, um contra o outro. Mas cuidado: ela pode descer numa boa, ou furiosa. Seu dia é a quarta-feira, sua cor, o vermelho vivo e sua saudação, "Eparrei!".
OXUM - Falar em Iansã e não falar em Oxum seria um desrespeito. As duas não são muito amigas, e isso tem vários porquês. Primeiro Xangô, muito mulherengo, era casado de papel passado com Iansã, mas como esta vivia pelas matas brigando, meio sapata (sapatas em geral têm uma Iansã de frente}, ele trouxe para casa também Obá e Oxum. Obá, meio tonta, era ótima para serviços caseiros. Já Oxum, lindíssima e toda sexy, era boa mesmo para o sexo. Rainha das águas doces, Oxum é a senhora do amor e do dinheiro. Preguiçosa, lânguida, adora pentear os cabelos olhar-se num espelho - mas sempre acha que está engordando ou envelhecendo, e se sente só, e então chora. Filhos de Oxum se apaixonam e choram muito. Mas Oxum não é nada boba não: espertíssima, era a única mulher admitida na assembléia dos orixás masculinos. E com muito jeito, conseguiu que Há revelasse só para ela o segredo da adivinhação do futuro pelos búzios. Oxum é a rainha dos sábados, veste-se toda de amarelo e atende pela saudação "Oraieie ô!".
AFRODITE - A Vênus para os romanos, tem tudo a ver com a Oxum do candomblé. Também ela presidia, na Grécia, os rituais amorosos. Afrodite nasceu de uma maneira estranhíssima: o deus Urano tinha a péssima mania de devorar os próprios filhos. Até que um dia encontrou macho pela frente: seu filho Cronos (ou Saturno) simplesmente castrou-o e jogou os, digamos, documentos do pai ao mar. Do encontro dos testículos e do esperma de Urano com a espuma do mar, toda catita, nasceu Vênus, aquela mesma que Botticelli pintou dentro de uma concha. A querida Vênus, como Oxum, também vaidosa, ciumenta e vingativa. Mas - que se há de fazer? - completamente irresistível.
PALAS-ATENA - Ou Minerva, para os gregos. Essa é o oposto total de Afrodite. Palas tinha o maior desprezo pelas picuínhas amorosas. Ao contrário das outras deusas, que viviam chorando potes pelos cantos, enredadas em paixões impossíveis ou complicadíssimas com humanos ou semideuses, ela era uma intelectual. Basta lembrar que nasceu em um dia em que Zeus estava com uma dor de cabeça tão forte que chamou seu filho Vulcano, o ferreiro, para arrebentar-lhe a cabeça com um martelo. Vulcano cumpriu a ordem e, de dentro da cabeça de Zeus, de escudo em punho e armadura, saiu Palas-Atena. Palas portanto não tem pai. Era a deusa da sabedoria e da estratégia da guerra - não da guerra em si, mas das tramas por trás - e tinha um detalhe: manteve-se sempre irredutivelmente virgem. A Arlete Salles fazendo a Carmosina em Tieta - repararam? tem uma Palas-Atena de frente.
IEMANJÁ - No candomblé, Palas-Atena ao contrário dt; Afrodite, que é uma perfeita Oxum, ou de Artemis, deusa caçadora que é uma versão feminina de Oxóssi - teve certa dificuldade para encontrar sincretismo. Acontece que, da Grécia para a África, - talvez pelo
calor? - as piriquitas divinas se acenderam muito, todas ficaram muito eróticas. Mas Iemanjá, como Palas-Atena, foi quem mais manteve a compostura. Rainha das águas do mar, Iemanjá é calmíssima, justa, equilibrada, e não se sabe de outro marido que tenha tido além de Obatalá, com quem teve muitos filhos. E a imagem da grande mãe, como Cibele - deusa frígia - ou Géa - deusa grega da terra. Iemanjá é cultuada no sábado, adora azul, mas também pode ser chegada num rosa bem pink, não resiste à pipoca e é saudada com "Odô iá!".
Tantas, não? E eu aqui pirada, vendo o espaço chegar ao fim e querendo ainda falar pra vocês de Inanana, uma deusa suméria da fertilidade, assassinada pela irmã e depois ressuscitada. Também não vai sobrar espaço para Atagártis, esta uma síria - fenícia, grande deusa da fertilidade e - veja só, como Janaína, uma das versões jovens de Iemanjá - também representada com uma cauda de peixe.
E como esquecer Valquíria, da mitologia teutônica, uma deusa guerreira tipo Iansã, filha de Votã, o deus da tempestade? A Valquíria era tão poderosa que criou até uma espécie de fã-clube, as Valquírias, suas frasqueiras que acompanham as batalhas e carregam a alma dos heróis mortos para o Valhala, a morada dos deuses germânicos. Sem falar em Perséfone, coitadinha, que foi seqüestrada por Hades, deus dos infernos na Grécia, violentada e obrigada a morar para sempre no inferno. E já que voltamos à Grécia, impossível terminar sem falar em Moira, a deusa do destino, a quem ninguém engana - tão soberba que é capaz até de determinar a extensão do poder dos próprios deuses. Soberba e tirana também era Kali, deusa indiana, e tão sanguinária que é retratada com um colar de crânios humanos e olhos vermelhos de sangue.
Terríveis essas meninas, não? Mas tudo isso fica, quem sabe, para um "As Deusas - Parte lI". Me ocorreu agora, como refletia alguém no Esta Valsa é Minha, de Zelda Fitzgerald (outra que tinha um pé na divindade): "Essas garotas acham que podem fazer tudo e permanecer impunes". Não podiam, nem mesmo sendo deusas. Porque aí, queridos, é que entra Nêmesiso Esta às vezes é uma deusa, mas às vezes também apenas uma força cósmica impessoal. Ela é quem pune pela arrogância e orgulho diante dos deuses. E tem um detalhe: sua punição sempre é perfeitamente adequada à natureza do crime. Que saia, hein?.
T. O'Connor, 35, é a mais deusa de todas
E por falar em deusas, suponho que seja inevitável, na cabeça de todo mundo imediatamente surgir em flash-back a imagem da deletéria Rosana' arfando "como-uma-deusa-você-me-mantém". Cruzes. Além do gosto duvidoso, aqui - ou melhor, ali, porque quanto a mim quero distância - há um engano básico. Fundamental. Ou atávico, já que falamos de ancestralidades. Seguinte: em realmente o sendo, deusas jamais seriam mantidas. Elas têm poderes, são livres.
Mas por essa cançãozinha - insignificante e já envelhecida - é possível perceber o quanto o conceito de deusa foi deturpado no rolar da História. Claro, concordo que Marilyn Monroe foi uma deusa - deixou uma lenda, um mito. Mas Marilyn foi uma deusa-humana, destruída por sua porção divina, que a porção humana não teve barra para segurar. E quem teria? Certo, você pode chamar Maria Callas de deusa, ou Greta Garbo, Marlene Dietrich ou Jean Harlow. Você pode, muito brasileira e justamente, localizar a porção deusa de Maria Bethânia. Porque ela, como essas outras, conquistou o,direito de ser absoluta no que faz. Há até mesmo pequenas deusas à espera de que o tempo e os fados confirmem ou não a sua anunciada divindade. Veja só: Nastassia Kinski, Isabelle Adjani, e até mesmo Marisa Monte, quem viu sabe.
Mas deusas - ou Deusas mesmo, com o D assim em maiúscula - são outra história. Pouco chegada à erudição, mas muito às mitologias, selecionei para vocês algumas das que mais me dizem à piriquita.
Como hoje estou muito didática - escrevo esta matéria com o Sol em Virgem, será por isso? -, vamos em forma de tópicos. Rápidos, mas I hope não demasiado rasteiros. Então:
LlLITH - Segundo a Cabala, a primeira mulher de Adão, Eva que me perdoe. Eva, como é do conhecimento geral, foi feita de uma costela. Já Lilith foi forjada com sangue, saliva e lama. Tinha, portanto, um bom pé – digamos - na cozinha. E mais, era atrevidíssima. Quando Adão, muito timidamente (compreensível: era a primeira vez) pediu a ela que deitasse sob ele, a diaba simplesmente se recusou. Alegou que, como ele, era também feita do pó, portanto sua igual. Jeová ficou uma fera, não bastasse já toda aquela baixaria que tinha rolado com os anjos rebeldes, liderados por Lúcifer. Mas Lilith sentou pé. Foi embora para muito longe, deixou Adão literalmente na mão - até que surgisse a Eva, e dedicou-se a atacar sexualmente apenas os homens que lhe interessavam. Só que Lilith era barra-pesada, nada de carinhos e beijinhos. Vejam só esta descrição de seus arroubos feita pela escritora Sonia Coutinho, no romance Atire em Sofia: "Cubro o corpo dos homens com meu corpo quente e dizem que meu abraço é tão furioso que sufoca. Minhas vítimas têm o maior orgasmo de suas vidas, mas depois desfalecem e entram em crise de melancolia. Um dos meus privilégios é causar a loucura". Lilith é tão deusa que, expurgada do catolicismo oficial, foi ser underground noutras paragens. Na mitologia grega, aparece como Hécate. Na Astrologia esotérica, com seu próprio nome ou Lua Negra, aparece no ponto que revela a libido mais profunda. E até no candomblé a tirana ganhou um sincretismo.
MARIA PADILHA - A Padilha é um Exu feminino, a chamada Pomba Gira. Não, não: Exu não é exatamente um diabo, portanto a Padilha também não é uma diaba. Mas pode ser. Ou quase. Exu, como o Hermes dos gregos ou o Mercúrio dos romanos, na verdade é um go-between, um leva-e-traz, aquele que estabelece o contato entre o humano e o divino. Sem ele, portanto, nada feito. A Padilha, também chamada de Legbá, parece-se a uma cigana: cabelos muito pretos e compridos, rosa vermelha, roupas rendadas vermelhas e pretas. Adora beber, fumar,- e pensa em sexo sem parar. Quem viu a novela Carmen, da TV Manchete, deve lembrar a Maria Padilha que a Lucélia Santos trazia de frente. É preciso cuidado ao lidar com ela, porque tanto faz o bem quanto o mal. Quem quiser arriscar, mas não digam que não avisei, saiba que seus alimentos sagrados são o bode, o galo, a farofa e o dendê, seu dia, a segunda-feira e sua saudação, em jeje-nagô é "Laroiê!"
ISHTAR - Guerreira e amorosa, mas - digamos - bem mais chique que Maria Padilha, é esta deusa dos babilônios. Tão chique que usa um cinto de estrelas, mas tão decidida que sem a menor cerimônia tira o cinto para descer ao mundo das trevas e assumir seu côté heavy. Deusa do amanhecer e do fim de tarde, quando a luz do dia ainda não se definiu, Ishtar desafia o porteiro dos infernos e é capaz de entrar lá dentro ou, pelo menos, provocar uma rebelião dos mortos, se ela for impedida. Ishtar, curiosamente, deu um pulo lá da Babilônia e, vejam como este mundo é pequeno, foi dar na Africa, onde guarda muitas semelhanças com outra poderosa.
IANSÃ - Rainha dos raios, senhora das tempestades, Iansã ou Oyá é a única das deusas do candomblé que tem poder sobre os Eguns, ou espíritos dos mortos. Os Eguns ou Egunguos correm a obedecer cada ordem dada por ela
com sua espada. Iansã, dizem, no começo não era uma mulher, mas um búfalo. Só que de vez em quando tirava a pele e os chifres para transformar-se numa lindíssima mulher. Foi assim que seduziu Ogum, o único a saber de seu segredo, e com ele teve nove filhos. Mas Ogum tinha outras mulheres e um dia, chegado numa birita, encheu a cara e contou às outras mulheres o segredo de Iansã. Furiosa, ela transformou-se em búfalo, matou as outras a chifradas e deu o fora. Em seguida casou com Xangô, mas essa já é outra história que conto logo. Hoje em dia, para chamar Iansã, batem-se dois chifres, um contra o outro. Mas cuidado: ela pode descer numa boa, ou furiosa. Seu dia é a quarta-feira, sua cor, o vermelho vivo e sua saudação, "Eparrei!".
OXUM - Falar em Iansã e não falar em Oxum seria um desrespeito. As duas não são muito amigas, e isso tem vários porquês. Primeiro Xangô, muito mulherengo, era casado de papel passado com Iansã, mas como esta vivia pelas matas brigando, meio sapata (sapatas em geral têm uma Iansã de frente}, ele trouxe para casa também Obá e Oxum. Obá, meio tonta, era ótima para serviços caseiros. Já Oxum, lindíssima e toda sexy, era boa mesmo para o sexo. Rainha das águas doces, Oxum é a senhora do amor e do dinheiro. Preguiçosa, lânguida, adora pentear os cabelos olhar-se num espelho - mas sempre acha que está engordando ou envelhecendo, e se sente só, e então chora. Filhos de Oxum se apaixonam e choram muito. Mas Oxum não é nada boba não: espertíssima, era a única mulher admitida na assembléia dos orixás masculinos. E com muito jeito, conseguiu que Há revelasse só para ela o segredo da adivinhação do futuro pelos búzios. Oxum é a rainha dos sábados, veste-se toda de amarelo e atende pela saudação "Oraieie ô!".
AFRODITE - A Vênus para os romanos, tem tudo a ver com a Oxum do candomblé. Também ela presidia, na Grécia, os rituais amorosos. Afrodite nasceu de uma maneira estranhíssima: o deus Urano tinha a péssima mania de devorar os próprios filhos. Até que um dia encontrou macho pela frente: seu filho Cronos (ou Saturno) simplesmente castrou-o e jogou os, digamos, documentos do pai ao mar. Do encontro dos testículos e do esperma de Urano com a espuma do mar, toda catita, nasceu Vênus, aquela mesma que Botticelli pintou dentro de uma concha. A querida Vênus, como Oxum, também vaidosa, ciumenta e vingativa. Mas - que se há de fazer? - completamente irresistível.
PALAS-ATENA - Ou Minerva, para os gregos. Essa é o oposto total de Afrodite. Palas tinha o maior desprezo pelas picuínhas amorosas. Ao contrário das outras deusas, que viviam chorando potes pelos cantos, enredadas em paixões impossíveis ou complicadíssimas com humanos ou semideuses, ela era uma intelectual. Basta lembrar que nasceu em um dia em que Zeus estava com uma dor de cabeça tão forte que chamou seu filho Vulcano, o ferreiro, para arrebentar-lhe a cabeça com um martelo. Vulcano cumpriu a ordem e, de dentro da cabeça de Zeus, de escudo em punho e armadura, saiu Palas-Atena. Palas portanto não tem pai. Era a deusa da sabedoria e da estratégia da guerra - não da guerra em si, mas das tramas por trás - e tinha um detalhe: manteve-se sempre irredutivelmente virgem. A Arlete Salles fazendo a Carmosina em Tieta - repararam? tem uma Palas-Atena de frente.
IEMANJÁ - No candomblé, Palas-Atena ao contrário dt; Afrodite, que é uma perfeita Oxum, ou de Artemis, deusa caçadora que é uma versão feminina de Oxóssi - teve certa dificuldade para encontrar sincretismo. Acontece que, da Grécia para a África, - talvez pelo
calor? - as piriquitas divinas se acenderam muito, todas ficaram muito eróticas. Mas Iemanjá, como Palas-Atena, foi quem mais manteve a compostura. Rainha das águas do mar, Iemanjá é calmíssima, justa, equilibrada, e não se sabe de outro marido que tenha tido além de Obatalá, com quem teve muitos filhos. E a imagem da grande mãe, como Cibele - deusa frígia - ou Géa - deusa grega da terra. Iemanjá é cultuada no sábado, adora azul, mas também pode ser chegada num rosa bem pink, não resiste à pipoca e é saudada com "Odô iá!".
Tantas, não? E eu aqui pirada, vendo o espaço chegar ao fim e querendo ainda falar pra vocês de Inanana, uma deusa suméria da fertilidade, assassinada pela irmã e depois ressuscitada. Também não vai sobrar espaço para Atagártis, esta uma síria - fenícia, grande deusa da fertilidade e - veja só, como Janaína, uma das versões jovens de Iemanjá - também representada com uma cauda de peixe.
E como esquecer Valquíria, da mitologia teutônica, uma deusa guerreira tipo Iansã, filha de Votã, o deus da tempestade? A Valquíria era tão poderosa que criou até uma espécie de fã-clube, as Valquírias, suas frasqueiras que acompanham as batalhas e carregam a alma dos heróis mortos para o Valhala, a morada dos deuses germânicos. Sem falar em Perséfone, coitadinha, que foi seqüestrada por Hades, deus dos infernos na Grécia, violentada e obrigada a morar para sempre no inferno. E já que voltamos à Grécia, impossível terminar sem falar em Moira, a deusa do destino, a quem ninguém engana - tão soberba que é capaz até de determinar a extensão do poder dos próprios deuses. Soberba e tirana também era Kali, deusa indiana, e tão sanguinária que é retratada com um colar de crânios humanos e olhos vermelhos de sangue.
Terríveis essas meninas, não? Mas tudo isso fica, quem sabe, para um "As Deusas - Parte lI". Me ocorreu agora, como refletia alguém no Esta Valsa é Minha, de Zelda Fitzgerald (outra que tinha um pé na divindade): "Essas garotas acham que podem fazer tudo e permanecer impunes". Não podiam, nem mesmo sendo deusas. Porque aí, queridos, é que entra Nêmesiso Esta às vezes é uma deusa, mas às vezes também apenas uma força cósmica impessoal. Ela é quem pune pela arrogância e orgulho diante dos deuses. E tem um detalhe: sua punição sempre é perfeitamente adequada à natureza do crime. Que saia, hein?.
T. O'Connor, 35, é a mais deusa de todas
Marcadores: Dispersos
Não sabia dominar um privilégio. E metais alcalinos eram os metais do subgrupo I e subgrupo IA da classificação periódica dos elementos: lítio, sódio potássio, rubídio e césio. Era isso, permitiu-se enquanto os alunos copiavam rápidos. Observou os três rostos confiantes enquanto ditava, e uma liberdade até então ignorada, a consciência dessa liberdade aflorou, pois que podia pensar e falar ao mesmo tempo, independente do pensamento ser a palavra ou da palavra ser o pensamento. Os olhos azuis pintados da menina de quatorze anos desfilavam pela tampa escura da mesa, mas isso tornava a sua liberdade quase grosseira. Não, grosseira não. Desonesta, isso. Apalpou de leve a palavra e acumulou contradições que, por assim dizer, cerceavam a sua capacidade de pensar e não-dizer, ou vice-versa. Mas mal suportando a alegria da descoberta, imediatamente pensou em dispensar os alunos e entregar-se. Entregar-se a que, homem de deus? agrediu-se quase ríspida, pois. Era preciso adequar -adequar uma necessidade íntima a uma necessidade externa? Então estendeu a tabela para que copiassem. E uniu braços e pernas num movimento de quem se levanta. Cortado em meio, o gesto prendeu-o ao lugar que ocupava. Do lugar que ocupava, o campo de visão era restrito: as cabeças baixas dos três alunos, lado alado, a parede por trás. A parede branca, as cabeças escuras, concentradas. A janela, à esquerda. E o gato. Sempre aquele enorme gato branco sobre o muro do vizinho.
Seguiu atrás do primeiro pensamento, mas não conseguiu recordar. A lucidez vinha sempre assim tão rápida e ofuscante que vivia toda uma vida naquela brevidade, sem deixar marcas, era isso? Era. A existência da lucidez era talvez longa para a lucidez, compreende? aquele menos que um segundo, menos que um grito ou uma iluminação, menos que qualquer coisa que atinja os sentidos -aquilo, pois não havia uma palavra exata para defini-lo, aquilo cumpria a necessidade da coisa. Mas a sua necessidade era mais ampla, reconheceu, por isso não se encontravam, em termos de tempo, a sua necessidade era mais ampla, não que tivesse um raciocínio difícil, mas porque havia todo um processo de despir-se de conceitos anteriores, de barreiras e resistências, para poder compreender. Isso levava horas. Levava horas o despir-se.
Que mais, professor. Os olhos pintados e a exigência da menina de quatorze ano? Estamos no começo, estamos no começo, repetiu várias vezes até reassumir-se. Em tudo precisava de tempo, muito tempo para que as coisas fossem bem-feitas, e não houvesse, não houvesse... Ditou pausado um exercício, não, não havia perigo de ser surpreendido. Os três alunos eram informes em seus invólucros de adolescente. Toda uma estrutura ainda não solidificada, imprecisa, hesitante. Uma natureza que, por incompreensão ou falta de meios para atingir a compreensão, recusava medrosa qualquer aproximação: não lucrariam nada em surpreendê-lo. E mesmo que, independentemente de suas três vontades, o conseguissem, seria só uma coisa brusca e meio espástica como eles próprios -não saberiam o que fazer daquilo e iriam embora sem formular. Era essa a raiz aos poucos ele se sorria, entendendo os próprios processos. Não saberiam formular. E não saber formular uma coisa compreendida é o mesmo que não compreender. Pelo menos para aqueles três, limitou rápido, pois tinha medo de qualquer afirmação. Como explicar a eles que uma coisa pode trazer no seu ser o seu próprio não-ser, ao mesmo tempo e, desculpem, con-co-mi-tan-te-men-te, eles não compreenderiam, e não havia interesse em explicar-lhes, não havia nem mesmo interesse em observá-los: nenhum deles continuaria sendo o que agora era. Aqueles três corpos descobririam de repente a sua força oculta, e apoiados nessa força é que se construiriam em massas sólidas, bem delineadas. Por enquanto, os contornos apenas ameaçavam. Ninguém poderia impor uma definição antes dessa definição impor-se por si mesma: seria como tentar forçar uma natureza a ser aquilo que ela só seria se quisesse.
Era verdade, não sabia dominar um privilégio. Mais além, não sabia dominar. Imediatamente após uma descoberta, um reconhecimento de força, impunha-se uma alegria tão descontrolada que o próximo passo seria um rompimento do processo. Não um concretizar, mas uma destruição. Curvou o corpo, tentando segurar, segurar, segurar. Conseguia. Mas precisava voltar atrás para sintetizar tudo. O processo natural: um reconhecimento de força sobre alguma coisa, o emprego da força sobre essa coisa e as conseqüentes vantagens -era isso? O processo interrompido: um reconhecimento de força sobre alguma coisa, a alegria frenética que isso lhe dava e a destruição não só da força em relação à coisa, mas da força em relação a si mesma, isto é, da própria força. Entendo, suspirou exausto. E olhou o gato lá fora. Mas olhar o gato cansava. Não tinha nada a ver com aquela existência, a menos que começasse a elaborar uma aproximação através de gestos e palavras cotidianos. Havia ainda outro ponto: era preciso descobrir se a força agindo sobre a coisa lhe daria alguma vantagem. Ou desvantagem. Ou nem mesmo vantagem nem desvantagem: nada. Se agisse sobre o gato, o gato lhe daria algo? Algo além do calor de seus pêlos, da dissimulação implícita em seus olhos verdes, do roçar em suas pernas, talvez uma unhada ocasional? O gato não lhe daria nem isso, daria apenas isso ou mais que isso? Mas a menos que tornasse o gato numa coisa que o gato não era, não teria nada.
Os olhos azuis pintados da menina de quatorze anos. Estava certa, sim. Quase mulher, a menina olhou vitoriosa sobre os dois rapazes, ainda curvados sobre a mesa, em cálculos e testas franzidas. Nesse silêncio criado pelo que a menina chamaria, secreta e despudorada, de: uma superioridade -nesse silêncio, era preciso dizer alguma coisa. Então disse estou com um pouco de dor de cabeça. Ah, sim, tenho um comprimido na minha bolsa. Aceitou o comprimido, colocou-o na boca. Sem água? , perguntou a menina. É, sem água. Engoliu. Com isso permitia-se uma extravagância, e a menina provavelmente diria a seus pais na hora do jantar: imaginem, o professor toma comprimidos sem água. E além de ser um professor, passaria a ser também um professor que tomava comprimidos sem água. O que não deixava de ser uma intromissão na sua intimidade. Tentou reassumir a postura omissa, mas os olhos azuis pintados da menina olharam-no dum jeito que seria o mesmo se ela não tivesse olhos azuis pintados. E sorriram, os olhos sorriram, por sobre a boca imóvel. Eu não permito, pensou ele, e deu as costas à menina. Anoitecia, a necessidade de acender a luz concedia um gesto no momento exato.
Acendeu a luz. As coisas tornadas mais claras feriram por um momento. Pareciam os três mais firmes, mais precisos e o sorriso, o sorriso era perigoso. No entanto, as coisas se acumulavam para salvá-lo: os dois rapazes estenderam os cadernos ao mesmo tempo e, ainda bem, um dos exercícios estava errado. O lítio, o sódio e o potássio são os únicos metais menos densos que a água, esclareceu, e o rapaz fez ah! a voz tremida como numa emoção. Olhou-o com curiosidade. O rapaz tremeu mais ainda. Era o mais vago dos três. E por ser o mais vago, justamente o mais perigoso, pois a sua precisão poderia explodir súbita, não anunciada por sinais externos: a sua neblina não permitia uma exploração cuidadosa, e ele podia vir a ser finalmente o que todos temiam. Mas o outro, o outro, procurou amedrontado com os olhos. Ah, o outro tinha pômulos salientes que esticavam a pele dominando todos os movimentos, o outro tinha uma cara lisa, limpa, de pômulos salientes, e o professor não conseguia ir além do rosto sem espinhas, arado. Inesperado olhou os três e não conteve um desespero varrendo pensamento. Disse assim bruto por hoje estamos prontos e, de repente, o professor chorou.
Marcadores: O Inventario do Irremediavel
Para Arnaldo Campos
Desconhecidos -mas somente antes do encontro. Que acontecera no bar. Então, unidos pela mesma cerveja, pelo mesmo desalento, deixaram que o desconhecimento se transmutasse naquela amizade um pouco febril dos que nunca se viram antes. Entre protestos de estima e goles de cerveja depositavam lentos na mesa os problemas íntimos. Enquanto um ouvia, os olhos molhados não se sabia se de álcool ou pranto contido, o outro pensava que nunca tinha encontrado alguém que o compreendesse tão completamente. Era talvez porque não trocavam estímulos, apenas ouviam com ar penalizado, na sabedoria extrema dos que têm consciência de não poder dar nada. Uma mão estendida áspera por entre os copos era o consolo único que se poderiam oferecer.
Com a lucidez dos embriagados, haviam-se reconhecido desde o primeiro momento. Ou talvez estivessem realmente destinados um ao outro, e mesmo Sem o álcool, numa rua repleta saberiam encontrar-se. O fulgor nos olhos e a incerteza intensificada nos passos fora a pergunta de um e a resposta de outro.
O primeiro estava ali sentado há duas horas, mas lá fazia parte do ambiente. Um pouco porque seu emo era de cor igual às paredes do fundo, mas principalmente porque ele era todo bar. Na forma, no conteúdo. Mais exatamente, aquele bar em especial, que tinha uma coruja no nome e nos desenhos da parede. Ave que ele imitava involuntário, nos ombros contraídos, no olhar verrumante. Olhar que lançou sobre o outro no momento da entrada. Este vinha ainda incerto, como se buscasse. E sua imprecisão atingiu o paroxismo quando no choque de olhares.Vacilou sobre as pernas, a roupa parecendo mais amarrotada, subitamente um braço se descontrolou atingindo a mesa mais próxima, varrendo-a quase com doçura. A doçura dos que de repente encontraram sem estar de sobreaviso. A loura oxigenada deu um grito e o homem que a acompanhava aprumou-se em ofensa, pronto a atacar, macho pré-histórico protegendo a fêmea em perigo. Ainda perdido no espanto, o segundo bêbado não reagiu. Suas mãos estavam cheias apenas de perplexidade, não de ódio. Nesse momento, o primeiro bêbado enristou seu metro e noventa de altura, até então diluído no encolhimento de coruja em que se mantinha. Sem dizer palavra encaminhou-se para o amigo -pois que seus olhares haviam sido tão fundos que dispensavam ritos preparatórios antes de empregar o substantivo e tomando-o pelo braço, levou para a mesa. O acompanhante da loura acalmou-se de imediato, enquanto esta ficava ainda mais oxigenada no despeito.
E os dois, satisfeitos com a inesperada oportunidade para a comunicação, foram objetivos ao assunto. Estavam sós. A mulher de um estava viajando; o outro não tinha mulher. Mas tinha noiva, e desconfiava que ela o andava traindo. O outro maravilhou-se com a coincidência, pois tinha quase certeza ser a viagem da mulher apenas um pretexto para encontrar com o amante. Unidos na mesma dor-de-cotovelo, sua amizade esquentou a razão de cem graus pó segundo. Ambos estavam insatisfeitos nos respectivos empregos. Operários, planejaram greves, piquetes, sindicatos, falaram mal do governo. Um deles, que tinha lido uma frase de Marx num almanaque, citou-a com sucesso. E o engajamento era outro elo a reforçar a corrente já sólida que os unia. De elo em elo, ligavam-se cada vez mais. A tal ponto que simplesmente não cabiam mais em si mesmo. Os copos colocavam-se em pé, oscilantes como se estivessem em banho-maria, os cabelos despenteados, rostos vermelhos, olhos chispantes -furiosos e agressivos no diálogo. Nas outras mesas, seres provavelmente frustrados no desencontro farejaram briga e ergueram as cabeças, espreitando. Não sabiam que, por deficiência de vocabulário, a amizade não raro se descontrola e pode levar ao crime. Apenas os dois pressentiram isso, tão sensíveis haviam-se tornado no investigar sem palavras do terreno que ora pisavam. Tudo neles era recíproco -e o medo de se ferirem cresceu junto para explodir num silêncio súbito. Então e encararam, mais desgrenhados do que nunca, e com tapinhas nas costas voltaram à delicadeza dos primeiros momentos.
Mas os frustrados que enchiam o bar estavam achando aquilo um grande desaforo. Não era permitido a duas pessoas se encontrarem num sábado à noite e, ostensivas, humilharem a todos com sua infelicidade dividida. O desespero não repartido dos outros era uma raiva grande, expressa nos gestos de quem não suporta mais. Com a sutileza dos donos de bar, o dono deste sentiu a hostilidade crescente. E medroso de que o choque resultasse em prejuízos para si, colocou-se sem hesitação ao lado da maioria.Dirigiu-se aos dois operários e pediu-lhes que se retirassem. Apoiado em seu metro e noventa, um deles quis reagir. Mas o outro mais fraco e, portanto menos heróico e mais realista, advertiu-o da inconveniência da reação. E olharam ambos os outros desencontrados pelas mesas -subitamente encontrados no mesmo ódio -formando uma muralha indignada. O mais alto, menos por situação financeira do que por força, caindo em si fez questão absoluta de pagar todos os gastos. De braço dado, saíram para a ma drogada.
Fora depararam com o frio e o brilho desmaiado das luzes de mercúrio. Encolheram-se devagar, as desgraças mútuas morrendo em calafrios. O domingo vinha vindo. Eles não sabiam o que fazer das mãos cheias de amizade e lembranças das mulheres ausentes. Bêbados como estavam, a única solução seria abraçarem-se e cantarem. Foi o que fizeram. Não satisfeitos com o gesto e as palavras, desabotoaram as braguilhas e mijaram em comum numa festa de espuma. Como no poema de Vinícius que não tinham lido nem teriam jamais. Depois calaram e olharam para longe, para além dos sexos nas mãos. Nas bandas do rio, amanhecia
Desconhecidos -mas somente antes do encontro. Que acontecera no bar. Então, unidos pela mesma cerveja, pelo mesmo desalento, deixaram que o desconhecimento se transmutasse naquela amizade um pouco febril dos que nunca se viram antes. Entre protestos de estima e goles de cerveja depositavam lentos na mesa os problemas íntimos. Enquanto um ouvia, os olhos molhados não se sabia se de álcool ou pranto contido, o outro pensava que nunca tinha encontrado alguém que o compreendesse tão completamente. Era talvez porque não trocavam estímulos, apenas ouviam com ar penalizado, na sabedoria extrema dos que têm consciência de não poder dar nada. Uma mão estendida áspera por entre os copos era o consolo único que se poderiam oferecer.
Com a lucidez dos embriagados, haviam-se reconhecido desde o primeiro momento. Ou talvez estivessem realmente destinados um ao outro, e mesmo Sem o álcool, numa rua repleta saberiam encontrar-se. O fulgor nos olhos e a incerteza intensificada nos passos fora a pergunta de um e a resposta de outro.
O primeiro estava ali sentado há duas horas, mas lá fazia parte do ambiente. Um pouco porque seu emo era de cor igual às paredes do fundo, mas principalmente porque ele era todo bar. Na forma, no conteúdo. Mais exatamente, aquele bar em especial, que tinha uma coruja no nome e nos desenhos da parede. Ave que ele imitava involuntário, nos ombros contraídos, no olhar verrumante. Olhar que lançou sobre o outro no momento da entrada. Este vinha ainda incerto, como se buscasse. E sua imprecisão atingiu o paroxismo quando no choque de olhares.Vacilou sobre as pernas, a roupa parecendo mais amarrotada, subitamente um braço se descontrolou atingindo a mesa mais próxima, varrendo-a quase com doçura. A doçura dos que de repente encontraram sem estar de sobreaviso. A loura oxigenada deu um grito e o homem que a acompanhava aprumou-se em ofensa, pronto a atacar, macho pré-histórico protegendo a fêmea em perigo. Ainda perdido no espanto, o segundo bêbado não reagiu. Suas mãos estavam cheias apenas de perplexidade, não de ódio. Nesse momento, o primeiro bêbado enristou seu metro e noventa de altura, até então diluído no encolhimento de coruja em que se mantinha. Sem dizer palavra encaminhou-se para o amigo -pois que seus olhares haviam sido tão fundos que dispensavam ritos preparatórios antes de empregar o substantivo e tomando-o pelo braço, levou para a mesa. O acompanhante da loura acalmou-se de imediato, enquanto esta ficava ainda mais oxigenada no despeito.
E os dois, satisfeitos com a inesperada oportunidade para a comunicação, foram objetivos ao assunto. Estavam sós. A mulher de um estava viajando; o outro não tinha mulher. Mas tinha noiva, e desconfiava que ela o andava traindo. O outro maravilhou-se com a coincidência, pois tinha quase certeza ser a viagem da mulher apenas um pretexto para encontrar com o amante. Unidos na mesma dor-de-cotovelo, sua amizade esquentou a razão de cem graus pó segundo. Ambos estavam insatisfeitos nos respectivos empregos. Operários, planejaram greves, piquetes, sindicatos, falaram mal do governo. Um deles, que tinha lido uma frase de Marx num almanaque, citou-a com sucesso. E o engajamento era outro elo a reforçar a corrente já sólida que os unia. De elo em elo, ligavam-se cada vez mais. A tal ponto que simplesmente não cabiam mais em si mesmo. Os copos colocavam-se em pé, oscilantes como se estivessem em banho-maria, os cabelos despenteados, rostos vermelhos, olhos chispantes -furiosos e agressivos no diálogo. Nas outras mesas, seres provavelmente frustrados no desencontro farejaram briga e ergueram as cabeças, espreitando. Não sabiam que, por deficiência de vocabulário, a amizade não raro se descontrola e pode levar ao crime. Apenas os dois pressentiram isso, tão sensíveis haviam-se tornado no investigar sem palavras do terreno que ora pisavam. Tudo neles era recíproco -e o medo de se ferirem cresceu junto para explodir num silêncio súbito. Então e encararam, mais desgrenhados do que nunca, e com tapinhas nas costas voltaram à delicadeza dos primeiros momentos.
Mas os frustrados que enchiam o bar estavam achando aquilo um grande desaforo. Não era permitido a duas pessoas se encontrarem num sábado à noite e, ostensivas, humilharem a todos com sua infelicidade dividida. O desespero não repartido dos outros era uma raiva grande, expressa nos gestos de quem não suporta mais. Com a sutileza dos donos de bar, o dono deste sentiu a hostilidade crescente. E medroso de que o choque resultasse em prejuízos para si, colocou-se sem hesitação ao lado da maioria.Dirigiu-se aos dois operários e pediu-lhes que se retirassem. Apoiado em seu metro e noventa, um deles quis reagir. Mas o outro mais fraco e, portanto menos heróico e mais realista, advertiu-o da inconveniência da reação. E olharam ambos os outros desencontrados pelas mesas -subitamente encontrados no mesmo ódio -formando uma muralha indignada. O mais alto, menos por situação financeira do que por força, caindo em si fez questão absoluta de pagar todos os gastos. De braço dado, saíram para a ma drogada.
Fora depararam com o frio e o brilho desmaiado das luzes de mercúrio. Encolheram-se devagar, as desgraças mútuas morrendo em calafrios. O domingo vinha vindo. Eles não sabiam o que fazer das mãos cheias de amizade e lembranças das mulheres ausentes. Bêbados como estavam, a única solução seria abraçarem-se e cantarem. Foi o que fizeram. Não satisfeitos com o gesto e as palavras, desabotoaram as braguilhas e mijaram em comum numa festa de espuma. Como no poema de Vinícius que não tinham lido nem teriam jamais. Depois calaram e olharam para longe, para além dos sexos nas mãos. Nas bandas do rio, amanhecia
Marcadores: O Inventario do Irremediavel
Sobre a mesinha, ao lado da pilha de livros, o cinzeiro cheio de resíduos, bolinhas de papel, pontas de cigarro.
Recostado na mesa, o corpo, na ponta do corpo a mão, na ponta da mão os dedos avançando até o maço. Vazio. Revira o cinzeiro, um peso na cabeça, escolhe a ponta maior. Um último palito de fósforo na caixa. A chama. Azulada. Traga lento, depois solta a fumaça pela boca num jato, fica olhando o fio
longo sugado pelo vento da janela aberta. Pela janela aberta, o silêncio do domingo impresso num céu sem cor. Na rua deserta de rumores: domingo. Abre um livro. Os dedos circundam as letras, a unha do indicador amarelada pelo fumo, os dedos acariciam as letras como se fossem carne. Carne desconhecida,
sem interesse. Um pouco fria. Letras que não dizem nada, gesto cansado, dedos que voltam à posição anterior mas, inquietos, sobem pela camisa, libertam o último botão da calça. Dedos que entram no peito, passam na pele, alcançando o pescoço, o rosto onde a barba não feita fere de leve. De um apartamento ao lado o vento rouba uma música do rádio e a traz para junto de seus ouvidos. Um samba. Gosto desse samba, pensa distraído, liga o rádio, coincidência, exatinho na mesma estação, dedos agora acompanham o ritmo batendo na colcha, mas o pano não faz som, é preciso bater na mesinha, madeira sambando, a melodia escorrega devagar pelo lado do cinzeiro, se espalha no chão. A voz acompanha baixinho a letra melancólica, amor, flor. Esmaga a ponta do cigarro na parede, atira-a sobre assoalho, a mãe vai reclamar, nunca viu tanto relaxamento nem tanta preguiça num corpo só.
Dezoito anos e um metro e oitenta de solidão. Desliza a mão pela parede, fechando os olhos o verde deixa de ferir, as granulações miúdas do cimento parecem prometer alguma coisa, Mexe os pés sem meias de encontro à colcha, a consistência fria, um pouco viscosa, coloca arrepios na pele. Abre os olhos e encontra o verde da parede, o azul da colcha: domingo espreitando na moldura da janela. Reduzido a ele mesmo, miseravelmente, sobre a cama. Nem sono tem. Já fechou os olhos, tentou dormir mas tanta preguiça que nem sono tem. Apaga o rádio. Detesto tango argentino, nem sabe se é argentino, pode ser até brasileiro, sueco ou esquimó mas fala em navalhada, cabaré & traição, mulher de cabelo tingido,
talho na saia preta mostrando a coxa, piteira, pálpebras machucadas: tango. Coisa mais cafona. A indolência aumenta com a mudez do rádio. Gosto daqueles sambas mais antigos, a batida leve, mansinho, a
voz fraca do cantor dizendo bem baixinho coisas bonitas e tristes. Ou então guitarras amplificador cabelos crespos berros brilhos oh yeah! No canto do quarto, o toca-discos: uma possibilidade, Mas seria preciso levantar, escolher o disco, passar lentamente o feltro, colocá-lo no prato, apertar um botão, dois botões, aumentar o volume, diminuir o volume. Ouvir. Deitar de novo, fechar os olhos, corpo abandonado na maciez da cama lembrança chegando de qualquer coisa, de preferência bem enfossante, quanto mais melhor. Obrigação de sentir, se possível, chorar. Larga de novo o corpo sobre as cobertas, que merda essa carteira de cigarros vazia, podia levantar, ir até a sala, e pedir ao noivo da irmã, um saco, descer até o bar, encontrar os carinhas pelo caminho, com o violão, na certa, sentados sobre o motor do fusca, não sei como o pobre aguenta aquela porção de bundões em cima dele, como é, vamos dar uma volta? Não quero, estou na fossa. Ou não dizer nada, são uns animais, não iriam entender, perguntariam por que, ela te chutou? não iriam entender que vezenquando a gente fica triste sem motivo, ou pior ainda, sem saber sequer se está mesmo triste. Mas podia aceitar, entrar no carro, vamos até à praia? deitar a cabeça nos braços, apoiar os braços na janela aberta, vento entrando, remexendo nos cabelos, no rosto, jeito de lagrima querendo rolar .
A réstia de sol encolhe no chão: tempo. Só esse sol sem cor neste dia sem cor nem jeito de domingo. Idiotice: por que domingo precisa ter um jeito especial, mania de esperar que as coisas sejam um jeito determinado, por isso a gente se decepciona e sofre. Na mesa, os livros oferecem consolo. Vontade de ler um troço decente. Mas é preciso passar por uma porção de besteiras até chegar ao que interessa. Vontade de ter um pensamento bem profundo, desses que fazem a gente se surpreender que tenham saído da nossa cabeça mesmo, naquela modéstia que só se tem quando se está distraído -desses pensamentos que nas revistas em quadrinhos aparecem em forma de lâmpada sobre a cabeça do cara. Mas o quê? Sobre a vida, um combate que aos fracos abate e aos
fortes e aos bravos só pode exaltar? Sobre o amor ,que é isso que você está vendo hoje beija amanhã não beija depois de amanhã é domingo e segunda feira ninguém sabe o que será? Ou sobre a cultura e a civilização, elas que se danem eu não contanto que me deixem ficar na minha? Tudo já foi pensado: vida, amor, cultura, civilização, liberdade, anticoncepcionais, comunismo, esterilização na Amazônia, exploração das potências estrangeiras, mais que nunca é preciso cantar, guerra fria e vem quente que eu estou fervendo. Tudo a mesma merda. Pudesse abrir a cabeça, tirar tudo para fora, arrumar direitinho como quem arruma uma gaveta. Tomar um banho de chuveiro por dentro.
Em um metro e oitenta, dezoito anos, e em dezoito anos, seis meses, quatro dias, dezesseis horas e vinte minutos (em breve vinte e um). Nesse amontoado de características, sessenta quilos de magreza e solidão. Encosta o corpo na cama, a mão passando de leve no xadrez do cobertor dobrado a seus pés, o rosto na parede que o acolhe com o sem compromisso de sua impessoalidade, a mão passa sobe desce e de leve, de leve começa a chorar.
Recostado na mesa, o corpo, na ponta do corpo a mão, na ponta da mão os dedos avançando até o maço. Vazio. Revira o cinzeiro, um peso na cabeça, escolhe a ponta maior. Um último palito de fósforo na caixa. A chama. Azulada. Traga lento, depois solta a fumaça pela boca num jato, fica olhando o fio
longo sugado pelo vento da janela aberta. Pela janela aberta, o silêncio do domingo impresso num céu sem cor. Na rua deserta de rumores: domingo. Abre um livro. Os dedos circundam as letras, a unha do indicador amarelada pelo fumo, os dedos acariciam as letras como se fossem carne. Carne desconhecida,
sem interesse. Um pouco fria. Letras que não dizem nada, gesto cansado, dedos que voltam à posição anterior mas, inquietos, sobem pela camisa, libertam o último botão da calça. Dedos que entram no peito, passam na pele, alcançando o pescoço, o rosto onde a barba não feita fere de leve. De um apartamento ao lado o vento rouba uma música do rádio e a traz para junto de seus ouvidos. Um samba. Gosto desse samba, pensa distraído, liga o rádio, coincidência, exatinho na mesma estação, dedos agora acompanham o ritmo batendo na colcha, mas o pano não faz som, é preciso bater na mesinha, madeira sambando, a melodia escorrega devagar pelo lado do cinzeiro, se espalha no chão. A voz acompanha baixinho a letra melancólica, amor, flor. Esmaga a ponta do cigarro na parede, atira-a sobre assoalho, a mãe vai reclamar, nunca viu tanto relaxamento nem tanta preguiça num corpo só.
Dezoito anos e um metro e oitenta de solidão. Desliza a mão pela parede, fechando os olhos o verde deixa de ferir, as granulações miúdas do cimento parecem prometer alguma coisa, Mexe os pés sem meias de encontro à colcha, a consistência fria, um pouco viscosa, coloca arrepios na pele. Abre os olhos e encontra o verde da parede, o azul da colcha: domingo espreitando na moldura da janela. Reduzido a ele mesmo, miseravelmente, sobre a cama. Nem sono tem. Já fechou os olhos, tentou dormir mas tanta preguiça que nem sono tem. Apaga o rádio. Detesto tango argentino, nem sabe se é argentino, pode ser até brasileiro, sueco ou esquimó mas fala em navalhada, cabaré & traição, mulher de cabelo tingido,
talho na saia preta mostrando a coxa, piteira, pálpebras machucadas: tango. Coisa mais cafona. A indolência aumenta com a mudez do rádio. Gosto daqueles sambas mais antigos, a batida leve, mansinho, a
voz fraca do cantor dizendo bem baixinho coisas bonitas e tristes. Ou então guitarras amplificador cabelos crespos berros brilhos oh yeah! No canto do quarto, o toca-discos: uma possibilidade, Mas seria preciso levantar, escolher o disco, passar lentamente o feltro, colocá-lo no prato, apertar um botão, dois botões, aumentar o volume, diminuir o volume. Ouvir. Deitar de novo, fechar os olhos, corpo abandonado na maciez da cama lembrança chegando de qualquer coisa, de preferência bem enfossante, quanto mais melhor. Obrigação de sentir, se possível, chorar. Larga de novo o corpo sobre as cobertas, que merda essa carteira de cigarros vazia, podia levantar, ir até a sala, e pedir ao noivo da irmã, um saco, descer até o bar, encontrar os carinhas pelo caminho, com o violão, na certa, sentados sobre o motor do fusca, não sei como o pobre aguenta aquela porção de bundões em cima dele, como é, vamos dar uma volta? Não quero, estou na fossa. Ou não dizer nada, são uns animais, não iriam entender, perguntariam por que, ela te chutou? não iriam entender que vezenquando a gente fica triste sem motivo, ou pior ainda, sem saber sequer se está mesmo triste. Mas podia aceitar, entrar no carro, vamos até à praia? deitar a cabeça nos braços, apoiar os braços na janela aberta, vento entrando, remexendo nos cabelos, no rosto, jeito de lagrima querendo rolar .
A réstia de sol encolhe no chão: tempo. Só esse sol sem cor neste dia sem cor nem jeito de domingo. Idiotice: por que domingo precisa ter um jeito especial, mania de esperar que as coisas sejam um jeito determinado, por isso a gente se decepciona e sofre. Na mesa, os livros oferecem consolo. Vontade de ler um troço decente. Mas é preciso passar por uma porção de besteiras até chegar ao que interessa. Vontade de ter um pensamento bem profundo, desses que fazem a gente se surpreender que tenham saído da nossa cabeça mesmo, naquela modéstia que só se tem quando se está distraído -desses pensamentos que nas revistas em quadrinhos aparecem em forma de lâmpada sobre a cabeça do cara. Mas o quê? Sobre a vida, um combate que aos fracos abate e aos
fortes e aos bravos só pode exaltar? Sobre o amor ,que é isso que você está vendo hoje beija amanhã não beija depois de amanhã é domingo e segunda feira ninguém sabe o que será? Ou sobre a cultura e a civilização, elas que se danem eu não contanto que me deixem ficar na minha? Tudo já foi pensado: vida, amor, cultura, civilização, liberdade, anticoncepcionais, comunismo, esterilização na Amazônia, exploração das potências estrangeiras, mais que nunca é preciso cantar, guerra fria e vem quente que eu estou fervendo. Tudo a mesma merda. Pudesse abrir a cabeça, tirar tudo para fora, arrumar direitinho como quem arruma uma gaveta. Tomar um banho de chuveiro por dentro.
Em um metro e oitenta, dezoito anos, e em dezoito anos, seis meses, quatro dias, dezesseis horas e vinte minutos (em breve vinte e um). Nesse amontoado de características, sessenta quilos de magreza e solidão. Encosta o corpo na cama, a mão passando de leve no xadrez do cobertor dobrado a seus pés, o rosto na parede que o acolhe com o sem compromisso de sua impessoalidade, a mão passa sobe desce e de leve, de leve começa a chorar.
Marcadores: O Inventario do Irremediavel