A marquesa tomou seu chá às cinco horas. Depois, como de hábito, colocou a xícara sobre a mesa e ficou olhando pela janela. Pela janela a marquesa não via muita coisa: o cimento do viaduto invadindo o bloco de edifícios no lado oposto da rua cobria quase toda a visão. Restavam pequenas frestas entre as paredes de cimento, cinco ou dez centímetros de rio, mas tão longe que era impossível sentir seu cheiro, o cheiro podre do rio.
Por cima a marquesa via o céu, um céu quase sempre rosado de sujeira, algumas estrelas à noite, poucas, vesgas; por baixo a rua, os carros que passavam, mas era desinteressante ver carros passando e pessoas tão pequenas que a marquesa não podia desvendar seus rostos, atribuir-lhes passados, desgraças e futuros, como antigamente. A marquesa gostava de pessoas? Achava que sim, quando estava sozinha achava ardentemente que sim, mesmo aquelas do bloco de edifícios na calçada oposta, que espiavam a sua vida por entre as frestas das persianas, como se ela andasse sempre nua. A marquesa também espiava a vida das pessoas do outro lado, mas espiava sem curiosidade de ver, um que outro rapaz saindo do banho, cabeça molhada, um homem beijando uma mulher, nunca ninguém se masturbando ou fazendo amor ou injetando algo na veia ou tentando o suicídio com navalha. Então a marquesa olhava desinteressada, procurava um resto de chá no fundo do bule ou se perdia em pequenas ações, como acender outro cigarro ou escovar cem vezes os cabelos ou lixar cuidadosamente as unhas. Depois, ou mesmo durante, mas nunca antes: a
marquesa pensava na espuma dos rios.
Imaginava-a roxa. No máximo verde. Ou roxa e verde ao mesmo tempo. (Roxos tinham sido os panos cobrindo estátuas na Semana Santa; verde era o podre avançando nos cadáveres.) Roxa, verde, a espuma crescia sobre os rios, depois o vento soprava montoando-a em grandes blocos que levava pelas ruas. A espuma chocava-se contra portas fechadas, depositava-se sobre vidraças, a madeira e o cimento, corroía-os lentamente. A espuma avançava enquanto as pessoas buscavam o fundo de suas próprias casas, até ficarem encurraladas contra a última parede. Então a espuma tocava macia suas peles, aos poucos roía em roxo e verde a carne, os músculos, os próprios ossos. E nada restava daquelas pessoas. Nem mesmo poeira que o vento soprasse.
Quando chegava nesse ponto, os músculos das espáduas da marquesa se enrijeciam — e pensava então no seu passeio pelas ruas, sábado à tarde, que seu repertório não era muito. Mas pensar no passeio levava-a à Cidade Baixa, e, na esquina de uma das ruas da Cidade Baixa, à farmácia. E na farmácia (a marquesa caminhava devagar na rua. Havia poucos automóveis. Aos sábados era fácil atravessar as ruas sem olhar muito para os lados nem sentir dor nos ouvidos. A marquesa caminhava descuidada. Às vezes chegava a comprar flores e até mesmo uma maçã, a mais vermelha que conseguisse encontrar. E ia assim, as flores apertadas junto ao peito, esfregando a maçã contra o vestido, lentamente, porque alguém lhe dissera que as maçãs — não somente as maçãs, mas também as goiabas, as pêras e os pêssegos, mas deixara de comprar pêssegos desde que soubera do veneno por trás da casca veludosa — mas enfim, embora, as maçãs, as frutas: alguém dissera que só gostavam de ser comidas assim, num ritual. A marquesa caminhava. Prepararia o ritual ao chegar em casa, colocando as flores no vaso de louça, acendendo velas e dizendo sorridente à maçã: "Um dia meu corpo servirá de adubo para muitas macieiras crescerem". A marquesa. Tão distraída vinha que não chegava a perceber quando começava a acontecer a cena da farmácia. Assim: quando tomava consciência de si e do que a cercava, já estava dentro do que acontecia. E o que acontecia, dentro da farmácia)... era um homem com uma arma na mão e um crioulo forte, vestido de branco. Percebia mais o crioulo como uma mancha escura dentro de outra mancha, clara. Rapidamente: aquelas manchas escura e clara que eram o crioulo recuavam, móveis, enquanto o homem apontava a arma e disparava. O crioulo caía primeiro para trás, contra uma prateleira de remédios, depois ele e os remédios caíam juntos sobre o balcão e de algum lugar entre aquelas manchas nascia uma outra, vermelha, que escorria em direção aos pés da marquesa enquanto muita gente corria e a empurrava e gritava muito alto e segurava o homem com a arma que tornava a disparar e uma coisa quente passava zunindo junto a seus cabelos. Perdia-se depois entre o barulho das motocicletas, a poeira seca das ruas e as vibrações coloridas dos televisores atrás das persianas abaixadas. Um tempo depois, não sabia quanto, de mãos vazias, a marquesa estava novamente em casa.
A marquesa suspirava, esmagada pelo difícil de pensar em si mesma sem maçã nem flores, e tornava a olhar pela janela e ratos. (Eram ratos na rua, no ônibus, na praça, ratos trocadores correndo de toca em toca com seus objetos presos entre os dentes arreganhados. A marquesa lembrava: alguém dissera, talvez aquele mesmo do ritual, que outro alguém colocara alguns casais de ratos a se reproduzirem num determinado espaço. Depois de algum tempo os ratos tornavam-se agressivos, entredevoravam-se, enlouqueciam, comiam os próprios filhos, mantinham relações homossexuais, alguém dissera, os ratos. E os sagüis.) Era uma vez dois sagüis presos numa gaiola. Até que um dia um começou a roer a cauda do outro. Então o dono dos sagüis retirou da gaiola o de cauda semi-devorada e no dia seguinte o sagüi antropófago tinha começado a devorar a própria cauda. Não sabia como terminava a história, talvez acabasse aí mesmo com reticências. Mas a marquesa não conseguia segurar o pensamento, e em breve tinha dentro da sala uma gaiola com os ossos de um sagüi devorado por si mesmo. Talvez restassem os olhos, arriscava, fosforescência, dentes saciados, um pequeno estômago repleto de si mesmo.
A marquesa fascinava-se de horror e ia até a quitinete encher o bule para fazer mais chá. Mas a água sempre acabava nas torneiras e ela precisava sair à rua para buscar água mineral, chegava a colocar a chave no bolso e os dedos no trinco da porta. Quando os dedos se fechavam em torno do trinco para iniciar o movimento de baixá-lo, a marquesa pensava rapidamente, e por ordem: 1) na espuma; 2) na farmácia; 3) nos ratos; 4) nos sagüis. E recuava, a marquesa ia recuando contra a janela de vidro. Poderia imaginar também bolhas ou ratos escorregando por baixo da porta, mas preferia sentar na cadeira junto à janela e comprimir o rosto contra o vidro, olhando para além da grade. Mas fora, fora só havia caixas e caixas de cimento, latas transbordantes de lixo, automóveis zunindo, espuma sobre os rios, tiros nas farmácias, sagüis entredevorados. Bebericava com nojo dois dedos de água. açucarada e fria no fundo da xícara. A xícara bonita, com alguns pastores e florezinhas azuis — admirava sem emoção, indicador e polegar segurando firmes a asa, dedo mínimo suspenso no ar. "Se eu fosse uma personagem de romance antigo", pensava, "agora jogaria a xícara, ou melhor, a taça ao chão." O autor certamente saberia tirar algum efeito: a) dos cacos espalhados pelo assoalho, talvez um último raio de sol brincando
na coroa de flores da pastora; b) ou então faria com que ela olhasse fixamente para um quadro na parede: em algum lugar, numa praia deserta e distante, uma onda batia forte contra um rochedo, espalhando espuma em todas as direções; c) ou faria com que o marquês, devia haver um marquês qualquer naquela ou nesta história, entrasse de repente para possuí-la sobre tapetes persas, jogando as inúmeras saias sobre a baixela de prata; d) ou que enchesse sôfrega a seringa, procurando a veia, enquanto um rock tocasse na vitrola; e) ou apenas gritasse muito alto, durante muito tempo, até ficar rouca e muda, sem ninguém ouvir. Qualquer coisa, a marquesa pediu, encolhendo-se contra a última parede da gaiola, qualquer coisa aqui, agora — antes do ponto final.
Por cima a marquesa via o céu, um céu quase sempre rosado de sujeira, algumas estrelas à noite, poucas, vesgas; por baixo a rua, os carros que passavam, mas era desinteressante ver carros passando e pessoas tão pequenas que a marquesa não podia desvendar seus rostos, atribuir-lhes passados, desgraças e futuros, como antigamente. A marquesa gostava de pessoas? Achava que sim, quando estava sozinha achava ardentemente que sim, mesmo aquelas do bloco de edifícios na calçada oposta, que espiavam a sua vida por entre as frestas das persianas, como se ela andasse sempre nua. A marquesa também espiava a vida das pessoas do outro lado, mas espiava sem curiosidade de ver, um que outro rapaz saindo do banho, cabeça molhada, um homem beijando uma mulher, nunca ninguém se masturbando ou fazendo amor ou injetando algo na veia ou tentando o suicídio com navalha. Então a marquesa olhava desinteressada, procurava um resto de chá no fundo do bule ou se perdia em pequenas ações, como acender outro cigarro ou escovar cem vezes os cabelos ou lixar cuidadosamente as unhas. Depois, ou mesmo durante, mas nunca antes: a
marquesa pensava na espuma dos rios.
Imaginava-a roxa. No máximo verde. Ou roxa e verde ao mesmo tempo. (Roxos tinham sido os panos cobrindo estátuas na Semana Santa; verde era o podre avançando nos cadáveres.) Roxa, verde, a espuma crescia sobre os rios, depois o vento soprava montoando-a em grandes blocos que levava pelas ruas. A espuma chocava-se contra portas fechadas, depositava-se sobre vidraças, a madeira e o cimento, corroía-os lentamente. A espuma avançava enquanto as pessoas buscavam o fundo de suas próprias casas, até ficarem encurraladas contra a última parede. Então a espuma tocava macia suas peles, aos poucos roía em roxo e verde a carne, os músculos, os próprios ossos. E nada restava daquelas pessoas. Nem mesmo poeira que o vento soprasse.
Quando chegava nesse ponto, os músculos das espáduas da marquesa se enrijeciam — e pensava então no seu passeio pelas ruas, sábado à tarde, que seu repertório não era muito. Mas pensar no passeio levava-a à Cidade Baixa, e, na esquina de uma das ruas da Cidade Baixa, à farmácia. E na farmácia (a marquesa caminhava devagar na rua. Havia poucos automóveis. Aos sábados era fácil atravessar as ruas sem olhar muito para os lados nem sentir dor nos ouvidos. A marquesa caminhava descuidada. Às vezes chegava a comprar flores e até mesmo uma maçã, a mais vermelha que conseguisse encontrar. E ia assim, as flores apertadas junto ao peito, esfregando a maçã contra o vestido, lentamente, porque alguém lhe dissera que as maçãs — não somente as maçãs, mas também as goiabas, as pêras e os pêssegos, mas deixara de comprar pêssegos desde que soubera do veneno por trás da casca veludosa — mas enfim, embora, as maçãs, as frutas: alguém dissera que só gostavam de ser comidas assim, num ritual. A marquesa caminhava. Prepararia o ritual ao chegar em casa, colocando as flores no vaso de louça, acendendo velas e dizendo sorridente à maçã: "Um dia meu corpo servirá de adubo para muitas macieiras crescerem". A marquesa. Tão distraída vinha que não chegava a perceber quando começava a acontecer a cena da farmácia. Assim: quando tomava consciência de si e do que a cercava, já estava dentro do que acontecia. E o que acontecia, dentro da farmácia)... era um homem com uma arma na mão e um crioulo forte, vestido de branco. Percebia mais o crioulo como uma mancha escura dentro de outra mancha, clara. Rapidamente: aquelas manchas escura e clara que eram o crioulo recuavam, móveis, enquanto o homem apontava a arma e disparava. O crioulo caía primeiro para trás, contra uma prateleira de remédios, depois ele e os remédios caíam juntos sobre o balcão e de algum lugar entre aquelas manchas nascia uma outra, vermelha, que escorria em direção aos pés da marquesa enquanto muita gente corria e a empurrava e gritava muito alto e segurava o homem com a arma que tornava a disparar e uma coisa quente passava zunindo junto a seus cabelos. Perdia-se depois entre o barulho das motocicletas, a poeira seca das ruas e as vibrações coloridas dos televisores atrás das persianas abaixadas. Um tempo depois, não sabia quanto, de mãos vazias, a marquesa estava novamente em casa.
A marquesa suspirava, esmagada pelo difícil de pensar em si mesma sem maçã nem flores, e tornava a olhar pela janela e ratos. (Eram ratos na rua, no ônibus, na praça, ratos trocadores correndo de toca em toca com seus objetos presos entre os dentes arreganhados. A marquesa lembrava: alguém dissera, talvez aquele mesmo do ritual, que outro alguém colocara alguns casais de ratos a se reproduzirem num determinado espaço. Depois de algum tempo os ratos tornavam-se agressivos, entredevoravam-se, enlouqueciam, comiam os próprios filhos, mantinham relações homossexuais, alguém dissera, os ratos. E os sagüis.) Era uma vez dois sagüis presos numa gaiola. Até que um dia um começou a roer a cauda do outro. Então o dono dos sagüis retirou da gaiola o de cauda semi-devorada e no dia seguinte o sagüi antropófago tinha começado a devorar a própria cauda. Não sabia como terminava a história, talvez acabasse aí mesmo com reticências. Mas a marquesa não conseguia segurar o pensamento, e em breve tinha dentro da sala uma gaiola com os ossos de um sagüi devorado por si mesmo. Talvez restassem os olhos, arriscava, fosforescência, dentes saciados, um pequeno estômago repleto de si mesmo.
A marquesa fascinava-se de horror e ia até a quitinete encher o bule para fazer mais chá. Mas a água sempre acabava nas torneiras e ela precisava sair à rua para buscar água mineral, chegava a colocar a chave no bolso e os dedos no trinco da porta. Quando os dedos se fechavam em torno do trinco para iniciar o movimento de baixá-lo, a marquesa pensava rapidamente, e por ordem: 1) na espuma; 2) na farmácia; 3) nos ratos; 4) nos sagüis. E recuava, a marquesa ia recuando contra a janela de vidro. Poderia imaginar também bolhas ou ratos escorregando por baixo da porta, mas preferia sentar na cadeira junto à janela e comprimir o rosto contra o vidro, olhando para além da grade. Mas fora, fora só havia caixas e caixas de cimento, latas transbordantes de lixo, automóveis zunindo, espuma sobre os rios, tiros nas farmácias, sagüis entredevorados. Bebericava com nojo dois dedos de água. açucarada e fria no fundo da xícara. A xícara bonita, com alguns pastores e florezinhas azuis — admirava sem emoção, indicador e polegar segurando firmes a asa, dedo mínimo suspenso no ar. "Se eu fosse uma personagem de romance antigo", pensava, "agora jogaria a xícara, ou melhor, a taça ao chão." O autor certamente saberia tirar algum efeito: a) dos cacos espalhados pelo assoalho, talvez um último raio de sol brincando
na coroa de flores da pastora; b) ou então faria com que ela olhasse fixamente para um quadro na parede: em algum lugar, numa praia deserta e distante, uma onda batia forte contra um rochedo, espalhando espuma em todas as direções; c) ou faria com que o marquês, devia haver um marquês qualquer naquela ou nesta história, entrasse de repente para possuí-la sobre tapetes persas, jogando as inúmeras saias sobre a baixela de prata; d) ou que enchesse sôfrega a seringa, procurando a veia, enquanto um rock tocasse na vitrola; e) ou apenas gritasse muito alto, durante muito tempo, até ficar rouca e muda, sem ninguém ouvir. Qualquer coisa, a marquesa pediu, encolhendo-se contra a última parede da gaiola, qualquer coisa aqui, agora — antes do ponto final.
Marcadores: Pedras de Calcuta




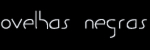

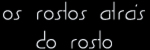


fear of god outlet
golden goose
golden goose sneakers
fear of god outlet
fear of god
giannis shoes
supreme new york
goyard bag
jordan 12
jordan