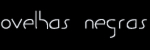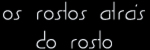Para Myriam Campello
Depois, tu sairias aéreo pisando no cascalho. Como ser aéreo ao pisar com força a terra? talvez te perguntasses. Mas ao mesmo tempo em que a pergunta nasceria do teu interior, projetada em surpresa num impacto que te faria deter os passos -ao mesmo tempo olharias para além da linha do horizonte, ao mesmo tempo para além da areia seca, da areia molhada, do quebrar das ondas depositando formas vivas e mortas na praia, para o primeiro quebrar de onda, espatifado em espuma debaixo do sol, ou talvez do céu escuro, mas se fosse luz, se houvesse luz, a onda quebraria num tremor, espalhada em gotas no ar, no vento, ao mesmo tempo -e tu olharias para o último quebrar de onda, para as ondas que já não quebram mais, para onde já nem existem ondas, para onde só resta o verdeverdeverde inexplicável na sua simplicidade de cor-de-mar-em-dia-claro, ao mesmo tempo olharias para o ponto de encontro entre o mar e o céu. E seria o além. Então procurarias sôfrego por uma palavra, em pânico escavando dentro de ti, pesquisando letras, letras despidas de significado ou significante, letras como um objeto. Das letras reunidas uma a uma, formarias uma palavra para definir esta ânsia de vôo subindo desde o chão até os olhos. Formarias uma palavra, esta: aéreo. No primeiro momento, serias a palavra, tu serias a coisa, ainda que ali, estático e terreno, pisando sobre o cascalho. Serias aéreo no momento exato em que a palavra se cumprisse em tua boca. Como algo que apenas por um ato de crença, um movimento de fé, se confirma e se consuma -aéreo.
Só depois desse primeiro momento, nenhum segundo, nem uma fatia mínima de tempo: um instante ínfimo em sua pequenez, máximo na sua amplitude e incompreensão, porque só o incompreensível é infinito -só depois desse primeiro momento é que te dobrarias para ti mesmo, a palavra latejando na memória, no corpo inteiro, nas mãos contidas, e te perguntarias lúcido -aéreo? Alado, talvez. Pensarias outras palavras, buscando já sonoridades, ressonâncias, ritmos, mas nenhuma delas, por mais lapidada que fosse, seria maior que aquela primeira. Nenhuma. Todo perdido dentro do nascido involuntário dentro de ti caminharias confuso pisando o cascalho.
O cascalho -farelos de pedra espalhados sobre a areia. O caminho de cascalho, nascido na areia, do começo da praia, passando entre o muro de pedras brancas e a estrutura incompleta do edifício, erguendo a nudez dos tijolos para o céu, misturando-se à grama, derramado sobre os valos e as lajes carcomidas das calçadas. O caminho de cascalho até o fim da rua plana, no ponto onde já não haveria mais rua, não haveria mais céu. Um vago encontro, onde mesmo o mar teria se dissolvido.
O mar e o céu.
O ponto.
E tu.
A rua e o céu.
O ponto.
Suspenso entre dois encontros, tu caminharias desencontrado. Como se fosse para sempre, pesado, os ombros curvos, esmagados pela solidão. Mas de repente haveria uma praça. Exatamente assim, como no poema, só que uma praça, no meio do caminho. Inesperada. Suspenderias os passos sem compreender, em desejar compreender -tomado unicamente de espanto, nenhum outro sentimento secundário: o espanto exato de ter encontrado uma praça. Passado o instante da posse -a coisa achada tomando conta de ti por inteiro, tu feito na coisa, tu: a própria coisa -, teu olhar se estenderia manso, procurando pontos de referência, traços em comum com outras praças encontradas em outras situações. Bancos, árvores, canteiros, talvez estátuas, quem sabe um lago-praça.
Não haveria nenhum lago nessa praça. Somente uma estátua, num dos cantos. Um homem na atitude de jogar um dardo, duas asas nos pés, corpo branco e nu, rosto de feições devastadas pela erosão. As árvores seriam baixas e poucas, as folhas de um verde sujo, arenoso. Caminhando, tu segurarias com raiva um galho -sem compreenderes a própria raiva e sem compreenderes a projeção dela no galho a poeira fina e densa ficaria flutuando no ar até que a ultrapassasses para tocar num banco com a mão. O banco seria de mármore, mármore amarelado pelo tempo, carcomido pelos inúmeros ventos. O banco não guardaria sequer nomes de namorados gravados num outro tempo, nem um palavrão, nem um desenho- só a carne lisa, como se tivesse retomado a um anterior estado de pureza depois de muitas marcas.
Mas essa pureza seria só aparência. Novamente deterias os passos para investigar o exterior limpo. Purificado? Não. A vida inteira vivida pelo banco teria permanecido em alguma escondida dimensão de seu
ser, E a vida poluía. Carne gasta, já inatingível por qualquer palavra de ódio ou de amor, qualquer revolta ou qualquer alegria -o banco imundo.
Sentada no chão, encontrarias a moça vestida de azul. Pela terceira vez, tu serias invadido pela imagem. Desta vez, a moça. Tu: vindo de um caminho conhecido, em passadas às vezes lentas, leves, outras pesadas de espantos, quedas, quebras, tu: vindo por um caminho determinado, um caminho definido em pedaços de pedras, sobre as quais tu pisavas. Era o teu caminho: um caminho de pedras desfeitas desde a praia até a moça. A moça.
E a moça? De que lugar teria vindo? Que caminhos teria pisado? Que insuspeita das descobertas teria feito? Tu olharias a moça mas, as perguntas não acorrendo, o mistério que a envolveria seria desfeito -uma moça vestida de azul, sentada no chão de uma praça sem lago. Não poderias saber nada de mais absoluto sobre ela, a não ser ela própria. Fazendo perguntas, tu ouvirias respostas. Nas respostas ela poderia mentir, dissimular, e a realidade que estava sendo, a realidade que agora era, seria quebrada. pois, não fazendo perguntas, tu aceitarias a moça completamente. Desconhecida, ela seria mais completa que todo um inventário sobre o seu passado. Descobririas que as coisas e as pessoas só o são em totalidade quando não existem perguntas, ou quando essas perguntas não são feitas. Que a maneirar mais absoluta de aceitar alguém ou alguma coisa se ria justamente não falar, não perguntar -mas ver! Em silêncio.
Tu verias a moça.
A moça ver-te-ia?
Sentarias no chão, ao lado dela, tentarias descobrir nos olhos ou na boca ou em qualquer outro traço um sinal não de reconhecimento, mas de visão E pensarias que o que faz nascer as perguntas não é uma necessidade de conhecimento, mas de ser conhecido. Porque tu não saberias se a moça sentia a tua presença. Falando, ouvirias a tua própria voz, solta na praça, e terias a certeza de que a moça te ouvia. Ainda que não te visse, na visão completa que terias acabado de descobrir.
Suspensa a voz num primeiro momento, tu voltarias atrás, desejando ser visto. Mas para teres a certeza de ser visto, terias que ter a certeza de que eras ouvido. A moça não falaria. Nem se movimentaria. Teria, já, descoberto o silêncio como foffi1a mais ampla de comunicação? Estenderias a mão e a tocarias no seio, e a moça ainda não se movia. Afastarias o vestido, as tuas mãos desceriam pelos seios, pelo ventre, as tuas mãos atingiriam o sexo com dedos ávidos, o teu corpo iria se curvando numa antecipação de posse, o corpo da moça começaria aceder, a pressão de teu corpo sobre o dela se faria mais forte: a moça deitaria de costas na areia, tão leve como se aquilo não fosse um movimento. Tu farias atua afirmação de homem sobre a entrega dela. Mas os movimentos seriam só teus, vendo um céu talvez escuro, talvez iluminado, uma extensão de praça parecendo imensa vista em perspectiva. E uma estátua carcomida. Assim: teu membro explodiria dentro dela enquanto olharias fixo e fiffi1e para um rosto de pedra branca despido de feições.
Depois sairias caminhando devagar, vencendo a praça, voltando ao caminho de cascalho. Mas desta vez pisarias muito suave. Seria leve o toque de teus pés, seria verde o teu olhar no gesto de virar a cabeça para ver o mar, seriam mansos os teus movimentos em direção ao ponto de fuga onde mergulharia a rua. Na esquina olharias pela segunda vez para trás e veria um caminho, uma praça e o mar. Um caminho, uma praça e o mar. E no meio da praça, uma moça. Bancos de mármore, árvores sujas, canteiros vazios, nenhum lago, uma estátua devastada e, muito recuada, uma moça. Sem movimentos, uma moça. Sem salvação, uma moça. Sem compreender, uma moça.Uma moça e uma tarde. Quase noite.
Depois, tu sairias aéreo pisando no cascalho. Como ser aéreo ao pisar com força a terra? talvez te perguntasses. Mas ao mesmo tempo em que a pergunta nasceria do teu interior, projetada em surpresa num impacto que te faria deter os passos -ao mesmo tempo olharias para além da linha do horizonte, ao mesmo tempo para além da areia seca, da areia molhada, do quebrar das ondas depositando formas vivas e mortas na praia, para o primeiro quebrar de onda, espatifado em espuma debaixo do sol, ou talvez do céu escuro, mas se fosse luz, se houvesse luz, a onda quebraria num tremor, espalhada em gotas no ar, no vento, ao mesmo tempo -e tu olharias para o último quebrar de onda, para as ondas que já não quebram mais, para onde já nem existem ondas, para onde só resta o verdeverdeverde inexplicável na sua simplicidade de cor-de-mar-em-dia-claro, ao mesmo tempo olharias para o ponto de encontro entre o mar e o céu. E seria o além. Então procurarias sôfrego por uma palavra, em pânico escavando dentro de ti, pesquisando letras, letras despidas de significado ou significante, letras como um objeto. Das letras reunidas uma a uma, formarias uma palavra para definir esta ânsia de vôo subindo desde o chão até os olhos. Formarias uma palavra, esta: aéreo. No primeiro momento, serias a palavra, tu serias a coisa, ainda que ali, estático e terreno, pisando sobre o cascalho. Serias aéreo no momento exato em que a palavra se cumprisse em tua boca. Como algo que apenas por um ato de crença, um movimento de fé, se confirma e se consuma -aéreo.
Só depois desse primeiro momento, nenhum segundo, nem uma fatia mínima de tempo: um instante ínfimo em sua pequenez, máximo na sua amplitude e incompreensão, porque só o incompreensível é infinito -só depois desse primeiro momento é que te dobrarias para ti mesmo, a palavra latejando na memória, no corpo inteiro, nas mãos contidas, e te perguntarias lúcido -aéreo? Alado, talvez. Pensarias outras palavras, buscando já sonoridades, ressonâncias, ritmos, mas nenhuma delas, por mais lapidada que fosse, seria maior que aquela primeira. Nenhuma. Todo perdido dentro do nascido involuntário dentro de ti caminharias confuso pisando o cascalho.
O cascalho -farelos de pedra espalhados sobre a areia. O caminho de cascalho, nascido na areia, do começo da praia, passando entre o muro de pedras brancas e a estrutura incompleta do edifício, erguendo a nudez dos tijolos para o céu, misturando-se à grama, derramado sobre os valos e as lajes carcomidas das calçadas. O caminho de cascalho até o fim da rua plana, no ponto onde já não haveria mais rua, não haveria mais céu. Um vago encontro, onde mesmo o mar teria se dissolvido.
O mar e o céu.
O ponto.
E tu.
A rua e o céu.
O ponto.
Suspenso entre dois encontros, tu caminharias desencontrado. Como se fosse para sempre, pesado, os ombros curvos, esmagados pela solidão. Mas de repente haveria uma praça. Exatamente assim, como no poema, só que uma praça, no meio do caminho. Inesperada. Suspenderias os passos sem compreender, em desejar compreender -tomado unicamente de espanto, nenhum outro sentimento secundário: o espanto exato de ter encontrado uma praça. Passado o instante da posse -a coisa achada tomando conta de ti por inteiro, tu feito na coisa, tu: a própria coisa -, teu olhar se estenderia manso, procurando pontos de referência, traços em comum com outras praças encontradas em outras situações. Bancos, árvores, canteiros, talvez estátuas, quem sabe um lago-praça.
Não haveria nenhum lago nessa praça. Somente uma estátua, num dos cantos. Um homem na atitude de jogar um dardo, duas asas nos pés, corpo branco e nu, rosto de feições devastadas pela erosão. As árvores seriam baixas e poucas, as folhas de um verde sujo, arenoso. Caminhando, tu segurarias com raiva um galho -sem compreenderes a própria raiva e sem compreenderes a projeção dela no galho a poeira fina e densa ficaria flutuando no ar até que a ultrapassasses para tocar num banco com a mão. O banco seria de mármore, mármore amarelado pelo tempo, carcomido pelos inúmeros ventos. O banco não guardaria sequer nomes de namorados gravados num outro tempo, nem um palavrão, nem um desenho- só a carne lisa, como se tivesse retomado a um anterior estado de pureza depois de muitas marcas.
Mas essa pureza seria só aparência. Novamente deterias os passos para investigar o exterior limpo. Purificado? Não. A vida inteira vivida pelo banco teria permanecido em alguma escondida dimensão de seu
ser, E a vida poluía. Carne gasta, já inatingível por qualquer palavra de ódio ou de amor, qualquer revolta ou qualquer alegria -o banco imundo.
Sentada no chão, encontrarias a moça vestida de azul. Pela terceira vez, tu serias invadido pela imagem. Desta vez, a moça. Tu: vindo de um caminho conhecido, em passadas às vezes lentas, leves, outras pesadas de espantos, quedas, quebras, tu: vindo por um caminho determinado, um caminho definido em pedaços de pedras, sobre as quais tu pisavas. Era o teu caminho: um caminho de pedras desfeitas desde a praia até a moça. A moça.
E a moça? De que lugar teria vindo? Que caminhos teria pisado? Que insuspeita das descobertas teria feito? Tu olharias a moça mas, as perguntas não acorrendo, o mistério que a envolveria seria desfeito -uma moça vestida de azul, sentada no chão de uma praça sem lago. Não poderias saber nada de mais absoluto sobre ela, a não ser ela própria. Fazendo perguntas, tu ouvirias respostas. Nas respostas ela poderia mentir, dissimular, e a realidade que estava sendo, a realidade que agora era, seria quebrada. pois, não fazendo perguntas, tu aceitarias a moça completamente. Desconhecida, ela seria mais completa que todo um inventário sobre o seu passado. Descobririas que as coisas e as pessoas só o são em totalidade quando não existem perguntas, ou quando essas perguntas não são feitas. Que a maneirar mais absoluta de aceitar alguém ou alguma coisa se ria justamente não falar, não perguntar -mas ver! Em silêncio.
Tu verias a moça.
A moça ver-te-ia?
Sentarias no chão, ao lado dela, tentarias descobrir nos olhos ou na boca ou em qualquer outro traço um sinal não de reconhecimento, mas de visão E pensarias que o que faz nascer as perguntas não é uma necessidade de conhecimento, mas de ser conhecido. Porque tu não saberias se a moça sentia a tua presença. Falando, ouvirias a tua própria voz, solta na praça, e terias a certeza de que a moça te ouvia. Ainda que não te visse, na visão completa que terias acabado de descobrir.
Suspensa a voz num primeiro momento, tu voltarias atrás, desejando ser visto. Mas para teres a certeza de ser visto, terias que ter a certeza de que eras ouvido. A moça não falaria. Nem se movimentaria. Teria, já, descoberto o silêncio como foffi1a mais ampla de comunicação? Estenderias a mão e a tocarias no seio, e a moça ainda não se movia. Afastarias o vestido, as tuas mãos desceriam pelos seios, pelo ventre, as tuas mãos atingiriam o sexo com dedos ávidos, o teu corpo iria se curvando numa antecipação de posse, o corpo da moça começaria aceder, a pressão de teu corpo sobre o dela se faria mais forte: a moça deitaria de costas na areia, tão leve como se aquilo não fosse um movimento. Tu farias atua afirmação de homem sobre a entrega dela. Mas os movimentos seriam só teus, vendo um céu talvez escuro, talvez iluminado, uma extensão de praça parecendo imensa vista em perspectiva. E uma estátua carcomida. Assim: teu membro explodiria dentro dela enquanto olharias fixo e fiffi1e para um rosto de pedra branca despido de feições.
Depois sairias caminhando devagar, vencendo a praça, voltando ao caminho de cascalho. Mas desta vez pisarias muito suave. Seria leve o toque de teus pés, seria verde o teu olhar no gesto de virar a cabeça para ver o mar, seriam mansos os teus movimentos em direção ao ponto de fuga onde mergulharia a rua. Na esquina olharias pela segunda vez para trás e veria um caminho, uma praça e o mar. Um caminho, uma praça e o mar. E no meio da praça, uma moça. Bancos de mármore, árvores sujas, canteiros vazios, nenhum lago, uma estátua devastada e, muito recuada, uma moça. Sem movimentos, uma moça. Sem salvação, uma moça. Sem compreender, uma moça.Uma moça e uma tarde. Quase noite.
Marcadores: O Inventario do Irremediavel
Ver o ovo é impossível; o ovo é supervisível como há sons supersônicos. Ninguém é capaz de ver o ovo.
(Clarice Lispector; O Ovo e a Galinha)
Minha vida não daria um romance. Ela é muito pequena. Mas é meio sem sentido ficar pensando em jeitos de escrever se ninguém nunca vai ler. Talvez eles me impeçam até mesmo de contar o que se passou. Mas há dias está tudo escuro e a luz da vela em cima da minha mesa não vai acordar ninguém.
Bem, acho que todas as narrativas desse tipo começam com um nasci no dia tal em tal lugar, coisa profundamente idiota, porque se o sujeito está escrevendo é mais do que evidente que nasceu. Pois eu também nasci, determinado dia, determinado lugar. O quando eu não lembro, mas onde foi aqui mesmo.
Nunca saí daqui. Nem vou sair mais, eu sei. A cada dia tudo se toma um pouco mais difícil. Por isso é quase impossível que isto aqui se tome uma história interessante. As pessoas gostam de aventura, de viagens, trepações loucas. E eu nunca tive nem fiz essas coisas. Queria escrever qualquer coisa grande, ou muito triste ou muito escura, mas qualquer coisa de muito, e que alguém, se descobrisse, publicasse e procurasse castigá-los. Mas vai sair tudo parecido comigo: desinteressante, miúdo, turvo.
Bom, então nasci. Depois que nasci, cresci e tive uma infância. Houve um tempo em que eu não sabia de nada, nem as outras crianças. Os adultos sim, todos sabiam. Mas dissimulavam tão bem que nunca nenhum de nós teve qualquer espécie de dúvida. Então, a verdade dos adultos era a minha verdade. E depois, eu era criança. Desinteressantezinha, miudinha, turvinha, diminutiva. Minha mãe era dessas gordas que fazem tricô e crochê, depois colocam toalhinhas sobre os móveis e quando chega visita pedem desculpas porque a-casa-é-de-pobre. Meu pai era desses gordos que aos domingos lêem o jornal de pijama e chinelos, bebendo cerveja. Tudo múito chato, muito igual. Não me culpem por eu não fazer uma descrição minuciosa de como eles eram e o que faziam. Se eu me estendesse mais neles, só diria mentiras, porque eram apenas e exatamente isso. E de resto, não tiveram nenhuma importância em tudo que acontece agora. Só que podiam ter me avisado.
Eu brincava com as crianças, as crianças brincavam comigo. Como todo o mundo vezenquando a gente brigava, pisava caco de vidro, roubava laranja, fugia pra tomar banho no rio. Uma vez também uma menina segurou no meu pinto. Ela era loira, gorda, tinha um tranção até a cintura. Depois ela casou com um soldado da brigada, prendeu as tranças em volta da cabeça, mas continuou gorda. Dessas gordas que à tardinha se debruçam na janela sobre uma almofada de cetim rosa. Toda vez que eu vinha do emprego passava em frente à casa dela e olhava exatamente como quem pensa você uma vez segurou no meu pinto. Lógico, ela não me cumprimentava. Acho que não é muito comum as meninas que seguram nos pintos dos meninos cumprimentarem eles depois que crescem e casam.
Quando eu tinha uns treze anos arranjei uma na morada que namorei até os dezessete. Essa nunca segurou no meu pinto, e era diferente, dessas pra casar -pelo menos naquela época eu pensava assim. Só há pouco tempo, depois que vim para cá, é que me convenci de que são todas umas vacas. E os homens, uns cães. Todos eles sabendo e fingindo que não sabem. A mãe da minha namorada ficava a noite inteira sentada com a gente na sala, só levantava para trazer doce de leite, de abóbora ou de batata-doce. A menina vezenquando tocava piano, mal para burro, diga-se de passagem. Mas eu nem ouvia direito. É que quando ela sentava um pedaço da saia levantava e apareciam umas coxonas muito brancas e grossas. Eu olhava discreto, o máximo que fazia era derrubar alguma coisa no chão pra ver melhor. Eu era um moço de respeito.
Quando tinha dezoito anos, ela casou. Com um soldado da brigada. Foi então que pensei seriamente em entrar para a brigada, já que duas mulheres da minha vida tinham casado com soldados. Parecia que eu estava destinado a sempre perdê-las para eles. Só que eu achava horrível aquela roupa, os coturnos, o casquete -tudo. Mas se eu queria casar- e naquele tempo eu queria -, tinha que ser soldado. Até que descobri uma solução melhor. Perto da minha casa morava um soldado da brigada. A minha mãe era madrinha dele, a mãe dele era viúva. Quando crianças, nós brincávamos muito, mas era um guri esquisito como o diabo. Todo delicado, cheio de não-me-toques, loirinho,com uns olhos claros, uma cor que eu nunca mais consegui lembrar depois que ele se matou. Todos os sábados de manhã ele ia visitar mamãe, levava umas frutas ou doce qualquer que a mãe dele tinha feito e ficava conversando na sala, feito moça. Logo que minha namorada casou eu nem olhava pra ele, de tanto ódio. Depois comecei a armar uma vingança. Quando ele chegava eu ficava passando na sala sem camisa, às vezes até sem calças, só de cuecas. Ele ficava todo perturbado e desviava os olhos. Eu sentava perto, encostava a perna, piscava um olho pra ele na hora de apertar a mão. Um dia convidei-o pra fazer uma pescaria comigo. Levamos uma barraca, cobertores, pinga, duas dessas camas de armar. E de noite eu comi ele. Com gosto. Como se estivesse com o pau na bunda de todos os soldados da brigada do mundo. Ele nunca mais foi lá em casa, a minha mãe reclamava, parava ele na rua para perguntar por quê. Até que ele tomou formicida e morreu.
Aí nasceu o meu irmão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas não posso fazer nada se meu irmão nasceu mesmo quando ele morreu. Nasceu direitinho e tudo, mas quando tinha uns seis meses começou a definhar, definhar, e morreu de caganeira verde. Foi bom. Senão seria mais um filho da puta.
Ou soldado da brigada, o que dá no mesmo. Mas no dia em que ele morreu, eu não pensei assim. Subi em cima da montanha e fiquei olhando o mundo. Agora eu penso que se ele não tivesse morri do eu não teria subido na montanha, e se não tivesse subido na montanha não teria visto o que vi. Mas as coisas são porque têm que ser, não adianta nada a gente querer que sejam de outro jeito.
Então ele morreu, eu subi na montanha e vi. O mundo. Mas além do mundo, uma parede branca. Eu não conhecia geografia nem astronomia nem nada, nem sabia o que havia além do horizonte, podia mesmo até ser uma parede branca. Mesmo assim, a coisa me surpreendeu. Então voltei pra casa e esqueci.
Comecei a trabalhar na prefeitura, porque a minha mãe já estava ficando velha pra fazer toalhas de crochê e tricô, e o dinheiro que dava o armazém de meu pai era uma mixaria. Eu trabalhava o dia inteiro e tinha uma namorada. Essa era viúva e muito puta. As coisas que ela fez comigo eu acho que nunca ninguém fez com ninguém, até tenho vergonha de contar. Eu não ia casar com ela nem nada, mesmo assim a minha mãe ficava triste porque queria que eu casasse com a moça magrinha da casa em frente, que depois morreu tuberculosa. A tal viúva ficou esperando um filho meu, mas eu não queria ter um filho -de qualquer maneira, esse seria mesmo um filho da puta. Aí ela foi tirar o filho e morreu.
Um domingo que saí a caminhar, me lembrei da montanha. Subi até lá e de novo vi a parede. Parecia mais clara, mais perto. Voltei pra casa e disse mãe tem uma parede branca além do horizonte. Eu já tinha uns vinte e dois anos, mas ela chamou meu pai e mandou eu repetir o que tinha dito. Eu repeti e ele me deu uma bofetada na cara. A mãe começou a chorar e pediu pra eu nunca contar a ninguém que tinha visto a parede. Mas eu estava uma fera. Chamei meu pai de filho da puta, disse que ele só me batia na cara porque era um velho e era meu pai e sabia que eu não era filho da puta ao ponto de bater num velho que ainda por cima era meu pai. Arrumei minhas coisas e saí de casa.
Fui pra uma pensão. Eu dormia com a dona e pedia dinheiro para um velho fresco que gostava de me chupar. A dona da pensão tinha uns peitos caídos e uma pele cor de terra que era mais sujeira que qualquer outra coisa. Eu ia à montanha todos os domingos, e a parede lá estava, cada vez mais próxima.
Eu não queria contar a ninguém, iam pensar que eu era louco. Então comecei a ler uns livros pra ver se a
tal parede era uma coisa natural. Mas nos livros de geografia não havia paredes brancas. Falava de terras, mares. Os de astronomia de estrelas, cometas. De paredes, nada. Os outros livros que eu lia também não. O máximo de estranheza que contava era dum sujeito que se transformou em barata -ele devia ser soldado da brigada.
Um dia eu comecei a andar em direção à parede.Ela estava muito longe. Caminhei quase um dia inteiro, até que ficou noite e tive que pedir carona a um menino carroceiro. Quando cheguei na pensão procurei o velho fresco, que já foi puxando a carteira do bolso pra me dar mais dinheiro. Mas eu disse que não era nada daquilo, e contei da parede. Aí o velho fresco começou a gritar até que veio todo o mundo da pensão. Ele apontava pra mim com ar de pavor e berrava ele viu, ele viu! Ninguém perguntou o que eu tinha visto. Só mandaram pegar as minhas coisas e dar o fora antes que chamassem a polícia. Daí eu coloquei os troços na mala e fui saindo. Quando cheguei à praça, disposto a passar a noite num banco, olhei para o horizonte e vi a parede. Estava muito perto, era muito branca.
Era domingo, a praça cheia de gente passeando, os rapazes tomando cerveja no quiosque, as mocinhas caminhando de braços dados. Subi num banco, chamei todo o mundo para mostrar a parede. Ficou cheio de gente em volta de mim, um silêncio desses horríveis, havia uma porção de caras, eu olhava uma por uma buscando um sinal qualquer de reconhecimento, mas os olhos de todos estavam enormes, as bocas pareciam costuradas, as sobrancelhas unidas.
De repente uns me seguraram enquanto os outros iam chamar os três.
Os três vieram. De branco, da mesma cor da parede: uma mulher com um chifre no meio da testa, um homem com três olhos e outro com vários braços, como um polvo. O de vários braços me segurou pelas costas enquanto o de três olhos ia abrindo caminho e a mulher me empurrava com o chifre. As gentes falavam palavrões e me cuspiam enquanto eu ia saindo. Eu caminhava devagar, via a parede atrás da igreja, dos campos, olhei para cima e também lá estava a parede, escondendo as estrelas. Antes de eles me jogarem no caminhão, olhei para trás e vi minha mãe e meu pai muito velhinhos, de braços dados. Pedi pra eles me salvarem, mas eles sacudiram com ódio a cabeça, o meu pai me mostrou o punho fechado e minha mãe escarrou no meu rosto. Os três me jogaram dentro do caminhão, a mulher de chifre dirigia, os dois outros me seguravam. Então me trouxeram para cá.
Todos os dias a mulher de chifre me traz as refeições, ao mesmo tempo em que o de vários braços me segura, o de três olhos coloca uns fios na minha cabeça e eu sinto uma coisa estranha, um tremor em todo o corpo, depois caio num sono pesado e só acordo à tarde. Saio na janela espio. E vejo a parede.
Cada dia mais próxima.
Eu queria contar toda a minha vida para se alguém lesse visse que não sou louco, que sempre foi tudo normal comigo, que eu fiz e disse as coisas que todo o mundo faz e diz, e que a coisa mais estranha da minha vida foi só aquela menina que segurou no meu pinto e aquela outra que eu namorei terem casado com soldados da brigada. Que eu via a parede e que todos os outros também viam, tenho certeza, só que eles não queriam ver, não sei por que, e prendiam quem via. Ontem chamei o de três olh~s, que parece o mais simpático, mostrei a parede, perguntei se ele não via. Falei devagar, sem me exaltar nem nada. Aí ele ficou quieto e baixou a cabeça, acho que sentiu vergonha de fazer o que está fazendo, porque ele também vê. E ela está cada vez mais perto.
Só ontem cheguei à conclusão de que se trata de um enorme ovo. Que estamos todos dentro dele. Mas é um ovo que diminui cada vez mais, cada vez mais, nós vamos ser todos esmagados por ele. Não sei por que os homens não se armam de paus e pedras para furar a parede. Seria muito fácil, a casca de um ovo é tão frágil.
Ele já está meio azulado de tão próximo, não se vê mais as estrelas, nem a lua, nem o sol. A escuridão em que passamos o dia todo é meio azulada também. O silêncio é imenso, como se houvesse um grande vácuo aqui dentro. A cada dia o movimento do ovo fica mais rápido. Ontem, já havia ultrapassado o muro, estava a uns cem metros da minha janela. Amanhã vai estar do lado da janela, talvez já esteja, não ouço mais os passos da mulher de chifre caminhando pelos corredores com as chaves penduradas na cintura e -agora lembro -o de três olhos e o de muitos braços não me deram choques hoje. Acho que eles estão fora do ovo, e só eu dentro. Talvez cada um tenha o seu próprio ovo. E este é o meu.
Olho para o meu corpo. Será que ele cabe dentro de um ovo? Será que não vai doer?
Eu não sei. Tenho tanto medo. Estou esperando, cansei de escrever, a vela está quase apagando. Vou deitar. Estou ouvindo o rumor do ovo se aproximando cada vez mais. É um barulho leve, leve. Quase como um suspiro de gente cansada. Está muito perto. Tão perto que ninguém vai me ouvir se eu gritar.
(Clarice Lispector; O Ovo e a Galinha)
Minha vida não daria um romance. Ela é muito pequena. Mas é meio sem sentido ficar pensando em jeitos de escrever se ninguém nunca vai ler. Talvez eles me impeçam até mesmo de contar o que se passou. Mas há dias está tudo escuro e a luz da vela em cima da minha mesa não vai acordar ninguém.
Bem, acho que todas as narrativas desse tipo começam com um nasci no dia tal em tal lugar, coisa profundamente idiota, porque se o sujeito está escrevendo é mais do que evidente que nasceu. Pois eu também nasci, determinado dia, determinado lugar. O quando eu não lembro, mas onde foi aqui mesmo.
Nunca saí daqui. Nem vou sair mais, eu sei. A cada dia tudo se toma um pouco mais difícil. Por isso é quase impossível que isto aqui se tome uma história interessante. As pessoas gostam de aventura, de viagens, trepações loucas. E eu nunca tive nem fiz essas coisas. Queria escrever qualquer coisa grande, ou muito triste ou muito escura, mas qualquer coisa de muito, e que alguém, se descobrisse, publicasse e procurasse castigá-los. Mas vai sair tudo parecido comigo: desinteressante, miúdo, turvo.
Bom, então nasci. Depois que nasci, cresci e tive uma infância. Houve um tempo em que eu não sabia de nada, nem as outras crianças. Os adultos sim, todos sabiam. Mas dissimulavam tão bem que nunca nenhum de nós teve qualquer espécie de dúvida. Então, a verdade dos adultos era a minha verdade. E depois, eu era criança. Desinteressantezinha, miudinha, turvinha, diminutiva. Minha mãe era dessas gordas que fazem tricô e crochê, depois colocam toalhinhas sobre os móveis e quando chega visita pedem desculpas porque a-casa-é-de-pobre. Meu pai era desses gordos que aos domingos lêem o jornal de pijama e chinelos, bebendo cerveja. Tudo múito chato, muito igual. Não me culpem por eu não fazer uma descrição minuciosa de como eles eram e o que faziam. Se eu me estendesse mais neles, só diria mentiras, porque eram apenas e exatamente isso. E de resto, não tiveram nenhuma importância em tudo que acontece agora. Só que podiam ter me avisado.
Eu brincava com as crianças, as crianças brincavam comigo. Como todo o mundo vezenquando a gente brigava, pisava caco de vidro, roubava laranja, fugia pra tomar banho no rio. Uma vez também uma menina segurou no meu pinto. Ela era loira, gorda, tinha um tranção até a cintura. Depois ela casou com um soldado da brigada, prendeu as tranças em volta da cabeça, mas continuou gorda. Dessas gordas que à tardinha se debruçam na janela sobre uma almofada de cetim rosa. Toda vez que eu vinha do emprego passava em frente à casa dela e olhava exatamente como quem pensa você uma vez segurou no meu pinto. Lógico, ela não me cumprimentava. Acho que não é muito comum as meninas que seguram nos pintos dos meninos cumprimentarem eles depois que crescem e casam.
Quando eu tinha uns treze anos arranjei uma na morada que namorei até os dezessete. Essa nunca segurou no meu pinto, e era diferente, dessas pra casar -pelo menos naquela época eu pensava assim. Só há pouco tempo, depois que vim para cá, é que me convenci de que são todas umas vacas. E os homens, uns cães. Todos eles sabendo e fingindo que não sabem. A mãe da minha namorada ficava a noite inteira sentada com a gente na sala, só levantava para trazer doce de leite, de abóbora ou de batata-doce. A menina vezenquando tocava piano, mal para burro, diga-se de passagem. Mas eu nem ouvia direito. É que quando ela sentava um pedaço da saia levantava e apareciam umas coxonas muito brancas e grossas. Eu olhava discreto, o máximo que fazia era derrubar alguma coisa no chão pra ver melhor. Eu era um moço de respeito.
Quando tinha dezoito anos, ela casou. Com um soldado da brigada. Foi então que pensei seriamente em entrar para a brigada, já que duas mulheres da minha vida tinham casado com soldados. Parecia que eu estava destinado a sempre perdê-las para eles. Só que eu achava horrível aquela roupa, os coturnos, o casquete -tudo. Mas se eu queria casar- e naquele tempo eu queria -, tinha que ser soldado. Até que descobri uma solução melhor. Perto da minha casa morava um soldado da brigada. A minha mãe era madrinha dele, a mãe dele era viúva. Quando crianças, nós brincávamos muito, mas era um guri esquisito como o diabo. Todo delicado, cheio de não-me-toques, loirinho,com uns olhos claros, uma cor que eu nunca mais consegui lembrar depois que ele se matou. Todos os sábados de manhã ele ia visitar mamãe, levava umas frutas ou doce qualquer que a mãe dele tinha feito e ficava conversando na sala, feito moça. Logo que minha namorada casou eu nem olhava pra ele, de tanto ódio. Depois comecei a armar uma vingança. Quando ele chegava eu ficava passando na sala sem camisa, às vezes até sem calças, só de cuecas. Ele ficava todo perturbado e desviava os olhos. Eu sentava perto, encostava a perna, piscava um olho pra ele na hora de apertar a mão. Um dia convidei-o pra fazer uma pescaria comigo. Levamos uma barraca, cobertores, pinga, duas dessas camas de armar. E de noite eu comi ele. Com gosto. Como se estivesse com o pau na bunda de todos os soldados da brigada do mundo. Ele nunca mais foi lá em casa, a minha mãe reclamava, parava ele na rua para perguntar por quê. Até que ele tomou formicida e morreu.
Aí nasceu o meu irmão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas não posso fazer nada se meu irmão nasceu mesmo quando ele morreu. Nasceu direitinho e tudo, mas quando tinha uns seis meses começou a definhar, definhar, e morreu de caganeira verde. Foi bom. Senão seria mais um filho da puta.
Ou soldado da brigada, o que dá no mesmo. Mas no dia em que ele morreu, eu não pensei assim. Subi em cima da montanha e fiquei olhando o mundo. Agora eu penso que se ele não tivesse morri do eu não teria subido na montanha, e se não tivesse subido na montanha não teria visto o que vi. Mas as coisas são porque têm que ser, não adianta nada a gente querer que sejam de outro jeito.
Então ele morreu, eu subi na montanha e vi. O mundo. Mas além do mundo, uma parede branca. Eu não conhecia geografia nem astronomia nem nada, nem sabia o que havia além do horizonte, podia mesmo até ser uma parede branca. Mesmo assim, a coisa me surpreendeu. Então voltei pra casa e esqueci.
Comecei a trabalhar na prefeitura, porque a minha mãe já estava ficando velha pra fazer toalhas de crochê e tricô, e o dinheiro que dava o armazém de meu pai era uma mixaria. Eu trabalhava o dia inteiro e tinha uma namorada. Essa era viúva e muito puta. As coisas que ela fez comigo eu acho que nunca ninguém fez com ninguém, até tenho vergonha de contar. Eu não ia casar com ela nem nada, mesmo assim a minha mãe ficava triste porque queria que eu casasse com a moça magrinha da casa em frente, que depois morreu tuberculosa. A tal viúva ficou esperando um filho meu, mas eu não queria ter um filho -de qualquer maneira, esse seria mesmo um filho da puta. Aí ela foi tirar o filho e morreu.
Um domingo que saí a caminhar, me lembrei da montanha. Subi até lá e de novo vi a parede. Parecia mais clara, mais perto. Voltei pra casa e disse mãe tem uma parede branca além do horizonte. Eu já tinha uns vinte e dois anos, mas ela chamou meu pai e mandou eu repetir o que tinha dito. Eu repeti e ele me deu uma bofetada na cara. A mãe começou a chorar e pediu pra eu nunca contar a ninguém que tinha visto a parede. Mas eu estava uma fera. Chamei meu pai de filho da puta, disse que ele só me batia na cara porque era um velho e era meu pai e sabia que eu não era filho da puta ao ponto de bater num velho que ainda por cima era meu pai. Arrumei minhas coisas e saí de casa.
Fui pra uma pensão. Eu dormia com a dona e pedia dinheiro para um velho fresco que gostava de me chupar. A dona da pensão tinha uns peitos caídos e uma pele cor de terra que era mais sujeira que qualquer outra coisa. Eu ia à montanha todos os domingos, e a parede lá estava, cada vez mais próxima.
Eu não queria contar a ninguém, iam pensar que eu era louco. Então comecei a ler uns livros pra ver se a
tal parede era uma coisa natural. Mas nos livros de geografia não havia paredes brancas. Falava de terras, mares. Os de astronomia de estrelas, cometas. De paredes, nada. Os outros livros que eu lia também não. O máximo de estranheza que contava era dum sujeito que se transformou em barata -ele devia ser soldado da brigada.
Um dia eu comecei a andar em direção à parede.Ela estava muito longe. Caminhei quase um dia inteiro, até que ficou noite e tive que pedir carona a um menino carroceiro. Quando cheguei na pensão procurei o velho fresco, que já foi puxando a carteira do bolso pra me dar mais dinheiro. Mas eu disse que não era nada daquilo, e contei da parede. Aí o velho fresco começou a gritar até que veio todo o mundo da pensão. Ele apontava pra mim com ar de pavor e berrava ele viu, ele viu! Ninguém perguntou o que eu tinha visto. Só mandaram pegar as minhas coisas e dar o fora antes que chamassem a polícia. Daí eu coloquei os troços na mala e fui saindo. Quando cheguei à praça, disposto a passar a noite num banco, olhei para o horizonte e vi a parede. Estava muito perto, era muito branca.
Era domingo, a praça cheia de gente passeando, os rapazes tomando cerveja no quiosque, as mocinhas caminhando de braços dados. Subi num banco, chamei todo o mundo para mostrar a parede. Ficou cheio de gente em volta de mim, um silêncio desses horríveis, havia uma porção de caras, eu olhava uma por uma buscando um sinal qualquer de reconhecimento, mas os olhos de todos estavam enormes, as bocas pareciam costuradas, as sobrancelhas unidas.
De repente uns me seguraram enquanto os outros iam chamar os três.
Os três vieram. De branco, da mesma cor da parede: uma mulher com um chifre no meio da testa, um homem com três olhos e outro com vários braços, como um polvo. O de vários braços me segurou pelas costas enquanto o de três olhos ia abrindo caminho e a mulher me empurrava com o chifre. As gentes falavam palavrões e me cuspiam enquanto eu ia saindo. Eu caminhava devagar, via a parede atrás da igreja, dos campos, olhei para cima e também lá estava a parede, escondendo as estrelas. Antes de eles me jogarem no caminhão, olhei para trás e vi minha mãe e meu pai muito velhinhos, de braços dados. Pedi pra eles me salvarem, mas eles sacudiram com ódio a cabeça, o meu pai me mostrou o punho fechado e minha mãe escarrou no meu rosto. Os três me jogaram dentro do caminhão, a mulher de chifre dirigia, os dois outros me seguravam. Então me trouxeram para cá.
Todos os dias a mulher de chifre me traz as refeições, ao mesmo tempo em que o de vários braços me segura, o de três olhos coloca uns fios na minha cabeça e eu sinto uma coisa estranha, um tremor em todo o corpo, depois caio num sono pesado e só acordo à tarde. Saio na janela espio. E vejo a parede.
Cada dia mais próxima.
Eu queria contar toda a minha vida para se alguém lesse visse que não sou louco, que sempre foi tudo normal comigo, que eu fiz e disse as coisas que todo o mundo faz e diz, e que a coisa mais estranha da minha vida foi só aquela menina que segurou no meu pinto e aquela outra que eu namorei terem casado com soldados da brigada. Que eu via a parede e que todos os outros também viam, tenho certeza, só que eles não queriam ver, não sei por que, e prendiam quem via. Ontem chamei o de três olh~s, que parece o mais simpático, mostrei a parede, perguntei se ele não via. Falei devagar, sem me exaltar nem nada. Aí ele ficou quieto e baixou a cabeça, acho que sentiu vergonha de fazer o que está fazendo, porque ele também vê. E ela está cada vez mais perto.
Só ontem cheguei à conclusão de que se trata de um enorme ovo. Que estamos todos dentro dele. Mas é um ovo que diminui cada vez mais, cada vez mais, nós vamos ser todos esmagados por ele. Não sei por que os homens não se armam de paus e pedras para furar a parede. Seria muito fácil, a casca de um ovo é tão frágil.
Ele já está meio azulado de tão próximo, não se vê mais as estrelas, nem a lua, nem o sol. A escuridão em que passamos o dia todo é meio azulada também. O silêncio é imenso, como se houvesse um grande vácuo aqui dentro. A cada dia o movimento do ovo fica mais rápido. Ontem, já havia ultrapassado o muro, estava a uns cem metros da minha janela. Amanhã vai estar do lado da janela, talvez já esteja, não ouço mais os passos da mulher de chifre caminhando pelos corredores com as chaves penduradas na cintura e -agora lembro -o de três olhos e o de muitos braços não me deram choques hoje. Acho que eles estão fora do ovo, e só eu dentro. Talvez cada um tenha o seu próprio ovo. E este é o meu.
Olho para o meu corpo. Será que ele cabe dentro de um ovo? Será que não vai doer?
Eu não sei. Tenho tanto medo. Estou esperando, cansei de escrever, a vela está quase apagando. Vou deitar. Estou ouvindo o rumor do ovo se aproximando cada vez mais. É um barulho leve, leve. Quase como um suspiro de gente cansada. Está muito perto. Tão perto que ninguém vai me ouvir se eu gritar.
Marcadores: O Inventario do Irremediavel
(Ao SOM DE ERIK SATIE)
Para Paula Dip
A primeira vez que o telefone tocou ele não se moveu. Continuou sentado sobre a velha almofada amarela, cheia de pastoras desbotadas com coroas de flores nas mãos. As vibrações coloridas da televisão sem som faziam a sala tremer e flutuar, empalidecida pelo bordô mortiço da cor de luxe de um filme antigo qualquer. Quando o telefone tocou pela segunda vez ele estava tentando lembrar se o nome daquela melodia meio arranhada e lentíssima que vinha da outra sala seria mesmo “Desespero agradável” ou “Por um desespero agradável”. De qualquer forma, pensou, desespero. E agradável.
A luz de mercúrio da rua varava os orifícios das cortinas de renda misturando-se, azulada, à cor meio decomposta do filme. Pouco antes do telefone tocar pela terceira vez ele resolveu levantar-se — conferir o nome da música, disse para si mesmo, e caminhou para dentro atravessando o pequeno corredor onde, como sempre, a perna da calça roçou contra a folha rajada de uma planta. Preciso trocá-la de lugar, lembrou, como sempre. E um pouco antes ainda de estender a mão para pegar o telefone na estante, inclinou-se sobre as capas de discos espalhadas pelo chão, entre um cinzeiro cheio e um caneco de cerâmica crua quase vazio, a não ser por uns restos no fundo, que vistos assim de cima formavam uma massa verde, úmida e compacta. “Désespoir agréable”, confirmou. Ainda em pé, colocou a capa branca do disco sobre a mesa enquanto repetia mentalmente: de qualquer forma, desespero. E agradável.
— Lui? — A voz conhecida. — Alô? É você, Lui?
— Eu — ele disse.
— O que é que você está fazendo?
Ele sentou-se. Depois estendeu o braço em frente ao rosto e olhou a palma aberta da própria mão. As pequenas áreas descascadas, ácido úrico, diziam, corroendo lento a pele.
— Alô? Você está me ouvindo?
— Oi — ele disse.
Perguntei o que é que você estava fazendo?
— Fazendo? Nada. Por aí, ouvindo música, vendo tevê. — Fechou a mão. — Agora ia fazer um café. E dormir.
Hein? Fala mais alto.
— Mas não sei se tem pó.
—O quê?
— Nada, bobagem. E você?
Do outro lado da linha, ela suspirou sem dizer nada. Então houve um silêncio curto e em seguida um clique seco e uma espécie de sopro. Deve ter acendido um cigarro, ele pensou. Dobrou mecanicamente o corpo para a esquerda até trazer o cinzeiro cheio de pontas para o lado do telefone.
— Que que houve? — perguntou lento, olhando em volta à procura de um maço de cigarros.
— Escuta, você não quer dar uma saída?
— Estou cansado. Não tenho cabeça. E amanhã preciso acordar muito cedo.
— Mas eu passo aí com o carro. Depois deixo você de novo. A gente não demora nada. Podia ir a um bar, a um cinema, a um.
— Já passa das dez — ele disse.
A voz dela ficou um pouco mais aguda.
— E vir aqui, quem sabe. Também você não quer, não é? Tenho uma vodca ótima. Daquelas. Você adora, nem abri ainda. Só não tenho limão, você traz? — A voz ficou subitamente tão aguda que ele afastou um pouco o fone do ouvido. Por um momento ficou ouvindo a melodia distante, lenta e arranhada do piano. Através dos vidros da porta, com a luz acesa nos fundos, conseguia ver a copa verde das plantas no jardim, algumas folhas amareladas caídas no chão de cimento. Sem querer, quase estremeceu de frio. Ou uma espécie de medo. Esfregou a palma seca da mão esquerda contra a coxa. A voz dela ficou mais baixa quando perguntou:
— E se eu fosse até aí?
Os dedos dele tocaram o maço de cigarros no bolso da calça. Ele contraiu o ombro direito, equilibrando o fone contra o rosto, e puxou devagar o maço.
— Sabe o que é — disse.
—Lui?
Com os dentes, ele prendeu o filtro de um dos cigarros. Mordeu-o, levemente.
— Alô, Lui? Você está aí?
Ele contraiu mais o ombro para acender o cigarro. O fone quase se desequilibrou. Tragou fundo. Tornou a pegar o fone com a mão e soltou pouco a pouco o ombro dolorido soprando a fumaça.
— Eu já estava quase dormindo.
— Que música é essa aí no fundo? — ela perguntou de repente.
Ele puxou o cinzeiro para perto. Virou a capa do disco nas mãos.
— Chama-se “Por um desespero agradável” — mentiu. — Você gosta?
— Não sei. Acho que dá um pouco de sono. Quem é?
Ele bateu o cigarro três vezes na borda do cinzeiro, mas não caiu nenhuma cinza.
— Um cara aí. Um doido.
— Como ele se chama?
— Erik Satie — ele disse bem baixo. Ela não ouviu.
— Lui? Alô, Lui?
— Digue.
— Estou te enchendo o saco? — Outra vez ele escutou o silêncio curto, o clique seco e o sopro leve. Deve ter acendido outro cigarro, pensou. E soprou a fumaça.
— Não — disse.
— Estou te enchendo? Fala. Eu sei que estou.
— Tudo bem, eu não estava mesmo fazendo nada.
— Não consigo dormir — ela disse muito baixo.
— Você está deitada?
— É, lendo. Aí me deu vontade de falar com você.
Ele tragou fundo. Enquanto soprava a fumaça, curvou outra vez o corpo para apanhar
o caneco de cerâmica. Enfiou o indicador até
o fundo, depois mordiscou as folhas miúdas
com os incisivos e perguntou:
— O que é que você estava lendo?
— Nada, não. Uma matéria aí numa revista. Um negócio sobre monoculturas e sprays.
— What about?
—Hein?
— O que você estava lendo.
Ela tossiu. Depois pareceu se animar.
— Umas coisas assim, ecologias, sabe? Dizque se você só planta uma espécie de coisa na terra por muitos anos, ela acaba morrendo. A terra, não a coisa plantada, entende? Soja, por exemplo. Dizque acaba a camada de húmus. Parece que eucalipto também. Depois aos poucos vira deserto. Vão ficando uns pontos assim. Vazios, entende? Desérticos. Espalhados por toda a terra.
O disco acabou, ele não se mexeu. Depois, recomeçou.
— Assim como se você pingasse uma porção de gotas de tinta num mata-borrão — ela continuou. — Eles vão se espalhando cada vez mais. Acabam se encontrando uns com os outros um dia, entende? O deserto fica maior. Fica cada vez maior. Os desertos não param nunca de crescer, sabia?
— Sabia — ele disse.
— Horrível, não?
— E os sprays?
—O quê?
— Os sprays. O que é que tem os sprays?
— Ah, pois é. Foi na mesma revista. Diz que cada apertada que você dá assim num tubo de desodorante. Não precisa ser desodorante, qualquer tubo, entende? Faz assim ah, como é que eu vou dizer? Um furo, sabe? Um rombo, um buraco na camada de como é mesmo que se diz?
— Ozônio — ele disse.
— Pois é, ozônio. O ar que a gente respira, entende? A biosfera.
— Já deve estar toda furadinha então — ele disse.
—O quê?
— Deve estar toda furada — ele repetiu bem devagar. — A camada. A biosfera. O ozônio.
— Já pensou que horror? Você sabia dis so
Lui?
Ele não respondeu.
— Alô, Lui? Você ainda está aí?
— Estou.
— Acho que fiquei meio horrorizada. E com medo. Você não tem medo, Lui?
— Estou cansado.
Do outro lado da linha, ela riu. Pelo som, ele adivinhou que ela ria sem abrir a boca, apenas os ombros sacudindo, movendo a cabeça para os lados, alguns fios de cabelo caídos nos olhos.
— Não estou te alugando? — ela perguntou. — Você sempre dizque eu te alugo. Como se você fosse um imóvel, uma casa. Eu, se fosse uma casa, queria uma piscina nos fundos. Um jardim enorme. E ar-condicionado. Que tipo de casa você queria ser, Lui?
— Eu não queria ser casa.
- Como?
— Queria ser um apartamento.
— Sei, mas que tipo?
Ele suspirou:
— Uma quitinete. Sem telefone.
— O quê? Alô, Lui? Você não ia mesmo fazer nada?
— Um chá, eu ia fazer um chá.
— Não era café? Me lembro que você falou que ia fazer café.
— Não tem mais pó. — Ele lambeu a ponta do indicador, depois umedeceu o nariz por dentro. Então sacudiu o cinzeiro cheio de pontas queimadas e cinza. Algumas partículas voaram, caindo sobre a capa branca do disco, com um desenho abstrato no centro. Com cuidado, juntou-as num montinho sobre o canto roxo da figura central. — Nem coador de papel. E acabei de me lembrar que tenho um chá incrível. Tem até uma bula louquíssima, quer ver? Guardei aqui dentro. — Ele equilibrou o fone com o ombro e abriu a cadernetinha preta de endereços.
— Chá não tem bula — ela resmungou. Parecia aborrecida, meio infantil. — Bula é de remédio.
— Tem sim, esse chá tem. Quer ver só? — Entre duas fotos polaroid desbotadas, na contracapa da caderneta, encontrou o retângulo de papel amarelo dobrado em quatro.
— Lui? Você não quer mesmo vir até aqui? Sabe — ela tornou a rir, e desta vez ele imaginou que quase escancarava a boca, passando devagar a língua pelos lábios ressecados de cigarro —, eu acho que fiquei meio impressionada com essa história dos desertos, dos buracos, do ozônio. Lui, você acha que o mundo está mesmo no fim?
Ele desdobrou sobre a mesa o papel amarelo, ao lado das duas fotos tão desbotadas quanto as manchas redondas de xícaras quentes na madeira escura. Uma das fotos era de uma mulher quase bonita, cabelos presos e brincos de ouro em forma de rosas miudinhas. A outra era de um rapaz com blusa preta de gola em V, o rosto apoiado numa das mãos, leve estrabismo nos olhos escuros.
— Sem falar nas usinas nucleares — ele disse. E com a ponta dos dedos, do canto roxo do desenho na capa do disco, foi empurrando o montículo de cinzas por cima das formas torcidas, marrom, amarelo, verde, até o espaço branco e, por fim, exatamente sobre o rosto do rapaz da foto.
— Lui? — ela chamou inquieta. — Encontrou o negócio do tal chá?
— Encontrei.
— Você está esquisito. O que é que há?
— Nada. Estou cansado, só isso. Quer ver o que diz a bula? É inglês, você entende um pouco, não é? — Ela não respondeu. Então ele leu, dramático: —... is exceilent for ali types of nervous disorders, paranoia, schizophrenia, drugs effects, digestive problems, hornionai diseases and other disorders... — Começou a rir baixinho, divertido: — Entendeu?
— Entendi — ela disse. — É um inglês fácil, qualquer um entende. Porreta esse chá, hein? É inglês?
Ele continuou rindo:
— Chinês. Aqui embaixo diz produced in China. — Com a cinza, cobriu todo o olho estrábico do rapaz. — Drugs effects é ótimo, não é?
— Maravilhoso — ela falou. — O disco tá tocando de novo, já ouvi esse
— Tá bom — ela disse.
— Tá bom — ele repetiu. E pensou que quando começavam a falar desse jeito sempre era um sinal tácito para algum desligar. Mas não quis ser o primeiro.
— Vou tirar amanhã — ela falou de re pente.
—Hein?
— Nada. Vai fazer teu chá.
— Tá bom. Aqui diz também que tem vitamina E. — Abriu a mão e olhou as manchas branquicentas na palma. — Não é essa que é boa para a pele?
— Acho que aquela é a A. Não entendo muito de vitaminas.
— Nem eu. A C eu sei que é a da gripe, todo mundo sabe. Qual será a que cura os tais drugs effects? Cheirei todas hoje. Estou com aquele... vazio intenso, sabe como?
— Não sei. — De repente ela parecia apressada. — Vou desligar.
— Você ligou o rádio?
— Ainda não. Como é mesmo o nome dessa música?
— “Por um desespero agradável” — ele mentiu outra vez, depois corrigiu: — Não. É só “Desespero agradável”.
— Agradável?
— É, agradável. Por que não?
— Engraçado. Desespero nunca é agradável.
— Às vezes sim. Cocaína, por exemplo.
— Você só pensa nisso?
— Não, penso em fazer um chá também.
— Hein?
— Mas essa que tá tocando agora é outra, ouça. — Ele ergueu um momento o fone no ar em direção às caixas de som e ficou um momento assim, parado. — São todas muito parecidas. Só piano, mais nada. — A cinza cobria o rosto inteiro do rapaz na foto. — Essa agora chama-se “À l’occasion d’une grande peine”.
— Sei.
— É francês.
— Sei.
— Pena, dor. Não pena de galinha. Uma grande dor. Occasion acho que é ocasião mesmo. Mas podia ser passagem. Melhor, você não acha? Passagem parece quejá vai embora, que já vai passar. O que é que você acha?
— Vou ver se durmo. — Ela bocejou. — Francês, inglês, chá chinês. Você hoje está internacional demais para o meu gabarito.
— Escapismo — ele disse. E acendeu outro cigarro.
— Uma pena que você não queira mesmo sair. — A voz dela parecia mais longe. — Estou pensando em abrir mesmo aquela garrafa de vodca.
— Antes de dormir? — ele falou. — Toma leite morno, dá sono. Põe bastante canela. E mel, açúcar faz mal.
— Mal? Logo quem falando...
— Faça o que eu digo, não faça o que eu. A cinza descia pelo pescoço, quase confundida com o preto da gola. A voz dela soava um tanto irônica, quase ferina.
— Ué, agora você resolveu cuidar de mim, é?
— Vou fazer meu chá — ele disse.
— Como é mesmo que se pronuncia?
Esquizôfrenia?
— Não, é squizofrênia. Tem acento nesse e aí. E se escreve com esse, cê, agá. Depois tem também um pê e outro agá. Tem dois agás.
— E nenhum ipsilone? Nenhum dábliu? — ela perguntou como se estivesse exausta. E amarga. — Adoro ipsilones, dáblius e cás. Tão chique.
— D ‘accord — ele disse. — Mas não tem nenhum.
— Tá bom — ela riu sem vontade. Em seguida disse tchau, até mais, boa-noite, um beijo, e desligou.
Ele abriu a boca, mas antes de repetir as mesmas coisas ouviu O clique do fone sendo colocado no gancho do outro lado da cidade. O disco chegara novamente ao fim, mas antes que recomeçasse ele curvou-se e desligou o som. Em pé, ao lado da mesa, amarfanhou o papel amarelo e jogou-o no cinzeiro. Depois soprou as cinzas do rosto do rapaz. Algumas partículas caíram sobre a foto da mulher. Andou então até o pequeno corredor, curvou-se sobre a planta e com a brasa do cigarro fez um furo redondo na folha. Respirou fundo sem sentir cheiro algum. A sala continuava mergulhada naquela penumbra bordô, baça, moribunda, a almofada fosforescendo estranhamente esverdeada à luz azul de mercúrio. Ele fez um movimento em direção ao telefone. Chegou a avançar um pouco, como se fosse voltar. Mas não se moveu. Imóvel assim no meio da casa, o som desligado e nenhum outro ruído, era possível ouvir o vento soprando solto pelos telhados.
Para Paula Dip
A primeira vez que o telefone tocou ele não se moveu. Continuou sentado sobre a velha almofada amarela, cheia de pastoras desbotadas com coroas de flores nas mãos. As vibrações coloridas da televisão sem som faziam a sala tremer e flutuar, empalidecida pelo bordô mortiço da cor de luxe de um filme antigo qualquer. Quando o telefone tocou pela segunda vez ele estava tentando lembrar se o nome daquela melodia meio arranhada e lentíssima que vinha da outra sala seria mesmo “Desespero agradável” ou “Por um desespero agradável”. De qualquer forma, pensou, desespero. E agradável.
A luz de mercúrio da rua varava os orifícios das cortinas de renda misturando-se, azulada, à cor meio decomposta do filme. Pouco antes do telefone tocar pela terceira vez ele resolveu levantar-se — conferir o nome da música, disse para si mesmo, e caminhou para dentro atravessando o pequeno corredor onde, como sempre, a perna da calça roçou contra a folha rajada de uma planta. Preciso trocá-la de lugar, lembrou, como sempre. E um pouco antes ainda de estender a mão para pegar o telefone na estante, inclinou-se sobre as capas de discos espalhadas pelo chão, entre um cinzeiro cheio e um caneco de cerâmica crua quase vazio, a não ser por uns restos no fundo, que vistos assim de cima formavam uma massa verde, úmida e compacta. “Désespoir agréable”, confirmou. Ainda em pé, colocou a capa branca do disco sobre a mesa enquanto repetia mentalmente: de qualquer forma, desespero. E agradável.
— Lui? — A voz conhecida. — Alô? É você, Lui?
— Eu — ele disse.
— O que é que você está fazendo?
Ele sentou-se. Depois estendeu o braço em frente ao rosto e olhou a palma aberta da própria mão. As pequenas áreas descascadas, ácido úrico, diziam, corroendo lento a pele.
— Alô? Você está me ouvindo?
— Oi — ele disse.
Perguntei o que é que você estava fazendo?
— Fazendo? Nada. Por aí, ouvindo música, vendo tevê. — Fechou a mão. — Agora ia fazer um café. E dormir.
Hein? Fala mais alto.
— Mas não sei se tem pó.
—O quê?
— Nada, bobagem. E você?
Do outro lado da linha, ela suspirou sem dizer nada. Então houve um silêncio curto e em seguida um clique seco e uma espécie de sopro. Deve ter acendido um cigarro, ele pensou. Dobrou mecanicamente o corpo para a esquerda até trazer o cinzeiro cheio de pontas para o lado do telefone.
— Que que houve? — perguntou lento, olhando em volta à procura de um maço de cigarros.
— Escuta, você não quer dar uma saída?
— Estou cansado. Não tenho cabeça. E amanhã preciso acordar muito cedo.
— Mas eu passo aí com o carro. Depois deixo você de novo. A gente não demora nada. Podia ir a um bar, a um cinema, a um.
— Já passa das dez — ele disse.
A voz dela ficou um pouco mais aguda.
— E vir aqui, quem sabe. Também você não quer, não é? Tenho uma vodca ótima. Daquelas. Você adora, nem abri ainda. Só não tenho limão, você traz? — A voz ficou subitamente tão aguda que ele afastou um pouco o fone do ouvido. Por um momento ficou ouvindo a melodia distante, lenta e arranhada do piano. Através dos vidros da porta, com a luz acesa nos fundos, conseguia ver a copa verde das plantas no jardim, algumas folhas amareladas caídas no chão de cimento. Sem querer, quase estremeceu de frio. Ou uma espécie de medo. Esfregou a palma seca da mão esquerda contra a coxa. A voz dela ficou mais baixa quando perguntou:
— E se eu fosse até aí?
Os dedos dele tocaram o maço de cigarros no bolso da calça. Ele contraiu o ombro direito, equilibrando o fone contra o rosto, e puxou devagar o maço.
— Sabe o que é — disse.
—Lui?
Com os dentes, ele prendeu o filtro de um dos cigarros. Mordeu-o, levemente.
— Alô, Lui? Você está aí?
Ele contraiu mais o ombro para acender o cigarro. O fone quase se desequilibrou. Tragou fundo. Tornou a pegar o fone com a mão e soltou pouco a pouco o ombro dolorido soprando a fumaça.
— Eu já estava quase dormindo.
— Que música é essa aí no fundo? — ela perguntou de repente.
Ele puxou o cinzeiro para perto. Virou a capa do disco nas mãos.
— Chama-se “Por um desespero agradável” — mentiu. — Você gosta?
— Não sei. Acho que dá um pouco de sono. Quem é?
Ele bateu o cigarro três vezes na borda do cinzeiro, mas não caiu nenhuma cinza.
— Um cara aí. Um doido.
— Como ele se chama?
— Erik Satie — ele disse bem baixo. Ela não ouviu.
— Lui? Alô, Lui?
— Digue.
— Estou te enchendo o saco? — Outra vez ele escutou o silêncio curto, o clique seco e o sopro leve. Deve ter acendido outro cigarro, pensou. E soprou a fumaça.
— Não — disse.
— Estou te enchendo? Fala. Eu sei que estou.
— Tudo bem, eu não estava mesmo fazendo nada.
— Não consigo dormir — ela disse muito baixo.
— Você está deitada?
— É, lendo. Aí me deu vontade de falar com você.
Ele tragou fundo. Enquanto soprava a fumaça, curvou outra vez o corpo para apanhar
o caneco de cerâmica. Enfiou o indicador até
o fundo, depois mordiscou as folhas miúdas
com os incisivos e perguntou:
— O que é que você estava lendo?
— Nada, não. Uma matéria aí numa revista. Um negócio sobre monoculturas e sprays.
— What about?
—Hein?
— O que você estava lendo.
Ela tossiu. Depois pareceu se animar.
— Umas coisas assim, ecologias, sabe? Dizque se você só planta uma espécie de coisa na terra por muitos anos, ela acaba morrendo. A terra, não a coisa plantada, entende? Soja, por exemplo. Dizque acaba a camada de húmus. Parece que eucalipto também. Depois aos poucos vira deserto. Vão ficando uns pontos assim. Vazios, entende? Desérticos. Espalhados por toda a terra.
O disco acabou, ele não se mexeu. Depois, recomeçou.
— Assim como se você pingasse uma porção de gotas de tinta num mata-borrão — ela continuou. — Eles vão se espalhando cada vez mais. Acabam se encontrando uns com os outros um dia, entende? O deserto fica maior. Fica cada vez maior. Os desertos não param nunca de crescer, sabia?
— Sabia — ele disse.
— Horrível, não?
— E os sprays?
—O quê?
— Os sprays. O que é que tem os sprays?
— Ah, pois é. Foi na mesma revista. Diz que cada apertada que você dá assim num tubo de desodorante. Não precisa ser desodorante, qualquer tubo, entende? Faz assim ah, como é que eu vou dizer? Um furo, sabe? Um rombo, um buraco na camada de como é mesmo que se diz?
— Ozônio — ele disse.
— Pois é, ozônio. O ar que a gente respira, entende? A biosfera.
— Já deve estar toda furadinha então — ele disse.
—O quê?
— Deve estar toda furada — ele repetiu bem devagar. — A camada. A biosfera. O ozônio.
— Já pensou que horror? Você sabia dis so
Lui?
Ele não respondeu.
— Alô, Lui? Você ainda está aí?
— Estou.
— Acho que fiquei meio horrorizada. E com medo. Você não tem medo, Lui?
— Estou cansado.
Do outro lado da linha, ela riu. Pelo som, ele adivinhou que ela ria sem abrir a boca, apenas os ombros sacudindo, movendo a cabeça para os lados, alguns fios de cabelo caídos nos olhos.
— Não estou te alugando? — ela perguntou. — Você sempre dizque eu te alugo. Como se você fosse um imóvel, uma casa. Eu, se fosse uma casa, queria uma piscina nos fundos. Um jardim enorme. E ar-condicionado. Que tipo de casa você queria ser, Lui?
— Eu não queria ser casa.
- Como?
— Queria ser um apartamento.
— Sei, mas que tipo?
Ele suspirou:
— Uma quitinete. Sem telefone.
— O quê? Alô, Lui? Você não ia mesmo fazer nada?
— Um chá, eu ia fazer um chá.
— Não era café? Me lembro que você falou que ia fazer café.
— Não tem mais pó. — Ele lambeu a ponta do indicador, depois umedeceu o nariz por dentro. Então sacudiu o cinzeiro cheio de pontas queimadas e cinza. Algumas partículas voaram, caindo sobre a capa branca do disco, com um desenho abstrato no centro. Com cuidado, juntou-as num montinho sobre o canto roxo da figura central. — Nem coador de papel. E acabei de me lembrar que tenho um chá incrível. Tem até uma bula louquíssima, quer ver? Guardei aqui dentro. — Ele equilibrou o fone com o ombro e abriu a cadernetinha preta de endereços.
— Chá não tem bula — ela resmungou. Parecia aborrecida, meio infantil. — Bula é de remédio.
— Tem sim, esse chá tem. Quer ver só? — Entre duas fotos polaroid desbotadas, na contracapa da caderneta, encontrou o retângulo de papel amarelo dobrado em quatro.
— Lui? Você não quer mesmo vir até aqui? Sabe — ela tornou a rir, e desta vez ele imaginou que quase escancarava a boca, passando devagar a língua pelos lábios ressecados de cigarro —, eu acho que fiquei meio impressionada com essa história dos desertos, dos buracos, do ozônio. Lui, você acha que o mundo está mesmo no fim?
Ele desdobrou sobre a mesa o papel amarelo, ao lado das duas fotos tão desbotadas quanto as manchas redondas de xícaras quentes na madeira escura. Uma das fotos era de uma mulher quase bonita, cabelos presos e brincos de ouro em forma de rosas miudinhas. A outra era de um rapaz com blusa preta de gola em V, o rosto apoiado numa das mãos, leve estrabismo nos olhos escuros.
— Sem falar nas usinas nucleares — ele disse. E com a ponta dos dedos, do canto roxo do desenho na capa do disco, foi empurrando o montículo de cinzas por cima das formas torcidas, marrom, amarelo, verde, até o espaço branco e, por fim, exatamente sobre o rosto do rapaz da foto.
— Lui? — ela chamou inquieta. — Encontrou o negócio do tal chá?
— Encontrei.
— Você está esquisito. O que é que há?
— Nada. Estou cansado, só isso. Quer ver o que diz a bula? É inglês, você entende um pouco, não é? — Ela não respondeu. Então ele leu, dramático: —... is exceilent for ali types of nervous disorders, paranoia, schizophrenia, drugs effects, digestive problems, hornionai diseases and other disorders... — Começou a rir baixinho, divertido: — Entendeu?
— Entendi — ela disse. — É um inglês fácil, qualquer um entende. Porreta esse chá, hein? É inglês?
Ele continuou rindo:
— Chinês. Aqui embaixo diz produced in China. — Com a cinza, cobriu todo o olho estrábico do rapaz. — Drugs effects é ótimo, não é?
— Maravilhoso — ela falou. — O disco tá tocando de novo, já ouvi esse
— Tá bom — ela disse.
— Tá bom — ele repetiu. E pensou que quando começavam a falar desse jeito sempre era um sinal tácito para algum desligar. Mas não quis ser o primeiro.
— Vou tirar amanhã — ela falou de re pente.
—Hein?
— Nada. Vai fazer teu chá.
— Tá bom. Aqui diz também que tem vitamina E. — Abriu a mão e olhou as manchas branquicentas na palma. — Não é essa que é boa para a pele?
— Acho que aquela é a A. Não entendo muito de vitaminas.
— Nem eu. A C eu sei que é a da gripe, todo mundo sabe. Qual será a que cura os tais drugs effects? Cheirei todas hoje. Estou com aquele... vazio intenso, sabe como?
— Não sei. — De repente ela parecia apressada. — Vou desligar.
— Você ligou o rádio?
— Ainda não. Como é mesmo o nome dessa música?
— “Por um desespero agradável” — ele mentiu outra vez, depois corrigiu: — Não. É só “Desespero agradável”.
— Agradável?
— É, agradável. Por que não?
— Engraçado. Desespero nunca é agradável.
— Às vezes sim. Cocaína, por exemplo.
— Você só pensa nisso?
— Não, penso em fazer um chá também.
— Hein?
— Mas essa que tá tocando agora é outra, ouça. — Ele ergueu um momento o fone no ar em direção às caixas de som e ficou um momento assim, parado. — São todas muito parecidas. Só piano, mais nada. — A cinza cobria o rosto inteiro do rapaz na foto. — Essa agora chama-se “À l’occasion d’une grande peine”.
— Sei.
— É francês.
— Sei.
— Pena, dor. Não pena de galinha. Uma grande dor. Occasion acho que é ocasião mesmo. Mas podia ser passagem. Melhor, você não acha? Passagem parece quejá vai embora, que já vai passar. O que é que você acha?
— Vou ver se durmo. — Ela bocejou. — Francês, inglês, chá chinês. Você hoje está internacional demais para o meu gabarito.
— Escapismo — ele disse. E acendeu outro cigarro.
— Uma pena que você não queira mesmo sair. — A voz dela parecia mais longe. — Estou pensando em abrir mesmo aquela garrafa de vodca.
— Antes de dormir? — ele falou. — Toma leite morno, dá sono. Põe bastante canela. E mel, açúcar faz mal.
— Mal? Logo quem falando...
— Faça o que eu digo, não faça o que eu. A cinza descia pelo pescoço, quase confundida com o preto da gola. A voz dela soava um tanto irônica, quase ferina.
— Ué, agora você resolveu cuidar de mim, é?
— Vou fazer meu chá — ele disse.
— Como é mesmo que se pronuncia?
Esquizôfrenia?
— Não, é squizofrênia. Tem acento nesse e aí. E se escreve com esse, cê, agá. Depois tem também um pê e outro agá. Tem dois agás.
— E nenhum ipsilone? Nenhum dábliu? — ela perguntou como se estivesse exausta. E amarga. — Adoro ipsilones, dáblius e cás. Tão chique.
— D ‘accord — ele disse. — Mas não tem nenhum.
— Tá bom — ela riu sem vontade. Em seguida disse tchau, até mais, boa-noite, um beijo, e desligou.
Ele abriu a boca, mas antes de repetir as mesmas coisas ouviu O clique do fone sendo colocado no gancho do outro lado da cidade. O disco chegara novamente ao fim, mas antes que recomeçasse ele curvou-se e desligou o som. Em pé, ao lado da mesa, amarfanhou o papel amarelo e jogou-o no cinzeiro. Depois soprou as cinzas do rosto do rapaz. Algumas partículas caíram sobre a foto da mulher. Andou então até o pequeno corredor, curvou-se sobre a planta e com a brasa do cigarro fez um furo redondo na folha. Respirou fundo sem sentir cheiro algum. A sala continuava mergulhada naquela penumbra bordô, baça, moribunda, a almofada fosforescendo estranhamente esverdeada à luz azul de mercúrio. Ele fez um movimento em direção ao telefone. Chegou a avançar um pouco, como se fosse voltar. Mas não se moveu. Imóvel assim no meio da casa, o som desligado e nenhum outro ruído, era possível ouvir o vento soprando solto pelos telhados.
Marcadores: Morangos Mofados
Para Mano Bertoni
I
O envelope não tinha nada de especial. Branco, retangular, seu nome e endereço datilografados corretamente do lado esquerdo, sem remetente. Guardou-o no bolso até a hora de dormir, quando, vestindo o pijama (azul, bolinhas brancas), lembrou. Abriu, então. E leu:
“Seu porco, talvez você pense que engana muita gente. Mas a mim você nunca enganou. Faz muito tempo que acompanho suas cachorradas. Hoje é só um primeiro contato. Para avisá-lo que estou de olho em você. Cordialmente, seu Inimigo Secreto”.
A esposa ao lado notou a palidez. E ele sufocou um grito, como nos romances. Mas não era nada, disse, nada, talvez a carne de porco do jantar. Foi à cozinha tomar sal de frutas. Leu de novo e quebrou o copo sem querer. Voltou para o quarto, apagou a luz e, no escuro, fumou quatro cigarros antes de conseguir dormir.
II
Dois dias depois veio o segundo. Examinando a correspondência do dia localizou o envelope branco, retangular, nome e endereço datilografados no lado esquerdo, sem remetente. Pediu um café à secretária, acendeu um cigarro e leu: “Tenho pensado muito em sua mãe. Não sei se você está lembrado: quando ela teve o terceiro enfarte e ficou inutilizada você não hesitou em mandá-la para aquele asilo. Ela não podia falar direito, mas conseguiu pedir que não a enviasse para lá. Queria morrer em casa. Mas você não suporta a doença e a morte a seu lado (embora elas estejam dentro de você). Então mandou-a para o asilo e ela morreu uma semana depois. Por sua culpa. Cordialmente, seu Inimigo Secreto”.
Abriu a terceira gaveta da escrivaninha e colocou-o junto com o primeiro. Pediu outro café, acendeu outro cigarro. Suspendeu a reunião daquele dia. Parado na janela, fumando sem parar, olhava a cidade e pensava coisas assim: “Mas era um asilo ótimo, mandei construir um túmulo todo de mármore, teve mais de dez coroas de flores, ela já estava mesmo muito velha”.
III
Alguns dias depois, outro. Com o tempo, começou a se estabelecer um ritmo. Chegavam às terças e quintas, invariavelmente. O terceiro, que ele abriu com dedos trêmulos, dizia:
“Você lembra da Clélia? Tinha só dezesseis anos quando você a empregou como secretária. Cabelo claro, fino, olhos assustados. Logo vieram as caronas até a casa em Sarandi, os jantares à luz de velas, depois os hoteizinhos em Ipanema, um pequeno apartamento no centro e a gravidez. Ela era corajosa, queria ter a criança, não se importava de ser mãe solteira. Você teve medo, não podia se comprometer. Semana que vem faz dois anos que ela morreu na mesa de aborto”.
IV
Fumava cada vez mais, sobretudo às terças e quintas. As cartas se acumulavam na terceira gaveta da escrivaninha:
“É o Hélio? Lembra do Hélio, seu ex-sócio? Desde que você conseguiu a maior parte das ações com aquele golpe sujo e o reduziu a nada dentro da companhia, ele começou a beber, tentou o suicídio e esteve internado três vezes numa clínica psiquiátrica.”
E:
“Então você se sentiu orgulhoso de si mesmo no jantar que os funcionários lhe ofereceram no sábado passado? Talvez não se sentisse tanto se pudesse ver no espelho a sua barriga gorda e os seus olhinhos de cobra no decote de dona Leda. Depois que você se foi, ela riu durante meia hora e foi para a cama com o Jorginho do departamento de compras.”
E:
“E o fracasso sexual com sua mulher no domingo? Será que minhas cartas o têm perturbado tanto? Ou será apenas que você está ficando velho e brocha?”
V
Com cuidado, a mulher insinuou que devia procurar um psiquiatra. Ele desconversou, falou no tempo e convidou-a para ir ao cinema. A terceira gaveta transbordava. Além das terças e quintas, depois de um mês as cartas passaram a vir também aos sábados. E, depois de dois meses, todos os dias. Tentava controlar-se, pensou em não abrir mais os envelopes. Chegou a rasgar um deles e jogar os pedaços no cesto de papéis. Depois viu-se de quatro, juntando pedacinhos como num quebra-cabeça, para decifrar: “Você tem observado seu filho Luiz Carlos? Já reparou na maneira de ele cruzar as pernas? E o que me diz do jeito como penteia o cabelo? Não é exatamente o que se poderia chamar um tipo viril. Parece que faz questão de cada vez mais parecer-se com sua mulher. Talvez tenha nojo de parecer-se com você”.
VI
“Há quanto tempo você não tem um bom orgasmo?”
“E aquele seu pesadelo, tem voltado? Você está completamente nu sobre uma plataforma no meio da praça. A multidão em volta ri das suas banhas, da sua bunda mole, obrigam-no a dançar com um colar de flores no pescoço e jogam-lhe ovos e tomates podres.”
“Uma farsa, essa sua vida, O seu casamento, a sua casa em Torres, a sua profissão — uma farsa. E o pior é que você já não consegue nem fingir que acredita nela.”
“Pergunte à sua mulher sobre um certo Antônio Carlos. E, se ela lhe disser que a mancha roxa no seio foi uma batida, não acredite.”
“Quando criança você não queria ser marinheiro?”
VII
Suportou seis meses. Uma tarde, pediu à secretária um envelope branco, colocou papel na máquina e escreveu: “Seu verme, ao receber esta carta amanhã, reconhecerá que venci. Ao chegar em casa, apanhará o revólver na mesinha-de-cabeceira e disparará um tiro contra o céu da boca”. Acendeu um cigarro. Depois bateu devagar, letra por letra: “Cordialmente, seu Inimigo Secreto”. Datilografou o próprio nome e endereço na parte esquerda do envelope, sem remetente. Chamou a secretária e pediu que colocasse no correio. Como vinha fazendo nos últimos seis meses
I
O envelope não tinha nada de especial. Branco, retangular, seu nome e endereço datilografados corretamente do lado esquerdo, sem remetente. Guardou-o no bolso até a hora de dormir, quando, vestindo o pijama (azul, bolinhas brancas), lembrou. Abriu, então. E leu:
“Seu porco, talvez você pense que engana muita gente. Mas a mim você nunca enganou. Faz muito tempo que acompanho suas cachorradas. Hoje é só um primeiro contato. Para avisá-lo que estou de olho em você. Cordialmente, seu Inimigo Secreto”.
A esposa ao lado notou a palidez. E ele sufocou um grito, como nos romances. Mas não era nada, disse, nada, talvez a carne de porco do jantar. Foi à cozinha tomar sal de frutas. Leu de novo e quebrou o copo sem querer. Voltou para o quarto, apagou a luz e, no escuro, fumou quatro cigarros antes de conseguir dormir.
II
Dois dias depois veio o segundo. Examinando a correspondência do dia localizou o envelope branco, retangular, nome e endereço datilografados no lado esquerdo, sem remetente. Pediu um café à secretária, acendeu um cigarro e leu: “Tenho pensado muito em sua mãe. Não sei se você está lembrado: quando ela teve o terceiro enfarte e ficou inutilizada você não hesitou em mandá-la para aquele asilo. Ela não podia falar direito, mas conseguiu pedir que não a enviasse para lá. Queria morrer em casa. Mas você não suporta a doença e a morte a seu lado (embora elas estejam dentro de você). Então mandou-a para o asilo e ela morreu uma semana depois. Por sua culpa. Cordialmente, seu Inimigo Secreto”.
Abriu a terceira gaveta da escrivaninha e colocou-o junto com o primeiro. Pediu outro café, acendeu outro cigarro. Suspendeu a reunião daquele dia. Parado na janela, fumando sem parar, olhava a cidade e pensava coisas assim: “Mas era um asilo ótimo, mandei construir um túmulo todo de mármore, teve mais de dez coroas de flores, ela já estava mesmo muito velha”.
III
Alguns dias depois, outro. Com o tempo, começou a se estabelecer um ritmo. Chegavam às terças e quintas, invariavelmente. O terceiro, que ele abriu com dedos trêmulos, dizia:
“Você lembra da Clélia? Tinha só dezesseis anos quando você a empregou como secretária. Cabelo claro, fino, olhos assustados. Logo vieram as caronas até a casa em Sarandi, os jantares à luz de velas, depois os hoteizinhos em Ipanema, um pequeno apartamento no centro e a gravidez. Ela era corajosa, queria ter a criança, não se importava de ser mãe solteira. Você teve medo, não podia se comprometer. Semana que vem faz dois anos que ela morreu na mesa de aborto”.
IV
Fumava cada vez mais, sobretudo às terças e quintas. As cartas se acumulavam na terceira gaveta da escrivaninha:
“É o Hélio? Lembra do Hélio, seu ex-sócio? Desde que você conseguiu a maior parte das ações com aquele golpe sujo e o reduziu a nada dentro da companhia, ele começou a beber, tentou o suicídio e esteve internado três vezes numa clínica psiquiátrica.”
E:
“Então você se sentiu orgulhoso de si mesmo no jantar que os funcionários lhe ofereceram no sábado passado? Talvez não se sentisse tanto se pudesse ver no espelho a sua barriga gorda e os seus olhinhos de cobra no decote de dona Leda. Depois que você se foi, ela riu durante meia hora e foi para a cama com o Jorginho do departamento de compras.”
E:
“E o fracasso sexual com sua mulher no domingo? Será que minhas cartas o têm perturbado tanto? Ou será apenas que você está ficando velho e brocha?”
V
Com cuidado, a mulher insinuou que devia procurar um psiquiatra. Ele desconversou, falou no tempo e convidou-a para ir ao cinema. A terceira gaveta transbordava. Além das terças e quintas, depois de um mês as cartas passaram a vir também aos sábados. E, depois de dois meses, todos os dias. Tentava controlar-se, pensou em não abrir mais os envelopes. Chegou a rasgar um deles e jogar os pedaços no cesto de papéis. Depois viu-se de quatro, juntando pedacinhos como num quebra-cabeça, para decifrar: “Você tem observado seu filho Luiz Carlos? Já reparou na maneira de ele cruzar as pernas? E o que me diz do jeito como penteia o cabelo? Não é exatamente o que se poderia chamar um tipo viril. Parece que faz questão de cada vez mais parecer-se com sua mulher. Talvez tenha nojo de parecer-se com você”.
VI
“Há quanto tempo você não tem um bom orgasmo?”
“E aquele seu pesadelo, tem voltado? Você está completamente nu sobre uma plataforma no meio da praça. A multidão em volta ri das suas banhas, da sua bunda mole, obrigam-no a dançar com um colar de flores no pescoço e jogam-lhe ovos e tomates podres.”
“Uma farsa, essa sua vida, O seu casamento, a sua casa em Torres, a sua profissão — uma farsa. E o pior é que você já não consegue nem fingir que acredita nela.”
“Pergunte à sua mulher sobre um certo Antônio Carlos. E, se ela lhe disser que a mancha roxa no seio foi uma batida, não acredite.”
“Quando criança você não queria ser marinheiro?”
VII
Suportou seis meses. Uma tarde, pediu à secretária um envelope branco, colocou papel na máquina e escreveu: “Seu verme, ao receber esta carta amanhã, reconhecerá que venci. Ao chegar em casa, apanhará o revólver na mesinha-de-cabeceira e disparará um tiro contra o céu da boca”. Acendeu um cigarro. Depois bateu devagar, letra por letra: “Cordialmente, seu Inimigo Secreto”. Datilografou o próprio nome e endereço na parte esquerda do envelope, sem remetente. Chamou a secretária e pediu que colocasse no correio. Como vinha fazendo nos últimos seis meses
Marcadores: Pedras de Calcuta
Para lrene Brietzke
Eu quero ir, minha gente,
eu não sou daqui,
eu não tenho nada,
quero ver Irene rir,
quero ver Irene dar sua risada.
(Caetano Veloso: Irene)
Que era uma mulher e amava essas as considerações de nível geral repetidas todas as manhãs, antes de descer às minúcias cotidianas. Depois vinham os problemas. As perguntas. Que era uma mulher não havia dúvida, embora o ser despenteado e vagamente sujo recém-desperto a olhasse um tanto assexuado do fundo do espelho. Concretizada a primeira afirmação (ou fato, como diria mais tarde aos alunos do segundo ano primário) -concretizada a primeira afirmação, como ia dizendo, ela afirmava-se e cumpria-se em mulher, passando em seguida à segunda. Que amava. Liberta do entorpecimento do sono que a perseguia até então, encarava-se antipatizada consigo mesma. Que amava? Pedra no caminho, a interrogação afazia tropeçar um pouco despeitada. Não com a pedra nem com o tropeção, que pedras sempre havia e tropeções eram fatais, mas com não poder passar adiante, sacudindo a poeira do vestido e acariciando prováveis arranhões. Lavava o rosto, fazendo-se mais e mais inteligente à medida que se despia dos acessórios do sono. Resíduos nos olhos, fios de cabelo fora do lugar, gosto ruim na boca – com sabonete, água, pasta e escova de dentes ela os eliminava um a um. E em sagacidade, crescia. Cabelos erguidos num coque, quase gênio, voltava à afirmação. Que amava. Pois afirmara e não apenas, modesta, indagara. Passava a outras operações. Matinais, femininas. No corpo, aquela quase idiota sensação de sujeira que o sono deixava. Sentia-se imoral ao acordar. Incestuosa. Principalmente quando sonhava consigo mesma. Ah houvesse um jeito de dormir completamente só, sem a companhia sequer de si mesma. Não havia. Incestuosamente, então, deitava-se às dez da noite para acordar às seis da manhã. Oito horas exatinhas. Às vezes detinha-se e pensava: antilunar o meu sistema. Quando deitava, a lua ainda não tinha vindo; quando acordava, já fora embora. Carregava pesada e magoada uma lua vista apenas por dentro. Que amava a lua? Obsessiva, voltava à pedra. Talvez descobrindo que lhe entrara no sapato. Por que não jogá-la longe de vez? Que amava? Em resposta, mirava-se triunfante no espelho, boca pintada, cabelo penteado, seios empinados, e totalmente assumida em mulher. Vagamente desgostosa triunfo murchando na vistoria do corpo -aqui entre nós, dizia-se, quase indecente na intimidade consigo mesma -aqui entre nós, um tanto passado. Franzia as sobrancelhas, disfarçava a raiva espiando pela janela.
O sol ainda não viera. E sem lua nem sol ela estava sozinha no banheiro. Esta revelação a fez baquear um pouco. Meio tonta com a solidão e a brancura do momento. Trôpega, buscou apoio na extremidade da pia, que respondeu fria e asséptica ao pedido de ajuda. Olhou para a porta, e se então tivesse saído teria escapado. Mas ficou. Ferindo a si mesma e por si mesma sendo ferida. Com o pretexto de lavar as mãos, molhou os pulsos, sem admitir a tontura – que às vezes tinha esses pudores íntimos.
Recuperada, voltou à pergunta. Que amava? Com fricotes de namorada, fingia não querer responder, não querer saber -que amava? Didática, explicou-se: amar, verbo transitivo direto: quem ama, ama alguma coisa. Ou alguém, completou. Analisou-se, voltando à afirmação do início -que era uma mulher e amava: 1)Que era uma mulher; 2)Que amava: a) alguma coisa ou b) alguém. O pronome indefinido colocou-lhe um arrepio definido e melancólico na espinha. Teve que substitui-lo por outro: ninguém. Havia, certo, vagos e avermelhados professores do colégio onde lecionava. Havia vizinhos? e homens? E vizinhos e homens, havia. E principalmente um namorado de adolescência a quem, preguiçosa, esquecera de amar -possibilidade de algum sofrimento relegada em fotografia à última gaveta da escrivaninha. E contudo, amava. Leviana, objetiva, espalhava seu amor sobre os móveis polidos com cuidado, o assoa lho encerado, as cortinas lavadas, que sua casa era um brinco. A imagem lembrou-lhe as argolas de ouro há tempos esquecidas. Vou botar hoje, decidiu.
E encarou-se. Implícito no olhar, o pedido de desculpas por permitir-se àquela extravagância. Pedido de desculpas logo transformado em olhar de revolta. Afinal, não tenho o direito de usar o que é meu? Teatral: e por que raios não saio logo deste maldito banheiro? Acrescentou o adjetivo para ver se sentia um pouco de raiva. Mas o banheiro, branco, limpo, com azulejos, sais e sabonetes enfileirados nas prateleiras -o banheiro não era nada odiável. Com seu ódio recusado pesando por dentro, interrogou-se: que-que eu tenho hoje. A pergunta soou sem ponto de interrogação. Respirou fundo e repetiu em voz alta: que-que eu tenho hoje?
Então viu. Antes que tivesse tempo de terminar a pergunta, ela viu. Tentou disfarçar lembrando que seu nome -Irene -era de origem grega e significava "Mensageira da Paz", vira no Almanaque Mundial de Seleções na noite anterior, antes de dormir. Lindo lindo lindo -adjetivou três vezes em lento pânico. Tão lento que não atinou com despir-se inteira do que até então vira para sair nua e cega do banheiro. O pensamento dava voltas devagar, ela julgou ouvir um canto de criança longe. Tão longe que poderia ser também uma canção de ninar. Boba, sorriu. Toda enleada na viscosidade dos pensamentos, exatamente como uma mosca se debatendo bêbada, deliciada e aflita, numa armadilha de mel. Mas os minutos passavam enquanto sua possibilidade de libertação diminuía cada vez mais. Alheia à própria perdição ela afundava, Irene, embevecida. E se não saísse agora, já, exatamente nesta nota deste canto naquele passarinho daquela árvore ali de fora, se não saísse agora estaria perdida. Imóvel, Irene não ouviu o apelo do pássaro. E sem ter outro remédio, relegada a si própria, Irene viu.
Redonda, amarela, tentadora -a espinha brilhava na ponta do nariz. Passado o primeiro espanto, o gesto foi de pudor. Como se sua face exibisse uma obscenidade, um outro órgão sexual ainda mais cabeludo e mais oculto. Como se a quieta presença da espinha violentasse alguma coisa no dia. Mas corrigiu esse primeiro gesto, e contemplou-a novamente. O segundo movimento foi de orgulho. Como nascera de si espinha tão perfeita? Examinou-se conscienciosa da cabeça aos pés, e quando tornou a erguer os olhos o maravilhamento foi ainda maior. Era realmente uma bela espinha. De uma beleza geométrica: exata na circunferência, discreta na cor, formando dois ângulos de quarenta e cinco graus com as aberturas do nariz. Irene lembrou-se de compará-las às outras espinhas de sua vida. Mas aquelas, além de poucas, tinham seu habitat natural em suas costas, lugar inacessível aos olhos. Logo também o deslumbramento desestruturou-se, rolando em indagações pelo rosto abaixo. Como? Quando? Por quê? Na noite anterior, ao lavar o rosto, não vira sequer anúncio da espinha. E hoje, minutos afio recompondo-se, ainda não percebera nada. E seu rosto sempre limpo, prevenindo acontecimentos dessa espécie. E sua idade madura, superando esses problemas adolescentes. Todas as perguntas tinham resposta. Mas a espinha continuava. Alheia às investigações, atenta apenas a seu próprio amadurecer. Teria crescido durante a noite? Seria apenas uma espinha? Seria um ferimento inflamado? Seria -? Novamente Irene amaldiçoou as espinhas de outrora, nascidas sempre nas costas, e, portanto negando-lhe um eventual preparo para enfrentá-las.
Então, esgotadas as dúvidas, as hipóteses, as perguntas; esgotada sua própria resistência, ela caiu no círculo profundo que desde o início evitara. Dentro de si, olhou para trás e viu às suas costas os dias anteriores acumulados. Uma pilha inútil, discos fora de moda, revistas velhas, badulaques. E viu dias agrupando-se em semanas, em meses, em semestres, em anos, em décadas de cima daquela pirâmide quarenta anos a contemplavam. Tentou ver-lhes as faces, curvou-se um pouco, e mais, e mais ainda. Desnecessário esforço. As massas informes não possuíam feições. Não haviam passado por elas as coisas que geram rugas, vincos, sorrisos, expressões. Cheiros não haviam feito vibrar aquelas narinas. Sabores nos atingiam aqueles paladares, imagens passavam incógnitas pelos olhares fixos, sons desfaziam-se em choque e poeira contra ouvidos pétreos, contatos perdiam o sentido àqueles dedos frios. Quarenta monstrengos formados cada um de infinidades de outros a observavam, inertes. Tentou descobrir um vislumbre de ódio nas expressões. Nem isso. Sem solicitações ou expectativas, eles aguardavam. O que, deus, o quê? Pois se amava. Pois se distribuía seu amor por todas as coisas com que convivia. Pois se sofria. Pois se vezenquando chorava sem saber por quê.
Pois se não via a lua. Pois se tinha pena das crianças pobres na escola. Pois se encarara a espinha. Intensa na própria defesa acumulava atenuantes, justificando-se aflita. Contou desculpas nos dez dedos das mãos abertas em frente ao espelho. Não satisfeita, recorreu aos dos pés. Recorreria a outros, se mais tivesse. As desculpas se acumulavam me entende, eu não quis, eu não quero, eu sofro, eu tenho medo, me dá a tua mão, entende, por favor. Eu tenho medo, merda!
Devagarinho, deixou os ombros caírem. Com a mão, afastou da testa os cabelos molhados. O grito ressoara forte no banheiro, ecoando pelos azulejos para calar o pássaro lá fora. O pássaro que havia pouco fora sua possibilidade de salvação. Recusada. Sacudiu a cabeça, furiosamente afastando pensamentos. Que era uma mulher e amava, que era uma mulher e amava, queeraumamulhereamavaqueeraumamulhereamavaqueeraumamulhereamava foi repetindo e repetindo até libertar-se de tudo. Abriu os olhos, encarou-se. Feminina, amorosa, delicada, levou os dois indicadores até o nariz e suavemente espremeu a intrusa. Depois caminhou até a cozinha e servindo-se de chá na xícara rosada olhou com espanto o relógio. -Como é tarde, meu deus! Preciso me apressar! Apressou-se então, a boca cheia de pão com manteiga, ao mesmo tempo em que se imaginava na roda do cafezinho contando: -Imagina, Clotilde, hoje me aconteceu uma coisa tão engraçada!
Mas tão engraçada, repetiu em voz alta no meio da neblina, argolas douradas nas orelhas, a rua vazia. Saiu correndo para pegar o bonde. Sentada, acariciou medrosa a ponta do nariz.
Não ficara nenhum sinal.
Eu quero ir, minha gente,
eu não sou daqui,
eu não tenho nada,
quero ver Irene rir,
quero ver Irene dar sua risada.
(Caetano Veloso: Irene)
Que era uma mulher e amava essas as considerações de nível geral repetidas todas as manhãs, antes de descer às minúcias cotidianas. Depois vinham os problemas. As perguntas. Que era uma mulher não havia dúvida, embora o ser despenteado e vagamente sujo recém-desperto a olhasse um tanto assexuado do fundo do espelho. Concretizada a primeira afirmação (ou fato, como diria mais tarde aos alunos do segundo ano primário) -concretizada a primeira afirmação, como ia dizendo, ela afirmava-se e cumpria-se em mulher, passando em seguida à segunda. Que amava. Liberta do entorpecimento do sono que a perseguia até então, encarava-se antipatizada consigo mesma. Que amava? Pedra no caminho, a interrogação afazia tropeçar um pouco despeitada. Não com a pedra nem com o tropeção, que pedras sempre havia e tropeções eram fatais, mas com não poder passar adiante, sacudindo a poeira do vestido e acariciando prováveis arranhões. Lavava o rosto, fazendo-se mais e mais inteligente à medida que se despia dos acessórios do sono. Resíduos nos olhos, fios de cabelo fora do lugar, gosto ruim na boca – com sabonete, água, pasta e escova de dentes ela os eliminava um a um. E em sagacidade, crescia. Cabelos erguidos num coque, quase gênio, voltava à afirmação. Que amava. Pois afirmara e não apenas, modesta, indagara. Passava a outras operações. Matinais, femininas. No corpo, aquela quase idiota sensação de sujeira que o sono deixava. Sentia-se imoral ao acordar. Incestuosa. Principalmente quando sonhava consigo mesma. Ah houvesse um jeito de dormir completamente só, sem a companhia sequer de si mesma. Não havia. Incestuosamente, então, deitava-se às dez da noite para acordar às seis da manhã. Oito horas exatinhas. Às vezes detinha-se e pensava: antilunar o meu sistema. Quando deitava, a lua ainda não tinha vindo; quando acordava, já fora embora. Carregava pesada e magoada uma lua vista apenas por dentro. Que amava a lua? Obsessiva, voltava à pedra. Talvez descobrindo que lhe entrara no sapato. Por que não jogá-la longe de vez? Que amava? Em resposta, mirava-se triunfante no espelho, boca pintada, cabelo penteado, seios empinados, e totalmente assumida em mulher. Vagamente desgostosa triunfo murchando na vistoria do corpo -aqui entre nós, dizia-se, quase indecente na intimidade consigo mesma -aqui entre nós, um tanto passado. Franzia as sobrancelhas, disfarçava a raiva espiando pela janela.
O sol ainda não viera. E sem lua nem sol ela estava sozinha no banheiro. Esta revelação a fez baquear um pouco. Meio tonta com a solidão e a brancura do momento. Trôpega, buscou apoio na extremidade da pia, que respondeu fria e asséptica ao pedido de ajuda. Olhou para a porta, e se então tivesse saído teria escapado. Mas ficou. Ferindo a si mesma e por si mesma sendo ferida. Com o pretexto de lavar as mãos, molhou os pulsos, sem admitir a tontura – que às vezes tinha esses pudores íntimos.
Recuperada, voltou à pergunta. Que amava? Com fricotes de namorada, fingia não querer responder, não querer saber -que amava? Didática, explicou-se: amar, verbo transitivo direto: quem ama, ama alguma coisa. Ou alguém, completou. Analisou-se, voltando à afirmação do início -que era uma mulher e amava: 1)Que era uma mulher; 2)Que amava: a) alguma coisa ou b) alguém. O pronome indefinido colocou-lhe um arrepio definido e melancólico na espinha. Teve que substitui-lo por outro: ninguém. Havia, certo, vagos e avermelhados professores do colégio onde lecionava. Havia vizinhos? e homens? E vizinhos e homens, havia. E principalmente um namorado de adolescência a quem, preguiçosa, esquecera de amar -possibilidade de algum sofrimento relegada em fotografia à última gaveta da escrivaninha. E contudo, amava. Leviana, objetiva, espalhava seu amor sobre os móveis polidos com cuidado, o assoa lho encerado, as cortinas lavadas, que sua casa era um brinco. A imagem lembrou-lhe as argolas de ouro há tempos esquecidas. Vou botar hoje, decidiu.
E encarou-se. Implícito no olhar, o pedido de desculpas por permitir-se àquela extravagância. Pedido de desculpas logo transformado em olhar de revolta. Afinal, não tenho o direito de usar o que é meu? Teatral: e por que raios não saio logo deste maldito banheiro? Acrescentou o adjetivo para ver se sentia um pouco de raiva. Mas o banheiro, branco, limpo, com azulejos, sais e sabonetes enfileirados nas prateleiras -o banheiro não era nada odiável. Com seu ódio recusado pesando por dentro, interrogou-se: que-que eu tenho hoje. A pergunta soou sem ponto de interrogação. Respirou fundo e repetiu em voz alta: que-que eu tenho hoje?
Então viu. Antes que tivesse tempo de terminar a pergunta, ela viu. Tentou disfarçar lembrando que seu nome -Irene -era de origem grega e significava "Mensageira da Paz", vira no Almanaque Mundial de Seleções na noite anterior, antes de dormir. Lindo lindo lindo -adjetivou três vezes em lento pânico. Tão lento que não atinou com despir-se inteira do que até então vira para sair nua e cega do banheiro. O pensamento dava voltas devagar, ela julgou ouvir um canto de criança longe. Tão longe que poderia ser também uma canção de ninar. Boba, sorriu. Toda enleada na viscosidade dos pensamentos, exatamente como uma mosca se debatendo bêbada, deliciada e aflita, numa armadilha de mel. Mas os minutos passavam enquanto sua possibilidade de libertação diminuía cada vez mais. Alheia à própria perdição ela afundava, Irene, embevecida. E se não saísse agora, já, exatamente nesta nota deste canto naquele passarinho daquela árvore ali de fora, se não saísse agora estaria perdida. Imóvel, Irene não ouviu o apelo do pássaro. E sem ter outro remédio, relegada a si própria, Irene viu.
Redonda, amarela, tentadora -a espinha brilhava na ponta do nariz. Passado o primeiro espanto, o gesto foi de pudor. Como se sua face exibisse uma obscenidade, um outro órgão sexual ainda mais cabeludo e mais oculto. Como se a quieta presença da espinha violentasse alguma coisa no dia. Mas corrigiu esse primeiro gesto, e contemplou-a novamente. O segundo movimento foi de orgulho. Como nascera de si espinha tão perfeita? Examinou-se conscienciosa da cabeça aos pés, e quando tornou a erguer os olhos o maravilhamento foi ainda maior. Era realmente uma bela espinha. De uma beleza geométrica: exata na circunferência, discreta na cor, formando dois ângulos de quarenta e cinco graus com as aberturas do nariz. Irene lembrou-se de compará-las às outras espinhas de sua vida. Mas aquelas, além de poucas, tinham seu habitat natural em suas costas, lugar inacessível aos olhos. Logo também o deslumbramento desestruturou-se, rolando em indagações pelo rosto abaixo. Como? Quando? Por quê? Na noite anterior, ao lavar o rosto, não vira sequer anúncio da espinha. E hoje, minutos afio recompondo-se, ainda não percebera nada. E seu rosto sempre limpo, prevenindo acontecimentos dessa espécie. E sua idade madura, superando esses problemas adolescentes. Todas as perguntas tinham resposta. Mas a espinha continuava. Alheia às investigações, atenta apenas a seu próprio amadurecer. Teria crescido durante a noite? Seria apenas uma espinha? Seria um ferimento inflamado? Seria -? Novamente Irene amaldiçoou as espinhas de outrora, nascidas sempre nas costas, e, portanto negando-lhe um eventual preparo para enfrentá-las.
Então, esgotadas as dúvidas, as hipóteses, as perguntas; esgotada sua própria resistência, ela caiu no círculo profundo que desde o início evitara. Dentro de si, olhou para trás e viu às suas costas os dias anteriores acumulados. Uma pilha inútil, discos fora de moda, revistas velhas, badulaques. E viu dias agrupando-se em semanas, em meses, em semestres, em anos, em décadas de cima daquela pirâmide quarenta anos a contemplavam. Tentou ver-lhes as faces, curvou-se um pouco, e mais, e mais ainda. Desnecessário esforço. As massas informes não possuíam feições. Não haviam passado por elas as coisas que geram rugas, vincos, sorrisos, expressões. Cheiros não haviam feito vibrar aquelas narinas. Sabores nos atingiam aqueles paladares, imagens passavam incógnitas pelos olhares fixos, sons desfaziam-se em choque e poeira contra ouvidos pétreos, contatos perdiam o sentido àqueles dedos frios. Quarenta monstrengos formados cada um de infinidades de outros a observavam, inertes. Tentou descobrir um vislumbre de ódio nas expressões. Nem isso. Sem solicitações ou expectativas, eles aguardavam. O que, deus, o quê? Pois se amava. Pois se distribuía seu amor por todas as coisas com que convivia. Pois se sofria. Pois se vezenquando chorava sem saber por quê.
Pois se não via a lua. Pois se tinha pena das crianças pobres na escola. Pois se encarara a espinha. Intensa na própria defesa acumulava atenuantes, justificando-se aflita. Contou desculpas nos dez dedos das mãos abertas em frente ao espelho. Não satisfeita, recorreu aos dos pés. Recorreria a outros, se mais tivesse. As desculpas se acumulavam me entende, eu não quis, eu não quero, eu sofro, eu tenho medo, me dá a tua mão, entende, por favor. Eu tenho medo, merda!
Devagarinho, deixou os ombros caírem. Com a mão, afastou da testa os cabelos molhados. O grito ressoara forte no banheiro, ecoando pelos azulejos para calar o pássaro lá fora. O pássaro que havia pouco fora sua possibilidade de salvação. Recusada. Sacudiu a cabeça, furiosamente afastando pensamentos. Que era uma mulher e amava, que era uma mulher e amava, queeraumamulhereamavaqueeraumamulhereamavaqueeraumamulhereamava foi repetindo e repetindo até libertar-se de tudo. Abriu os olhos, encarou-se. Feminina, amorosa, delicada, levou os dois indicadores até o nariz e suavemente espremeu a intrusa. Depois caminhou até a cozinha e servindo-se de chá na xícara rosada olhou com espanto o relógio. -Como é tarde, meu deus! Preciso me apressar! Apressou-se então, a boca cheia de pão com manteiga, ao mesmo tempo em que se imaginava na roda do cafezinho contando: -Imagina, Clotilde, hoje me aconteceu uma coisa tão engraçada!
Mas tão engraçada, repetiu em voz alta no meio da neblina, argolas douradas nas orelhas, a rua vazia. Saiu correndo para pegar o bonde. Sentada, acariciou medrosa a ponta do nariz.
Não ficara nenhum sinal.
Marcadores: O Inventario do Irremediavel
Para Cecília Nisemblat
Eles tinham seis anos de idade e iam fugir juntos. Lento, o menino enfiou o pião no bolso, sua única posse, e encaminhou-se para a porta. De dentro chegou a voz da mãe num prenúncio de reclamação está quase na hora do jantar, onde é que você vai? Não respondeu. Em silêncio, começou a concretizar o que há dois dias se desenrolava dentro dele. A segurança da coisa construída em imaginação durante horas de quietude emprestava a seus passos um precisão até então inédita, permitindo-lhe a audácia de não responder, ignorando eventuais palmadas. O trinco quase machucou a mão no ato de fechar a porta, mas ele já começava a criar das coisas que formavam "o que ficava". E o que ficava era tanto que praticamente não tinha nada\além de: um pião no bolso e uma idéia na cabeça.
O morrer do sol colocava uma cor também de fuga nas casas, nas coisas, nas pessoas que cruzavam numa melancolia de anoitecer. Em breve as sombras se afirmariam em escuro e ele não estaria mais ali. A idéia poderia quebrá-lo por dentro, porque era duro de repente não estar mais num lugar. Mas ele nem se machucava, há tanto já adivinhara os movimentos interiores prevenindo os receios, precavendo-se contra a série de sentimentaloidices que se amontoariam bruscas sobre seu coração de seis anos de vida. Por tanto, estava preparado. Dentro do tempo que vive era, dois dias era uma longa preparação de esqueci mento que se impusera com método, recusando ternuras, comida na boca, cafuné antes de dormir. Estava todo delineado. E fugia.
Caminhava devagar, a coisa remexendo-se com gosto dentro dele. Num esquecimento de que era insípida, quase estalava a língua de puro prazer. Mãos nos bolsos, cabeça baixa, ah nunca se sentira tão definitivo. Era seu primeiro crime, e tão longamente premeditado que não havia espanto nem temor. Como um profissional da fuga, ia indo pela calçada comprida, rente ao muro. O sol espichava sua sombra para trás, vezenquando ele se voltava para ver se ela ainda o acompanhava. Ainda. Expressava seu alívio em forma de suspiro, e prosseguia. Permitia-se apenas esse medo, o de estar sozinho. Mas aquela sombra imensa e achatada contra o cimento não deixava de ser uma segurança, embora disforme.
Pegou uma pedrinha branca e começou a riscar o calçamento. Depois enfiou-a no bolso, numa sabedoria de coisa decidida: poderiam segui-lo através do risco fino, irregular. Ainda mais seguro, olhou quase vesgo de satisfação para uma senhora com a bolsa grávida de compras. A mulher encarou-o com desconfiança. Ele parou, o medo se transformando em desafio nos olhos que meio furavam a natureza da mulher. Suspensos no meio da tarde, mediam-se expectantes. Pensou em correr, depois riu um risinho cínico que aprendera na televisão -ela não sabia de seu crime. Então esperou. Até que a mulher abriu a bolsa e estendeu-lhe dois biscoitos. Balbuciou um agradecimento de espanto com tanta inocência humana e enfiou-os no bolso, junto com a pedrinha branca. A silhueta da mulher morria na esquina quando ele se interrogou, numa primeira incompreensão. Saíra de casa apenas com o pião, agora já tinha dois biscoitos, uma sombra, uma pedrinha branca e um acontecimento. Fugir não era então ir se despojando de coisas? Não entendeu, mas o poste que marcava longe o lugar do encontro suspendeu a dúvida. Preocupado, encaminhou-se para lá.
Não via a menina. Correu para o poste, investigou as pessoas que passavam mas nenhuma tinha jeito-de-menina-que-ia-fugir. Coçou a cabeça. Num desânimo, esperar. Acomodou a irritação no meio-fio, tirou as posses do bolso. Começava por um biscoito, depois brincava com o pião, depois o outro biscoito, depois desenhava no chão com a pedrinha branca, depois pensava na coisa acontecida. Detestava a improvisação, por isso ficou um pouco abalado com a ausência da menina e teve que planejar ações em que não havia pensado. Começava a desconfiar seriamente da honestidade do sexo oposto. Acumulou um série de queixas que abalaram o prestígio da menina, e preparava-se para pensá-las quando o biscoito sobre a calça fez um jeito fascinante, assim meio pedindo para ser comido. Havia-se recusado tantas coisas nos últimos dois dias que guardava mesmo um pouco de fome formando um espaço branco no estômago. Rompendo com o planejamento, devorou voraz os dois biscoitos, depois misturou pedaços de unhas aos farelos restantes. Quase saciado, girou o pião de leve no cimento. Um menino que passava olhou fixo, invejando. Lembrou da impontualidade da menina e perguntou objetivo:
-Quer fugir comigo?
Inexperiente dessas coisas, o outro arregalou os olhos:
-Quê?
-Quer fugir comigo?
-Pra onde?
-Não sei ainda. Qualquer lugar.
-Pode ser Vênus?
-Pode.
-E Gotham City?
-Pode.
-E. ..e. ..(a geografia falhava).
-Quer ou não quer?
-Não sei, o que é que você me dá se eu fugir com você? .
O menino investigou as posses desfalcadas. Percebeu o brilho de cobiça nos olhos do outro:
-O pião. Quer?
O outro fez cara de dúvida:
-Sei não. Isso presta?
-Quer ou não quer? ("É pegar ou largar", dizia o gangster na televisão).
-Quero.
Estendeu a mão. O menino fez um movimento esquivo de dissimulação.
-Agora não. Só depois que a gente chegar lá.
-Lá onde?
-No lugar, ora.
-Que lugar?
-O lugar para onde agente vai fugir .
-Mas você não disse que não sabe onde é?
-Disse.
-Então pode levar anos.
-E daí?
-Dai que eu quero o pião agora.
Desacostumado a argumentar, estendeu o pião. Antes que pudesse fazer qualquer gesto, o outro já ai longe, risada dobrando a esquina, o pião roubado, a promessa não cumprida. Todo magoado com a desonestidade alheia voltou a pensar na menina. Encaminhou-se para a casa dela. Bateu devagar na porta. A mãe da menina espiou pela janela.
-A Lucinha está?
-Não. Foi no aniversário da menina aqui ao lado.
Meio que tropeçou no inesperado da coisa. Devia ter ficado pálido, porque a mãe-da-menina-que-ia-fugir dobrou-se para ele, perguntando se estava sentindo alguma coisa. Estava. Mas como desconhecia aquela onda verde bem claro que se quebrava incompleta dentro dele, não teve palavras para explicar.
Disse não, não tenho nada, e foi saindo de cabeça baixa. Já não só duvidava da menina, mas principalmente de si próprio. Parecia-lhe um pouco culpa sua aquele amontoado de desencontros. De dez minutos para cá aconteciam coisas tão incompreensíveis que estava quase desistindo. Por uma questão de dignidade, bateu na porta da casa de menina-que-estava-de-aniversário, que apareceu de vestido cor-de-rosa perguntando se ele tinha trazido presente. Ele desentendeu um pouco mais, ainda assim fez voz firme e pediu para falar com a menina-que-ia-fugir. Com o maior cinismo do mundo, ela brotou de repente duma nuvem de babadinhos, a cara limpa, o cabelo penteado com uma fita -ela, a falsa, que vivia com os fios na boca. Mais grave: um copo de guaraná e uma cocada nas mãos. Nunca a vira tão Lucinha em toda a sua vida.
Teve vontade de dar um tiro nela. Mas estava tão desarmado que só conseguiu perguntar com voz meio irregular:
-Você não ia fugir comigo?
-Ia -disse a menina mordendo a cocada. E ai! O espaço branco da fome cintilou dentro dele.
-Esperei você até agora. Por que que você não foi?
-Por causa do aniversário, ué.
-E o que que tem isso?
-Tem que fugir a gente pode todos os dias, mas aniversário é só de vezenquando.
Tinha selecionado uma porção de adjetivo pejorativos para jogar em cima dela, mas o pretexto era de uma lógica tão irrecusável que ele ficou parado uma porção de tempo, sentindo o tudo que preparara lento em dois longos dias de meditação ir-se desfazendo como a cocada na boca da menina.
Ela olhava para ele, ele pensava na frase, pensava, pensava, ai, o espaço branco aumentando por dentro, uma baita raiva da menina, da mulher que dera os biscoitos, do moleque que fugira com o pião, vontade de bater neles todos ou, na impossibilidade, sapatear até ficar roxo e a mãe chamar o médico num susto. Mas os barulhos da festa cresciam lá dentro, o sol morrendo dourava ainda mais o guaraná, o espaço em branco aumentava até o não-suportar-mais. Indeciso ainda, virou o pé leve no chão. Até que deixou de lado o pudor e perguntou:
-Será que ela deixa eu entrar sem presente?
Eles tinham seis anos de idade e iam fugir juntos. Lento, o menino enfiou o pião no bolso, sua única posse, e encaminhou-se para a porta. De dentro chegou a voz da mãe num prenúncio de reclamação está quase na hora do jantar, onde é que você vai? Não respondeu. Em silêncio, começou a concretizar o que há dois dias se desenrolava dentro dele. A segurança da coisa construída em imaginação durante horas de quietude emprestava a seus passos um precisão até então inédita, permitindo-lhe a audácia de não responder, ignorando eventuais palmadas. O trinco quase machucou a mão no ato de fechar a porta, mas ele já começava a criar das coisas que formavam "o que ficava". E o que ficava era tanto que praticamente não tinha nada\além de: um pião no bolso e uma idéia na cabeça.
O morrer do sol colocava uma cor também de fuga nas casas, nas coisas, nas pessoas que cruzavam numa melancolia de anoitecer. Em breve as sombras se afirmariam em escuro e ele não estaria mais ali. A idéia poderia quebrá-lo por dentro, porque era duro de repente não estar mais num lugar. Mas ele nem se machucava, há tanto já adivinhara os movimentos interiores prevenindo os receios, precavendo-se contra a série de sentimentaloidices que se amontoariam bruscas sobre seu coração de seis anos de vida. Por tanto, estava preparado. Dentro do tempo que vive era, dois dias era uma longa preparação de esqueci mento que se impusera com método, recusando ternuras, comida na boca, cafuné antes de dormir. Estava todo delineado. E fugia.
Caminhava devagar, a coisa remexendo-se com gosto dentro dele. Num esquecimento de que era insípida, quase estalava a língua de puro prazer. Mãos nos bolsos, cabeça baixa, ah nunca se sentira tão definitivo. Era seu primeiro crime, e tão longamente premeditado que não havia espanto nem temor. Como um profissional da fuga, ia indo pela calçada comprida, rente ao muro. O sol espichava sua sombra para trás, vezenquando ele se voltava para ver se ela ainda o acompanhava. Ainda. Expressava seu alívio em forma de suspiro, e prosseguia. Permitia-se apenas esse medo, o de estar sozinho. Mas aquela sombra imensa e achatada contra o cimento não deixava de ser uma segurança, embora disforme.
Pegou uma pedrinha branca e começou a riscar o calçamento. Depois enfiou-a no bolso, numa sabedoria de coisa decidida: poderiam segui-lo através do risco fino, irregular. Ainda mais seguro, olhou quase vesgo de satisfação para uma senhora com a bolsa grávida de compras. A mulher encarou-o com desconfiança. Ele parou, o medo se transformando em desafio nos olhos que meio furavam a natureza da mulher. Suspensos no meio da tarde, mediam-se expectantes. Pensou em correr, depois riu um risinho cínico que aprendera na televisão -ela não sabia de seu crime. Então esperou. Até que a mulher abriu a bolsa e estendeu-lhe dois biscoitos. Balbuciou um agradecimento de espanto com tanta inocência humana e enfiou-os no bolso, junto com a pedrinha branca. A silhueta da mulher morria na esquina quando ele se interrogou, numa primeira incompreensão. Saíra de casa apenas com o pião, agora já tinha dois biscoitos, uma sombra, uma pedrinha branca e um acontecimento. Fugir não era então ir se despojando de coisas? Não entendeu, mas o poste que marcava longe o lugar do encontro suspendeu a dúvida. Preocupado, encaminhou-se para lá.
Não via a menina. Correu para o poste, investigou as pessoas que passavam mas nenhuma tinha jeito-de-menina-que-ia-fugir. Coçou a cabeça. Num desânimo, esperar. Acomodou a irritação no meio-fio, tirou as posses do bolso. Começava por um biscoito, depois brincava com o pião, depois o outro biscoito, depois desenhava no chão com a pedrinha branca, depois pensava na coisa acontecida. Detestava a improvisação, por isso ficou um pouco abalado com a ausência da menina e teve que planejar ações em que não havia pensado. Começava a desconfiar seriamente da honestidade do sexo oposto. Acumulou um série de queixas que abalaram o prestígio da menina, e preparava-se para pensá-las quando o biscoito sobre a calça fez um jeito fascinante, assim meio pedindo para ser comido. Havia-se recusado tantas coisas nos últimos dois dias que guardava mesmo um pouco de fome formando um espaço branco no estômago. Rompendo com o planejamento, devorou voraz os dois biscoitos, depois misturou pedaços de unhas aos farelos restantes. Quase saciado, girou o pião de leve no cimento. Um menino que passava olhou fixo, invejando. Lembrou da impontualidade da menina e perguntou objetivo:
-Quer fugir comigo?
Inexperiente dessas coisas, o outro arregalou os olhos:
-Quê?
-Quer fugir comigo?
-Pra onde?
-Não sei ainda. Qualquer lugar.
-Pode ser Vênus?
-Pode.
-E Gotham City?
-Pode.
-E. ..e. ..(a geografia falhava).
-Quer ou não quer?
-Não sei, o que é que você me dá se eu fugir com você? .
O menino investigou as posses desfalcadas. Percebeu o brilho de cobiça nos olhos do outro:
-O pião. Quer?
O outro fez cara de dúvida:
-Sei não. Isso presta?
-Quer ou não quer? ("É pegar ou largar", dizia o gangster na televisão).
-Quero.
Estendeu a mão. O menino fez um movimento esquivo de dissimulação.
-Agora não. Só depois que a gente chegar lá.
-Lá onde?
-No lugar, ora.
-Que lugar?
-O lugar para onde agente vai fugir .
-Mas você não disse que não sabe onde é?
-Disse.
-Então pode levar anos.
-E daí?
-Dai que eu quero o pião agora.
Desacostumado a argumentar, estendeu o pião. Antes que pudesse fazer qualquer gesto, o outro já ai longe, risada dobrando a esquina, o pião roubado, a promessa não cumprida. Todo magoado com a desonestidade alheia voltou a pensar na menina. Encaminhou-se para a casa dela. Bateu devagar na porta. A mãe da menina espiou pela janela.
-A Lucinha está?
-Não. Foi no aniversário da menina aqui ao lado.
Meio que tropeçou no inesperado da coisa. Devia ter ficado pálido, porque a mãe-da-menina-que-ia-fugir dobrou-se para ele, perguntando se estava sentindo alguma coisa. Estava. Mas como desconhecia aquela onda verde bem claro que se quebrava incompleta dentro dele, não teve palavras para explicar.
Disse não, não tenho nada, e foi saindo de cabeça baixa. Já não só duvidava da menina, mas principalmente de si próprio. Parecia-lhe um pouco culpa sua aquele amontoado de desencontros. De dez minutos para cá aconteciam coisas tão incompreensíveis que estava quase desistindo. Por uma questão de dignidade, bateu na porta da casa de menina-que-estava-de-aniversário, que apareceu de vestido cor-de-rosa perguntando se ele tinha trazido presente. Ele desentendeu um pouco mais, ainda assim fez voz firme e pediu para falar com a menina-que-ia-fugir. Com o maior cinismo do mundo, ela brotou de repente duma nuvem de babadinhos, a cara limpa, o cabelo penteado com uma fita -ela, a falsa, que vivia com os fios na boca. Mais grave: um copo de guaraná e uma cocada nas mãos. Nunca a vira tão Lucinha em toda a sua vida.
Teve vontade de dar um tiro nela. Mas estava tão desarmado que só conseguiu perguntar com voz meio irregular:
-Você não ia fugir comigo?
-Ia -disse a menina mordendo a cocada. E ai! O espaço branco da fome cintilou dentro dele.
-Esperei você até agora. Por que que você não foi?
-Por causa do aniversário, ué.
-E o que que tem isso?
-Tem que fugir a gente pode todos os dias, mas aniversário é só de vezenquando.
Tinha selecionado uma porção de adjetivo pejorativos para jogar em cima dela, mas o pretexto era de uma lógica tão irrecusável que ele ficou parado uma porção de tempo, sentindo o tudo que preparara lento em dois longos dias de meditação ir-se desfazendo como a cocada na boca da menina.
Ela olhava para ele, ele pensava na frase, pensava, pensava, ai, o espaço branco aumentando por dentro, uma baita raiva da menina, da mulher que dera os biscoitos, do moleque que fugira com o pião, vontade de bater neles todos ou, na impossibilidade, sapatear até ficar roxo e a mãe chamar o médico num susto. Mas os barulhos da festa cresciam lá dentro, o sol morrendo dourava ainda mais o guaraná, o espaço em branco aumentava até o não-suportar-mais. Indeciso ainda, virou o pé leve no chão. Até que deixou de lado o pudor e perguntou:
-Será que ela deixa eu entrar sem presente?
Marcadores: O Inventario do Irremediavel
Para José Ronaldo Falleiro
Aquela matéria de bondade se reorganizara dentro dele. No espelho encontraria num susto a mesma limpidez de olhar, os mesmos cabelos ao vento, ainda que rigidamente armados em torno da cabeça as mãos leves como se segurassem algo doce e um tanto enjoativo -todo um ser de antigamente, reestruturado, o encararia meigo do fundo do vidro. Apenas nas fotografias antigas lembrava da mesma limpidez,a limpidez não de quem experimentou e venceu, mas a claridade que vinha duma isenção, como se nunca tivesse entrado no mundo. A limpeza de quem nunca tomou banho por nunca ter suado ou apanhado poeira. Seria de novo o-que-dá-conselhos, o-que ampara, o-que-tem-mãos-para-todo-mundo? E seria possível voltar a um estágio anterior, já disperso em inúmeras passagens através de outros e outros estágios? Pois se já experimentara a maldade, a devassidão, a frieza, o cálculo, o vício, o cinismo, a agressão e experimentara não como formas de ser, nem como opções. Experimentá-los tinha sido simplesmente ser o que o caminho exigia que se fosse, não desvios, nem atalhos. Agora já não havia marcas, as marcas onde estavam?
Mesmo imóvel, pressentia a recuperação de um jeito de sorrir que tivera, fechar os olhos, jogar os cabelos para trás, roer unhas, caminhar devagar olhando vitrines sem olhar vitrines: molécula por molécuIa, célula por célula, recuperava integralmente todo um ser antigo. Como se nunca houvesse saído dele. E mais que gesto, mais que movimento ou forma: aquele brilho escorregando dos olhos, aquele calor, não, calor não -tepidez, isso: aquela tepidez que faria com que as pessoas se aconchegassem lentas, tangíveis, ao alcance da mão.
Ele, meu Deus, ele que tinha sido siroco ardente ou minuano gélido, ele brisa, agora. Ou nem brisa: ausência de ventos. Não compreendia. Tocava apele dos braços buscando as asperezas, as brusquidões do rosto, aquele vinco amargo no canto da boca, a pálpebra trêmula, a carne flácida das olheiras, as entradas fundas no cabelo, os dedos grossos, os pêlos dos dedos grossos, as calosidades das palmas das mãos de dedos grossos -onde haviam ficado? Seus dedos lisos deslizavam mansos numa superfície doce, assim mesmo, com todos os adjetivos suaves, Não mais as bruscas paradas, como se tivesse esquinas e becos e encruzilhadas pela face. E o ventre raso. Os pés sem calos. O pescoço sem rugas. As coxas sem flacidez. E tudo, tudo voltava a ser antigo, e no entanto novo, compreende? Experimentou sentir ódio, lembrar pessoa, coisas e fatos desagradáveis, apalpar novamente a tessitura sombria do que vivera, a massa espessa de que era feita a mágoa, e todos os desencontros que tinha encontrado, e todos os desamores desilusões desacatos desnaturezas não, não, já nem ódio queria, que encontrasse ao menos a tênue melancolia, aquele como-estar-debruçado-na-sacada-num-fim-de-tarde, a tristeza, a solidão, a paixão: qualquer coisa intensa como um grito.
Mas seu centro havia-se tornado gentil e um pouco ausente, como ilustração de romance antigo para moças. Nada nele feria. Tinha campinas verdes pelo cérebro e colinas suaves e palmeiras esguias e um céu cor-de-rosa encobrindo um lago azul no quieto coração. Já não era mais uma reorganização, não era sequer um processo: estava consumado e além, muito além de qualquer coisa. Sem asperezas. Envernizado. Puro. Álgido. Inatingível. Definitivo. Sólido na sua meiguice. Havia ultrapassado todos os lítios, todas as procuras, as crenças, perdões e espantos.
Atingira a bondade absoluta. Meu Deus, isso é horrível, é horrível, quis gritar. Já não podia. O padre fechava rapidamente a tampa do caixão. Em breve viriam os vermes.
Aquela matéria de bondade se reorganizara dentro dele. No espelho encontraria num susto a mesma limpidez de olhar, os mesmos cabelos ao vento, ainda que rigidamente armados em torno da cabeça as mãos leves como se segurassem algo doce e um tanto enjoativo -todo um ser de antigamente, reestruturado, o encararia meigo do fundo do vidro. Apenas nas fotografias antigas lembrava da mesma limpidez,a limpidez não de quem experimentou e venceu, mas a claridade que vinha duma isenção, como se nunca tivesse entrado no mundo. A limpeza de quem nunca tomou banho por nunca ter suado ou apanhado poeira. Seria de novo o-que-dá-conselhos, o-que ampara, o-que-tem-mãos-para-todo-mundo? E seria possível voltar a um estágio anterior, já disperso em inúmeras passagens através de outros e outros estágios? Pois se já experimentara a maldade, a devassidão, a frieza, o cálculo, o vício, o cinismo, a agressão e experimentara não como formas de ser, nem como opções. Experimentá-los tinha sido simplesmente ser o que o caminho exigia que se fosse, não desvios, nem atalhos. Agora já não havia marcas, as marcas onde estavam?
Mesmo imóvel, pressentia a recuperação de um jeito de sorrir que tivera, fechar os olhos, jogar os cabelos para trás, roer unhas, caminhar devagar olhando vitrines sem olhar vitrines: molécula por molécuIa, célula por célula, recuperava integralmente todo um ser antigo. Como se nunca houvesse saído dele. E mais que gesto, mais que movimento ou forma: aquele brilho escorregando dos olhos, aquele calor, não, calor não -tepidez, isso: aquela tepidez que faria com que as pessoas se aconchegassem lentas, tangíveis, ao alcance da mão.
Ele, meu Deus, ele que tinha sido siroco ardente ou minuano gélido, ele brisa, agora. Ou nem brisa: ausência de ventos. Não compreendia. Tocava apele dos braços buscando as asperezas, as brusquidões do rosto, aquele vinco amargo no canto da boca, a pálpebra trêmula, a carne flácida das olheiras, as entradas fundas no cabelo, os dedos grossos, os pêlos dos dedos grossos, as calosidades das palmas das mãos de dedos grossos -onde haviam ficado? Seus dedos lisos deslizavam mansos numa superfície doce, assim mesmo, com todos os adjetivos suaves, Não mais as bruscas paradas, como se tivesse esquinas e becos e encruzilhadas pela face. E o ventre raso. Os pés sem calos. O pescoço sem rugas. As coxas sem flacidez. E tudo, tudo voltava a ser antigo, e no entanto novo, compreende? Experimentou sentir ódio, lembrar pessoa, coisas e fatos desagradáveis, apalpar novamente a tessitura sombria do que vivera, a massa espessa de que era feita a mágoa, e todos os desencontros que tinha encontrado, e todos os desamores desilusões desacatos desnaturezas não, não, já nem ódio queria, que encontrasse ao menos a tênue melancolia, aquele como-estar-debruçado-na-sacada-num-fim-de-tarde, a tristeza, a solidão, a paixão: qualquer coisa intensa como um grito.
Mas seu centro havia-se tornado gentil e um pouco ausente, como ilustração de romance antigo para moças. Nada nele feria. Tinha campinas verdes pelo cérebro e colinas suaves e palmeiras esguias e um céu cor-de-rosa encobrindo um lago azul no quieto coração. Já não era mais uma reorganização, não era sequer um processo: estava consumado e além, muito além de qualquer coisa. Sem asperezas. Envernizado. Puro. Álgido. Inatingível. Definitivo. Sólido na sua meiguice. Havia ultrapassado todos os lítios, todas as procuras, as crenças, perdões e espantos.
Atingira a bondade absoluta. Meu Deus, isso é horrível, é horrível, quis gritar. Já não podia. O padre fechava rapidamente a tampa do caixão. Em breve viriam os vermes.
Marcadores: O Inventario do Irremediavel
Tinha secado: esse era talvez o ponto. Não a palavra exata, que já não tinha essas pretensões, mas a mais próxima. Sabia pouco a respeito de árvores, ou sabia de um jeito não-científico, desses de tocar, cheirar e ver, mas imaginava que o processo interno de ressecamento começasse bem antes da morte aparecer no verde brilhante das folhas, na polpa dos frutos ou na casca do tronco. Não era evidente nem externo ou explícito o que padecia. E padecia? perguntava-se detalhando os traços com as pontas dos dedos, nada que revelasse na umidade da boca ou num contorno de nariz — uma dor? Não era assim. Gostaria de voltar atrás, com sentimentos curtos e claros feito frases sem orações intercaladas, iluminar aos poucos, um mineiro, uma lanterna, o poço fundo, uma linguagem? A unha batia contra o dente. Contatos assim: uma coisa definida chocando-se
com outra definida também. E não só contatos, emoções, linguagens. Quase analfabeto de si mesmo, sem vocabulário suficiente para explicar-se sequer a um espelho. Não queria assim, esses turvos. Não queria assim, esses vagos. Sem nenhum humor. Sem nada que pulsasse mais forte que o frio cuidado com que desordenava-se, um gole disciplinado de vodca quando alguma corda do violino rebentava em plena sinfonia e, no meio do palco, impossível deter o acorde. Unicamente imagens assim lhe ocorriam, essa coisa das árvores, das gramáticas, das minas, dos concertos. Elegantemente, sempre. As luvas brancas, as longas pinças esterilizadas com que tocava sem tocar o todo, o tudo e o si. Um vício que lhe vinha quem sabe da mania de ouvir música erudita, mesmo enquanto apenas vivia, antes os fones nos ouvidos que os gritos na vizinhança. E por mais que afetasse um ar de quem lentamente cruza as pernas em público, puxando com cuidado as calças para que não amarrotassem, saberia sempre de sua própria farsa. Tão consciente- mente falsa que sua inverdade era o que de mais real havia, e isso nem sequer era apenas um jogo de palavras.
A grande mentira que ele era, era verdade. Ou: a mentira nele nunca fora fraude, mas essência. Seu segredo mais fundo e mais raso, daí quem sabe a surpresa branca de quando ouvira um quase-amigo dizer que não passava de uma personagem. Prometera-se sentimentos sem intercalados, mas sentia agora uma necessidade de explicar ao ninguém que superlotava sua constante platéia, com ele sempre fora assim: quase-amigos, nada de intimidades. Mas voltando atrás no ir adiante: uma surpresa quê. Não, não uma surpresa quê. Uma não-surpresa surpreendida, pois como e porque se fizera visível e dizível naquele momento o que nem sequer alguma vez escondera? Perdia-se, não eram teias. Nem labirintos. Fazia questão de esclarecer que sua maneira torcida não se tratava de estilo, mas uma profunda dificuldade de expressão. Por esse lado, quem sabe? As emoções e os pensamentos e as sensações e as memórias e tudo isso enfim que se contorce no mais de-dentro de uma pessoa — tinham ângulos? Havia lados mais como direi? Fragmentava-se: era os pedaços descosturados de uma colcha de retalhos. Pedia atenção aqui, por favor, mais por gestos, entonações ou simplesmente clima, e regirava: era os retalhos, um por um, não a colcha, ele. Desde o xadrez vermelho ao cetim roxo sem estampa, e assim por diante, todos. Quase parava de aborrecer-se então, como quem troca súbito uma peça para violino e cravo por um atabaque de candomblé. O leve tédio suspenso como poeira espanada logo voltava a desabar. O bocejo era a compreensão mais amarga que conseguia de si mesmo. E posto isso, cabia a seguir qualquer atitude desesperada como casar, tentar o suicídio, fazer psicoterapia ou um concurso para o Banco do Brasil.
Localizava-se, mais fácil assim, dando nome às coisas. Um entusiasmo tênue como o gosto de uma alface. Isso, estar, ser. Uma vontade de interromper- se aqui, paladar estragado pelo excesso de cigarros tentando inutilmente dar um nome ao gosto que fugia entre os dentes. Em algum quarto, há muito não sabia de línguas no seu corpo, ou tão sabidas tinham se tornado que. Vacilava entre a certeza quase absoluta de estar alcançando qualquer coisa próxima de uma sabedoria inabalável, alta como um minarete, gelada como um iceberg — melhor assim: uma montanha de compreensão sem dor de todas as coisas. Ou, talvez o ponto, nem icebergs, nem minaretes — mas árvore. Inventava com os olhos no ar vazio à sua frente um verde copado de sumarentos frutos, como se diria num outro tempo, se é que alguma vez se disse, dizia sim, dizia agora, desavergonhado e frio. Verde copado de sumarentos frutos. Folhagem de seda lustrosa. Tronco pétreo ancestral. O seco invisível como verme instalado no de-dentro. Impressentível, sob a casca, caminhando lento, questão de tempo, apenas, e semente contendo o galho crispado, mão de bruxa, roendo. Tinha dois olhos duros. Dois olhos grandes de quem vê muito, e não acha nada. Tinha secado, era certamente esse o ponto. Nunca a palavra exata, esclarecera de início. Já não tinha mais essas pretensões.
com outra definida também. E não só contatos, emoções, linguagens. Quase analfabeto de si mesmo, sem vocabulário suficiente para explicar-se sequer a um espelho. Não queria assim, esses turvos. Não queria assim, esses vagos. Sem nenhum humor. Sem nada que pulsasse mais forte que o frio cuidado com que desordenava-se, um gole disciplinado de vodca quando alguma corda do violino rebentava em plena sinfonia e, no meio do palco, impossível deter o acorde. Unicamente imagens assim lhe ocorriam, essa coisa das árvores, das gramáticas, das minas, dos concertos. Elegantemente, sempre. As luvas brancas, as longas pinças esterilizadas com que tocava sem tocar o todo, o tudo e o si. Um vício que lhe vinha quem sabe da mania de ouvir música erudita, mesmo enquanto apenas vivia, antes os fones nos ouvidos que os gritos na vizinhança. E por mais que afetasse um ar de quem lentamente cruza as pernas em público, puxando com cuidado as calças para que não amarrotassem, saberia sempre de sua própria farsa. Tão consciente- mente falsa que sua inverdade era o que de mais real havia, e isso nem sequer era apenas um jogo de palavras.
A grande mentira que ele era, era verdade. Ou: a mentira nele nunca fora fraude, mas essência. Seu segredo mais fundo e mais raso, daí quem sabe a surpresa branca de quando ouvira um quase-amigo dizer que não passava de uma personagem. Prometera-se sentimentos sem intercalados, mas sentia agora uma necessidade de explicar ao ninguém que superlotava sua constante platéia, com ele sempre fora assim: quase-amigos, nada de intimidades. Mas voltando atrás no ir adiante: uma surpresa quê. Não, não uma surpresa quê. Uma não-surpresa surpreendida, pois como e porque se fizera visível e dizível naquele momento o que nem sequer alguma vez escondera? Perdia-se, não eram teias. Nem labirintos. Fazia questão de esclarecer que sua maneira torcida não se tratava de estilo, mas uma profunda dificuldade de expressão. Por esse lado, quem sabe? As emoções e os pensamentos e as sensações e as memórias e tudo isso enfim que se contorce no mais de-dentro de uma pessoa — tinham ângulos? Havia lados mais como direi? Fragmentava-se: era os pedaços descosturados de uma colcha de retalhos. Pedia atenção aqui, por favor, mais por gestos, entonações ou simplesmente clima, e regirava: era os retalhos, um por um, não a colcha, ele. Desde o xadrez vermelho ao cetim roxo sem estampa, e assim por diante, todos. Quase parava de aborrecer-se então, como quem troca súbito uma peça para violino e cravo por um atabaque de candomblé. O leve tédio suspenso como poeira espanada logo voltava a desabar. O bocejo era a compreensão mais amarga que conseguia de si mesmo. E posto isso, cabia a seguir qualquer atitude desesperada como casar, tentar o suicídio, fazer psicoterapia ou um concurso para o Banco do Brasil.
Localizava-se, mais fácil assim, dando nome às coisas. Um entusiasmo tênue como o gosto de uma alface. Isso, estar, ser. Uma vontade de interromper- se aqui, paladar estragado pelo excesso de cigarros tentando inutilmente dar um nome ao gosto que fugia entre os dentes. Em algum quarto, há muito não sabia de línguas no seu corpo, ou tão sabidas tinham se tornado que. Vacilava entre a certeza quase absoluta de estar alcançando qualquer coisa próxima de uma sabedoria inabalável, alta como um minarete, gelada como um iceberg — melhor assim: uma montanha de compreensão sem dor de todas as coisas. Ou, talvez o ponto, nem icebergs, nem minaretes — mas árvore. Inventava com os olhos no ar vazio à sua frente um verde copado de sumarentos frutos, como se diria num outro tempo, se é que alguma vez se disse, dizia sim, dizia agora, desavergonhado e frio. Verde copado de sumarentos frutos. Folhagem de seda lustrosa. Tronco pétreo ancestral. O seco invisível como verme instalado no de-dentro. Impressentível, sob a casca, caminhando lento, questão de tempo, apenas, e semente contendo o galho crispado, mão de bruxa, roendo. Tinha dois olhos duros. Dois olhos grandes de quem vê muito, e não acha nada. Tinha secado, era certamente esse o ponto. Nunca a palavra exata, esclarecera de início. Já não tinha mais essas pretensões.
Marcadores: Dispersos
Ficou meio irritada quando bateram à porta e olhou com desânimo para o monte de papéis e livros esparramados sobre a mesa. Eu tinha pedido que ninguém incomodasse, pensou. Olhou pela janela, indecisa. Mas quando bateram pela segunda vez ela suspirou fundo e disse numa voz seca:
— Entre.
À primeira vista quase não o reconheceu. Tinha deixado a barba crescer e usava uns enormes óculos escuros. As roupas também eram diferentes. Coloridas, estrangeiras. E o cabelo mais comprido. Hesitou entre beijá-lo, estender a mão ou apenas sorrir. Afinal, havia tanto tempo. Como ele não fazia nenhum movimento, limitou-se a sorrir e a permanecer onde estava, atrás da grande mesa cheia de papéis e livros em desordem.
Então é você mesmo — disse. — Welcome, não é assim que se diz? — Indicou a poltrona em frente à mesa. — Deve ter coisas sensacionais para contar. — Esperou que ele sentasse, acomodando lentamente as longas pernas. — Um cafezinho, quer um cafezinho autenticamente brasileiro? — Riu alto, fingindo ironia. — Garanto que por lá não tinha essas coisas. — Apertou o botão do telefone interno. — Ana, por favor, traga dois cafés. — Voltou-se para ele. — Ou você prefere chá? Ouvi dizer que os ingleses tomam chá o tempo todo. Você deve estar acostumado...
— Café — ele disse. — Sem açúcar.
— Ana, dois cafés. Um sem açúcar.
Soltou o botão e ficou olhando para ele. Mas ele não dizia nada. Remexeu alguns papéis sem muita vontade. O silêncio estava ficando incômodo. Tornou a olhar pela janela. Vai chover, pensou sem emoção, vendo o céu escurecer lá fora. Ele tinha acendido um cigarro e fumava devagar, as pernas cruzadas. O silêncio pesou um pouco mais. Se alguém não disser qualquer coisa agora, ela pensou, vai ficar tudo muito difícil. E abriu a boca para falar. Mas nesse momento a porta abriu-se para a moça com os dois cafés, um sem açúcar.
— Obrigada, Ana.
Esperou que ela saísse. Depois mexeu o líquido escuro com a colherinha de prata. Algumas gotas pingaram no pires.
— Então — disse —, tenho tanta coisa para perguntar que nem sei por onde começo. Fale- me de lá...
Ele não disse nada. Estava começando a ficar nervosa.
— Paris, por exemplo, fale-me de Paris.
— Paris não é uma festa — ele disse baixo e sem nenhuma entonação.
— É mesmo? — ela conteve a surpresa. — E que mais? Conte...
Ele terminou o café, estendeu a xícara até a mesa e cruzou as mãos.
— Mais? Bem, tem a torre Eiffel...
Ela sorriu, afetando interesse.
— Sim?
— ... tem Montmartre, tem o Quartier Latin, tem o boulevard Saint-Michel, tem o Café de Flore, tem árabes, tem...
— Isso eu sei — ela interrompeu delicadamente. E, quase sem sentir: — E Londres?
— Londres tem Piccadilly Circus, tem Trafalgar Square, tem o Tâmisa, tem Portobello Road, tem...
— A Torre de Londres, o Big Ben, o Central Park — ela completou brusca.
— Não — ele explicou devagar. — O Central Park é em Nova York. Em Londres é o Hyde Park. Tem bombas, também. O tempo todo. Ah, e árabes.
— Pois é — ela amassou uma folha de papel. Depois desamassou-a, preocupada. Seria algo importante? Não era. Acendeu um cigarro. — E Veneza tem canais, Roma tem a via Veneto, Florença tem...
— Eu não fui à Itália — ele interrompeu.
— Ah, você não foi à Itália. — Ela bateu o cigarro nervosamente, três vezes. — Mas à Holanda você foi, não? Lembro que mandou um cartão de lá. E o que tem lá? Tulipas, tamancos e moinhos?
— Tulipas, tamancos e moinhos — ele confirmou. — E árabes também. — (Mas afinal o que está havendo?) — E putas na vitrine.
—O quê?
— É. Em Amsterdã. Elas ficam numa espécie de vitrine, as putas.
— Interessante.
— Interessantíssimo.
Ela ficou um pouco perturbada, levantou- se de repente e foi até ajanela. As nuvens estavam mais escuras. Vai mesmo chover. Olhou-o por cima do ombro. Afinal, esse cara fica dois anos fora e volta dizendo essas coisas. Pra saber disso posso ler qualquer guia turístico.
— O quê?
— Disse que pra saber disso posso ler qualquer guia turístico.
— É verdade. Você pode.
Odiava aquelas nuvens escurecendo aos poucos. Na rua as pessoas apressavam o passo, algumas olhavam para cima, outras faziam sinais para os táxis. Voltou-se para ele, que examinava os papéis e livros em cima da mesa.
— Eu tenho muito trabalho — ela disse. E arrependeu-se logo. Ele podia pensar que ela estava insinuando que estava muito ocupada, que não tinha tempo para ele, que...
— Eu já vou indo — ele disse, erguendo-se da poltrona.
— Espere — a voz dela saiu um pouco trêmula —, eu não quis dizer...
— Claro que você não quis dizer. — Ele tornou a sentar.
Ela voltou à mesa. Ficou de pé ao lado dele. Mas era como se não o conhecesse mais. Acendeu outro cigarro.
— Está quase na hora de sair. Se você esperar mais um pouco, posso te dar uma carona.
— Você tem carro agora?
— É. Eu tenho carro agora... — E se você fizer qualquer comentário irônico, pensou, se você ousar fazer qualquer...
— Você subiu na vida — ele disse.
Ela concordou em silêncio. Cruzou os braços. Começava a sentir frio. Ou era aquele ar carregado de eletricidade? Pensou em vestir o casaco no encosto da cadeira. Mas não se moveu. O silêncio tinha crescido de novo entre as paredes. Podiam ouvir o barulho das máquinas de escrever na sala ao lado. E alguém perguntando as horas numa voz estridente. E um telefone tocando.
— Escute — ela disse de repente. — Nós temos muito interesse em publicar o seu livro.
Ele não se moveu.
— É um livro.., muito forte. — Acendeu outro cigarro. — Mas a nossa programação para este ano já está completa — acrescentou rapidamente. — Além disso, há a crise do papel, você sabe, tudo subiu muito, as vendas caíram, tivemos também um corte de verba, eles estão mais interessados em publicar livros didáticos ou então autores que já tenham um público certo ou...
Teve a impressão de que ele não estava ouvindo. Descruzou os braços, endireitou o corpo. O frio tinha passado. Perguntou: — Você deve ter trazido muito material novo, não?
— Não — ele disse. E olhou em volta como se tivesse acabado de chegar. — É legal aqui. Dá pra ver o rio, as ilhas. Você deve gostar de ficar aqui.
— É, eu gosto, mas...
Ele tinha levantado e dava alguns passos pela sala, detendo-se para olhar os quadros e os livros.
— Daqui a pouco vai começar a chover — ela observou.
Ele olhou pela janela sem interesse.
— Quer mais um café?
Ele não respondeu.
— Se você quiser eu posso chamar a Ana, está pronto, na garrafa térmica, é só chamar, eu... — Acendeu outro cigarro.
— Você está fumando demais — ele disse.
— E muito café estraga os nervos.
— Você acha? É que às vezes fico meio louca com esse monte de trabalho e não tenho bem certeza se...
Pensou em queixar-se um pouco. Mas ele parecia não ouvi-la. Continuava a andar de um lado para outro entre os livros, os quadros, as poltronas. Às vezes estendia a mão mas, como se mudasse de idéia no meio do gesto, continuava a andar sem tocar em nada. Dava-lhe a impressão de que ele estava andando havia horas. Sentiu uma pontada na cabeça. Deve ser o cigarro. Ou o café. E tornou a olhar pelajanela. As nuvens tinham escurecido completamente. Agora, ela pensou apertando as mãos, agora vem uma ventania, um trovão, um raio, depois começa a chover. Fechou os olhos para depois abri-los lentamente. Mas não tinha acontecido nada. E ele continuava a andar de um lado para outro.
— Você está muito nervoso — ela disse sem pensar.
Ele parou em frente à janela e tirou os óculos. Os olhos, ela viu, os olhos tinham mudado. Estavam parados, com uma coisa no fundo que parecia paz. Ou desencanto.
— Eu estou muito calmo — ele disse.
Mas não eram só os olhos e o rosto sem barba, não eram só aquelas roupas bizarras, estrangeiras, nem as duas pulseiras e o anel de pedra roxa, não era só o cabelo mais comprido...
— Você mudou — ela disse.
— Tudo mudou.
Ele tornou a colocar os óculos. Ela pensou em pedir-lhe para fechar ajanela. Mas não disse nada. Amassou de novo aquele papel, não tinha importância, não tinha mesmo importância alguma. Os pingos grossos molhavam os livros e os papéis em desordem. Por trás dele tinha começado a chover.
— Entre.
À primeira vista quase não o reconheceu. Tinha deixado a barba crescer e usava uns enormes óculos escuros. As roupas também eram diferentes. Coloridas, estrangeiras. E o cabelo mais comprido. Hesitou entre beijá-lo, estender a mão ou apenas sorrir. Afinal, havia tanto tempo. Como ele não fazia nenhum movimento, limitou-se a sorrir e a permanecer onde estava, atrás da grande mesa cheia de papéis e livros em desordem.
Então é você mesmo — disse. — Welcome, não é assim que se diz? — Indicou a poltrona em frente à mesa. — Deve ter coisas sensacionais para contar. — Esperou que ele sentasse, acomodando lentamente as longas pernas. — Um cafezinho, quer um cafezinho autenticamente brasileiro? — Riu alto, fingindo ironia. — Garanto que por lá não tinha essas coisas. — Apertou o botão do telefone interno. — Ana, por favor, traga dois cafés. — Voltou-se para ele. — Ou você prefere chá? Ouvi dizer que os ingleses tomam chá o tempo todo. Você deve estar acostumado...
— Café — ele disse. — Sem açúcar.
— Ana, dois cafés. Um sem açúcar.
Soltou o botão e ficou olhando para ele. Mas ele não dizia nada. Remexeu alguns papéis sem muita vontade. O silêncio estava ficando incômodo. Tornou a olhar pela janela. Vai chover, pensou sem emoção, vendo o céu escurecer lá fora. Ele tinha acendido um cigarro e fumava devagar, as pernas cruzadas. O silêncio pesou um pouco mais. Se alguém não disser qualquer coisa agora, ela pensou, vai ficar tudo muito difícil. E abriu a boca para falar. Mas nesse momento a porta abriu-se para a moça com os dois cafés, um sem açúcar.
— Obrigada, Ana.
Esperou que ela saísse. Depois mexeu o líquido escuro com a colherinha de prata. Algumas gotas pingaram no pires.
— Então — disse —, tenho tanta coisa para perguntar que nem sei por onde começo. Fale- me de lá...
Ele não disse nada. Estava começando a ficar nervosa.
— Paris, por exemplo, fale-me de Paris.
— Paris não é uma festa — ele disse baixo e sem nenhuma entonação.
— É mesmo? — ela conteve a surpresa. — E que mais? Conte...
Ele terminou o café, estendeu a xícara até a mesa e cruzou as mãos.
— Mais? Bem, tem a torre Eiffel...
Ela sorriu, afetando interesse.
— Sim?
— ... tem Montmartre, tem o Quartier Latin, tem o boulevard Saint-Michel, tem o Café de Flore, tem árabes, tem...
— Isso eu sei — ela interrompeu delicadamente. E, quase sem sentir: — E Londres?
— Londres tem Piccadilly Circus, tem Trafalgar Square, tem o Tâmisa, tem Portobello Road, tem...
— A Torre de Londres, o Big Ben, o Central Park — ela completou brusca.
— Não — ele explicou devagar. — O Central Park é em Nova York. Em Londres é o Hyde Park. Tem bombas, também. O tempo todo. Ah, e árabes.
— Pois é — ela amassou uma folha de papel. Depois desamassou-a, preocupada. Seria algo importante? Não era. Acendeu um cigarro. — E Veneza tem canais, Roma tem a via Veneto, Florença tem...
— Eu não fui à Itália — ele interrompeu.
— Ah, você não foi à Itália. — Ela bateu o cigarro nervosamente, três vezes. — Mas à Holanda você foi, não? Lembro que mandou um cartão de lá. E o que tem lá? Tulipas, tamancos e moinhos?
— Tulipas, tamancos e moinhos — ele confirmou. — E árabes também. — (Mas afinal o que está havendo?) — E putas na vitrine.
—O quê?
— É. Em Amsterdã. Elas ficam numa espécie de vitrine, as putas.
— Interessante.
— Interessantíssimo.
Ela ficou um pouco perturbada, levantou- se de repente e foi até ajanela. As nuvens estavam mais escuras. Vai mesmo chover. Olhou-o por cima do ombro. Afinal, esse cara fica dois anos fora e volta dizendo essas coisas. Pra saber disso posso ler qualquer guia turístico.
— O quê?
— Disse que pra saber disso posso ler qualquer guia turístico.
— É verdade. Você pode.
Odiava aquelas nuvens escurecendo aos poucos. Na rua as pessoas apressavam o passo, algumas olhavam para cima, outras faziam sinais para os táxis. Voltou-se para ele, que examinava os papéis e livros em cima da mesa.
— Eu tenho muito trabalho — ela disse. E arrependeu-se logo. Ele podia pensar que ela estava insinuando que estava muito ocupada, que não tinha tempo para ele, que...
— Eu já vou indo — ele disse, erguendo-se da poltrona.
— Espere — a voz dela saiu um pouco trêmula —, eu não quis dizer...
— Claro que você não quis dizer. — Ele tornou a sentar.
Ela voltou à mesa. Ficou de pé ao lado dele. Mas era como se não o conhecesse mais. Acendeu outro cigarro.
— Está quase na hora de sair. Se você esperar mais um pouco, posso te dar uma carona.
— Você tem carro agora?
— É. Eu tenho carro agora... — E se você fizer qualquer comentário irônico, pensou, se você ousar fazer qualquer...
— Você subiu na vida — ele disse.
Ela concordou em silêncio. Cruzou os braços. Começava a sentir frio. Ou era aquele ar carregado de eletricidade? Pensou em vestir o casaco no encosto da cadeira. Mas não se moveu. O silêncio tinha crescido de novo entre as paredes. Podiam ouvir o barulho das máquinas de escrever na sala ao lado. E alguém perguntando as horas numa voz estridente. E um telefone tocando.
— Escute — ela disse de repente. — Nós temos muito interesse em publicar o seu livro.
Ele não se moveu.
— É um livro.., muito forte. — Acendeu outro cigarro. — Mas a nossa programação para este ano já está completa — acrescentou rapidamente. — Além disso, há a crise do papel, você sabe, tudo subiu muito, as vendas caíram, tivemos também um corte de verba, eles estão mais interessados em publicar livros didáticos ou então autores que já tenham um público certo ou...
Teve a impressão de que ele não estava ouvindo. Descruzou os braços, endireitou o corpo. O frio tinha passado. Perguntou: — Você deve ter trazido muito material novo, não?
— Não — ele disse. E olhou em volta como se tivesse acabado de chegar. — É legal aqui. Dá pra ver o rio, as ilhas. Você deve gostar de ficar aqui.
— É, eu gosto, mas...
Ele tinha levantado e dava alguns passos pela sala, detendo-se para olhar os quadros e os livros.
— Daqui a pouco vai começar a chover — ela observou.
Ele olhou pela janela sem interesse.
— Quer mais um café?
Ele não respondeu.
— Se você quiser eu posso chamar a Ana, está pronto, na garrafa térmica, é só chamar, eu... — Acendeu outro cigarro.
— Você está fumando demais — ele disse.
— E muito café estraga os nervos.
— Você acha? É que às vezes fico meio louca com esse monte de trabalho e não tenho bem certeza se...
Pensou em queixar-se um pouco. Mas ele parecia não ouvi-la. Continuava a andar de um lado para outro entre os livros, os quadros, as poltronas. Às vezes estendia a mão mas, como se mudasse de idéia no meio do gesto, continuava a andar sem tocar em nada. Dava-lhe a impressão de que ele estava andando havia horas. Sentiu uma pontada na cabeça. Deve ser o cigarro. Ou o café. E tornou a olhar pelajanela. As nuvens tinham escurecido completamente. Agora, ela pensou apertando as mãos, agora vem uma ventania, um trovão, um raio, depois começa a chover. Fechou os olhos para depois abri-los lentamente. Mas não tinha acontecido nada. E ele continuava a andar de um lado para outro.
— Você está muito nervoso — ela disse sem pensar.
Ele parou em frente à janela e tirou os óculos. Os olhos, ela viu, os olhos tinham mudado. Estavam parados, com uma coisa no fundo que parecia paz. Ou desencanto.
— Eu estou muito calmo — ele disse.
Mas não eram só os olhos e o rosto sem barba, não eram só aquelas roupas bizarras, estrangeiras, nem as duas pulseiras e o anel de pedra roxa, não era só o cabelo mais comprido...
— Você mudou — ela disse.
— Tudo mudou.
Ele tornou a colocar os óculos. Ela pensou em pedir-lhe para fechar ajanela. Mas não disse nada. Amassou de novo aquele papel, não tinha importância, não tinha mesmo importância alguma. Os pingos grossos molhavam os livros e os papéis em desordem. Por trás dele tinha começado a chover.
Marcadores: Pedras de Calcuta
De jeans e camiseta, cabelo preso, aos gritos de "pega, mata e come!", Bethânia já foi musa da esquerda, tempos do show Opinião. Graças ao acaso – se acaso existe e não, destino - que trouxe a menina Berré de Santo Amaro da Purificação, Bahia, para os palcos do centro do país. Peruca canecalon, coberta de colares e pulseiras, gestos largos, recitando Fernando Pessoa e Clarice Lispector – Bethânia foi musa. A voz muito grave, sussurrando versos sensuais, embalou os amores dos casais pelos motéis, rivalizando na vendas de discos com o rei Roberto Carlos. Prendeu, soltou os cabelos, calçou, tirou os sapatos, largou as gravadoras comerciais, no auge do sucesso, trajetória inversa, tornou-se independente: conquistou o direito de gravar o que gosta, num repertório coerente e fiel à musica brasileira.
Foram muitas Bethânias nesses mais de 20 anos. Ou era um só? O escritor Júlio Cortázar, fã confesso (não fosse um iniciado em magia), afirmava que Bethânia e Caetano são uma única pessoa: yin/yang, homem/mulher, Oxóssi/Iansã. Foi muito in, ficou inteiramente out – até ultrapassar as divisões maniqueístas dos manipuladores da opinião pública para ocupar esse lugar muito especial só reservados ao mitos. Bethânia, deusa guerreira, de espada em punho e voz rouca, inconfundível, procurando sempre versos que falem às emoções dos apaixonados. Gosta-se dela como se cai em estado de paixão: além de qualquer razão.
E bela. Bela de um jeito que não é comum ser bela, cantora como não é comum ser cantora – nesse desregramento de padrões estéticos, Bethânia funde a aspereza de onde começa o Nordeste com o requinte dos blues de uma Billie Holiday. Cantora diurna das terras crestadas pelo sol, mas também noturna, dos lençóis de cetim úmidos de suor e amor, transita numa carreira de impecável coerência com sua própria criatura: dividida em mel e espada. Padroeira dos apaixonados, também divididos entre o mel e a espada cortante da vingança. Dessa extensa legião, Maria Bethânia é a voz mais fiel.
Elis Regina por Caio Fernando Abreu
Para sempre a estrela Elis...
1962, palco do Cine Castelo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Final do programa de auditório Maurício Sobrinho, da Rádio Gaúcha. As luzes se acendem sobre a grande atração daquela manhã: a estrelinha Elis Regina. Baixinha, meio desajeitada, ela vacila num repertório de versões um pouco na linha de Celi Campelo, com algumas tímidas incursões pela música brasileira. Mas a voz-clara, forte, afinadíssima empolga a platéia. Todos comentam:'Essa menina precisa sair daqui'.
E ela saiu. Meio no braço, como era seu jeito. Saiu para gravar um primeiro disco, VIVA A BROTOLÂNDIA, ainda com resquícios do modelo 'jovem' americanizado. Saiu para passar trabalho no Beco das Garrafas, para agitar os braços ao som de Arrastão, nos festivais da vida, para comandar O Fino Da Bossa, para brigar com todo mundo, ficar mal-falada e bem-amada, para casar, descasar, ter filhos, abrir a boca e falar sem medo, assumir seus falsos brilhantes e aperfeiçoar ainda mais aquela voz-clara, forte, afinadíssima. Como se fosse um instrumento musical, não apenas uma garganta humana deitando e rolando debochada em qua-qua-ra-qua-quás ou gemendo baixinho, atrás da porta. No riso na dor, furacão Elis levantou vôo daquele cineminha de bairro e foi sobrevoar o país com os braços girando sem parar. "Elis-cóptero", como a chamava Rita Lee.
E vinte anos depois daquela manhã de domingo, com as ruas de São Paulo apinhadas do povo que acompanhou seu enterro cantando os versos de O BêBado e a Equilibrista, nesta outra manhã recente em que Elis partia - alguns no meio daquela multidão espantada e comovida comentavam, como naquela manhã antiga, que essa menina - ah, essa mulher - precisava sair daqui. Deste planeta que , tão freqüentemente, parece não comportar a sensibilidade. Mas a multidão inteira que cantava e chorava, nesta outra manhã, sabia inteira que Elis Regina, tinha virado para sempre uma estrela, como ela queria. Não uma estrela qualquer, mas a mais luminosa de toda a música popular brasileira. E nas manhãs, nas tardes e nas noites dos muitos anos seguintes, quando sua voz brotasse do regente dos rádios ou dos velhos discos, esses todos saberiam que Elis vive. Para sempre.
Foram muitas Bethânias nesses mais de 20 anos. Ou era um só? O escritor Júlio Cortázar, fã confesso (não fosse um iniciado em magia), afirmava que Bethânia e Caetano são uma única pessoa: yin/yang, homem/mulher, Oxóssi/Iansã. Foi muito in, ficou inteiramente out – até ultrapassar as divisões maniqueístas dos manipuladores da opinião pública para ocupar esse lugar muito especial só reservados ao mitos. Bethânia, deusa guerreira, de espada em punho e voz rouca, inconfundível, procurando sempre versos que falem às emoções dos apaixonados. Gosta-se dela como se cai em estado de paixão: além de qualquer razão.
E bela. Bela de um jeito que não é comum ser bela, cantora como não é comum ser cantora – nesse desregramento de padrões estéticos, Bethânia funde a aspereza de onde começa o Nordeste com o requinte dos blues de uma Billie Holiday. Cantora diurna das terras crestadas pelo sol, mas também noturna, dos lençóis de cetim úmidos de suor e amor, transita numa carreira de impecável coerência com sua própria criatura: dividida em mel e espada. Padroeira dos apaixonados, também divididos entre o mel e a espada cortante da vingança. Dessa extensa legião, Maria Bethânia é a voz mais fiel.
Elis Regina por Caio Fernando Abreu
Para sempre a estrela Elis...
1962, palco do Cine Castelo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Final do programa de auditório Maurício Sobrinho, da Rádio Gaúcha. As luzes se acendem sobre a grande atração daquela manhã: a estrelinha Elis Regina. Baixinha, meio desajeitada, ela vacila num repertório de versões um pouco na linha de Celi Campelo, com algumas tímidas incursões pela música brasileira. Mas a voz-clara, forte, afinadíssima empolga a platéia. Todos comentam:'Essa menina precisa sair daqui'.
E ela saiu. Meio no braço, como era seu jeito. Saiu para gravar um primeiro disco, VIVA A BROTOLÂNDIA, ainda com resquícios do modelo 'jovem' americanizado. Saiu para passar trabalho no Beco das Garrafas, para agitar os braços ao som de Arrastão, nos festivais da vida, para comandar O Fino Da Bossa, para brigar com todo mundo, ficar mal-falada e bem-amada, para casar, descasar, ter filhos, abrir a boca e falar sem medo, assumir seus falsos brilhantes e aperfeiçoar ainda mais aquela voz-clara, forte, afinadíssima. Como se fosse um instrumento musical, não apenas uma garganta humana deitando e rolando debochada em qua-qua-ra-qua-quás ou gemendo baixinho, atrás da porta. No riso na dor, furacão Elis levantou vôo daquele cineminha de bairro e foi sobrevoar o país com os braços girando sem parar. "Elis-cóptero", como a chamava Rita Lee.
E vinte anos depois daquela manhã de domingo, com as ruas de São Paulo apinhadas do povo que acompanhou seu enterro cantando os versos de O BêBado e a Equilibrista, nesta outra manhã recente em que Elis partia - alguns no meio daquela multidão espantada e comovida comentavam, como naquela manhã antiga, que essa menina - ah, essa mulher - precisava sair daqui. Deste planeta que , tão freqüentemente, parece não comportar a sensibilidade. Mas a multidão inteira que cantava e chorava, nesta outra manhã, sabia inteira que Elis Regina, tinha virado para sempre uma estrela, como ela queria. Não uma estrela qualquer, mas a mais luminosa de toda a música popular brasileira. E nas manhãs, nas tardes e nas noites dos muitos anos seguintes, quando sua voz brotasse do regente dos rádios ou dos velhos discos, esses todos saberiam que Elis vive. Para sempre.
Marcadores: Dispersos
Para Maria da Graça Magliani
Era uma menina. Embora não quisesse, quase desvairada na negação indireta, recusando atitudes e palavras que, justamente por afastadas, sublinhavam a sua condição. Aos olhos dos parentes, alheios a seu profundo -mais profundo ainda talvez porque inconsciente, resultante quem sabe de alguma remota frustração, como ia dizendo, seu profundo ressentimento tomava forma como em todas as meninas: algo meio vago, quase informe, acentuaclo vezenquando por lacinhos e babadinhos, como se as frescuras no vestir pudessem compensar o que lhe faltava: a forma. Ah como recusavam a sua densidade, como supunham ultrapassá-la quando, na verdade, sequer chegavam à sua periferia. Principalmente: como erravam ao tentar acertar, suas;atitudes de curva até o centrozinho dela (que eles ignoravam todo áspero e espinhento) fazendo-se queda lenta, desequilibrada, mesmo grotesca -irremediável queda. Ela era, pois, o ser mais só daquela casa. Isso equivale a dizer que era também o mais só do mundo, já que seu ambiente limitava-se àqueles dois pais e àqueles quatro irmãos equilibrados precários em pares de longuíssimas pernas, que serviam para lançar no rosto da menina a sua pequenez. Ah como eles eram herméticos. Mesmo amigos com quem trocasse desditas, amigos miúdo-gigantescos como ela, não os tinha. Vivia num apartamento desses enganchados em edifícios cinzentos, tão vazio de cores quanto de crianças. Além disso, ainda não havia apreendido o grande desencontro das palavras -portanto não poderia comunicar-se de maneira adulta, posto que a maneira-adulta-de-comunicar-se trata-se de um constante dizer o que não se quer, pedir o que se tem e dar o que não se possui. Também nos gestos, ela ainda não conseguira precisar-se, adquirindo aquela dureza que não assusta aos outros. Toda inexperiente de membros, ela enrolava-se em braços e pernas, enredada em movimentos que absolutamente descontrolava. Subjetiva e objetivamente, a menina era tremendamente solitária.
Foi quando apareceu o gato. A natureza dos gatos é parecida com a das meninas: também eles possuem aquela ferocidade mansa, toda contida e dissimulada ao pedir leite roçando as costa contra as pernas das pessoas. A menina só era amorosa quando faminta, fazendo-se lânguida, quase erótica. Saciada, tanto se lhe dava estar com aquela família alta e magra ou outra, baixa e gorda. Como ponto de contato, havia ainda aquela lucidez desesperada, portal de loucura, nas noites de lua cheia. Ela chorava, ele miava. Incompreensão da própria angústia, uniam-se no ultrapassar de seus limites, iam além, muito além, completamente sós dentro do apartamento - quem sabe do universo -, ela gritava, luzes acendiam, gestos precisos acariciavam lugares imprecisos; ele miava carente de carícias, de tentativas de compreensão, incompreendido, incompreensível. O berro uníssono fazia as paredes incharem, prenhes.
Os olhos castanhos dela encontraram os olhos verdes dele numa manhã de chuva. Todo sujo de lama, ele fora encolher-se exatamente em frente à porta onde havia uma espera em branco. Comunicaram-se. Ela não tinha palavras. Ele tinha unhas afiadas. Ela tinha dentes nascendo, sua arma em gestação contra o mundo. Ah como se amaram violentos e ternos em unhadas de paixão, dentadas de lascívia, mão sobre o pêlo amarelo, cabeças unidas -ele estacionado em evolução no ponto onde ela estava, mas ultrapassaria. Desde o início, ela fora em potencial maior do que ele. Tinha perspectivas, ao passo que ele estava para sempre confinado às quatro patas, ao rabo, às duas orelhas, aos seis ou oito fios de bigode.
Mas inconscientes desse desencontro, doavam-se inteiros, ignorados, ignorantes -brutais e absolutos em sua posse calada. Até que chegou a gata. Os pais tiveram o raciocínio lógico de que um gato, mais que qualquer coisa no mundo, precisa de uma gata. E a trouxeram. Ela insinuou-se fêmea, gata de loja de animais, guizos, laçarotes, miando esquiva roçava o corpo contra as paredes, delicadíssima no arquear do dorso, formando uma curva tão sutilmente prometedora que a menina se espantava toda de tanto cinismo caramelado. E começou a disputa. Desde o início, a menina estava derrotada -ah como os parentes não a compreendiam. Ela -indefinida, meio tosca -insabia que para conquistar era necessário ser dissimulada como a gata. Ela era completamente objetiva nos seus desejos: se queria agarrar o gato, não se perdia em tramas e atitudes –ia lá e agarrava a meta. Que se esquivava, agora, mais propenso às ternuras menos ostensivas da gata.
Findo o período de namoro, o cio chegou e a gata e o gato possuíam-se despudorados pelos cantos, a menina incompreendendo que ela mesma não era uma gata, e que só poderia, assim mesmo futuramente, e talvez, possuir naturezas como a sua. O problema é que ela nunca tinha visto um menino. Sua única oportunidade de amar fora o gato. Que se tornara absoluto como jamais pirulito ou boneca haviam sido.
Mais só ainda -ela chegou então à atitude extrema. Talvez por influência da gata, aprendeu a dissimular, e aproximou-se toda meiga do gato que tomava leite. Foi tudo premeditado, ou tão espontâneo que a preparação estava implícita. E apertou. De uma só vez. Mais com a força que teria, propriamente, do que com a que dispunha no momento. Ele não miou nem estrebuchou.
Apenas morreu. Sem adjetivos.
Ela ficou olhando o corpo mole, desafiando-se com a gata que farejava o companheiro. Havia uma réstia de sol sobre o tapete. A menina encaminhou-se para lá e começou a brincar com uns cubos coloridos. Não descobriram o autor do crime. Ela não chorou. No mesmo dia, disse a primeira palavra: ato. Depois começou a crescer crescer crescer. Até que casou, teve três filhos, comprou um automóvel, um apartamento de cobertura no Guarujá e uma casa em Poços de Caldas.
Era uma menina. Embora não quisesse, quase desvairada na negação indireta, recusando atitudes e palavras que, justamente por afastadas, sublinhavam a sua condição. Aos olhos dos parentes, alheios a seu profundo -mais profundo ainda talvez porque inconsciente, resultante quem sabe de alguma remota frustração, como ia dizendo, seu profundo ressentimento tomava forma como em todas as meninas: algo meio vago, quase informe, acentuaclo vezenquando por lacinhos e babadinhos, como se as frescuras no vestir pudessem compensar o que lhe faltava: a forma. Ah como recusavam a sua densidade, como supunham ultrapassá-la quando, na verdade, sequer chegavam à sua periferia. Principalmente: como erravam ao tentar acertar, suas;atitudes de curva até o centrozinho dela (que eles ignoravam todo áspero e espinhento) fazendo-se queda lenta, desequilibrada, mesmo grotesca -irremediável queda. Ela era, pois, o ser mais só daquela casa. Isso equivale a dizer que era também o mais só do mundo, já que seu ambiente limitava-se àqueles dois pais e àqueles quatro irmãos equilibrados precários em pares de longuíssimas pernas, que serviam para lançar no rosto da menina a sua pequenez. Ah como eles eram herméticos. Mesmo amigos com quem trocasse desditas, amigos miúdo-gigantescos como ela, não os tinha. Vivia num apartamento desses enganchados em edifícios cinzentos, tão vazio de cores quanto de crianças. Além disso, ainda não havia apreendido o grande desencontro das palavras -portanto não poderia comunicar-se de maneira adulta, posto que a maneira-adulta-de-comunicar-se trata-se de um constante dizer o que não se quer, pedir o que se tem e dar o que não se possui. Também nos gestos, ela ainda não conseguira precisar-se, adquirindo aquela dureza que não assusta aos outros. Toda inexperiente de membros, ela enrolava-se em braços e pernas, enredada em movimentos que absolutamente descontrolava. Subjetiva e objetivamente, a menina era tremendamente solitária.
Foi quando apareceu o gato. A natureza dos gatos é parecida com a das meninas: também eles possuem aquela ferocidade mansa, toda contida e dissimulada ao pedir leite roçando as costa contra as pernas das pessoas. A menina só era amorosa quando faminta, fazendo-se lânguida, quase erótica. Saciada, tanto se lhe dava estar com aquela família alta e magra ou outra, baixa e gorda. Como ponto de contato, havia ainda aquela lucidez desesperada, portal de loucura, nas noites de lua cheia. Ela chorava, ele miava. Incompreensão da própria angústia, uniam-se no ultrapassar de seus limites, iam além, muito além, completamente sós dentro do apartamento - quem sabe do universo -, ela gritava, luzes acendiam, gestos precisos acariciavam lugares imprecisos; ele miava carente de carícias, de tentativas de compreensão, incompreendido, incompreensível. O berro uníssono fazia as paredes incharem, prenhes.
Os olhos castanhos dela encontraram os olhos verdes dele numa manhã de chuva. Todo sujo de lama, ele fora encolher-se exatamente em frente à porta onde havia uma espera em branco. Comunicaram-se. Ela não tinha palavras. Ele tinha unhas afiadas. Ela tinha dentes nascendo, sua arma em gestação contra o mundo. Ah como se amaram violentos e ternos em unhadas de paixão, dentadas de lascívia, mão sobre o pêlo amarelo, cabeças unidas -ele estacionado em evolução no ponto onde ela estava, mas ultrapassaria. Desde o início, ela fora em potencial maior do que ele. Tinha perspectivas, ao passo que ele estava para sempre confinado às quatro patas, ao rabo, às duas orelhas, aos seis ou oito fios de bigode.
Mas inconscientes desse desencontro, doavam-se inteiros, ignorados, ignorantes -brutais e absolutos em sua posse calada. Até que chegou a gata. Os pais tiveram o raciocínio lógico de que um gato, mais que qualquer coisa no mundo, precisa de uma gata. E a trouxeram. Ela insinuou-se fêmea, gata de loja de animais, guizos, laçarotes, miando esquiva roçava o corpo contra as paredes, delicadíssima no arquear do dorso, formando uma curva tão sutilmente prometedora que a menina se espantava toda de tanto cinismo caramelado. E começou a disputa. Desde o início, a menina estava derrotada -ah como os parentes não a compreendiam. Ela -indefinida, meio tosca -insabia que para conquistar era necessário ser dissimulada como a gata. Ela era completamente objetiva nos seus desejos: se queria agarrar o gato, não se perdia em tramas e atitudes –ia lá e agarrava a meta. Que se esquivava, agora, mais propenso às ternuras menos ostensivas da gata.
Findo o período de namoro, o cio chegou e a gata e o gato possuíam-se despudorados pelos cantos, a menina incompreendendo que ela mesma não era uma gata, e que só poderia, assim mesmo futuramente, e talvez, possuir naturezas como a sua. O problema é que ela nunca tinha visto um menino. Sua única oportunidade de amar fora o gato. Que se tornara absoluto como jamais pirulito ou boneca haviam sido.
Mais só ainda -ela chegou então à atitude extrema. Talvez por influência da gata, aprendeu a dissimular, e aproximou-se toda meiga do gato que tomava leite. Foi tudo premeditado, ou tão espontâneo que a preparação estava implícita. E apertou. De uma só vez. Mais com a força que teria, propriamente, do que com a que dispunha no momento. Ele não miou nem estrebuchou.
Apenas morreu. Sem adjetivos.
Ela ficou olhando o corpo mole, desafiando-se com a gata que farejava o companheiro. Havia uma réstia de sol sobre o tapete. A menina encaminhou-se para lá e começou a brincar com uns cubos coloridos. Não descobriram o autor do crime. Ela não chorou. No mesmo dia, disse a primeira palavra: ato. Depois começou a crescer crescer crescer. Até que casou, teve três filhos, comprou um automóvel, um apartamento de cobertura no Guarujá e uma casa em Poços de Caldas.
(In: O inventário do Irremediável)
Marcadores: O Inventario do Irremediavel
Inesperada, encarou-o pedindo. Dentro do ônibus que corria para um destino com a segurança dos que sabem para onde vão, ela de repente se assumiu em fêmea e simplesmente pediu. Seu primeiro movimento veio marcado de espanto, pois que pedia pura, motivada apenas pelo desejo de receber. Depois adentrou em si, recusando, negando a solicitação no Ônibus superlotado de fim de tarde -e, no entanto ainda pedia, mas dissimulada, tomando-se pouco apouco cínica na maneira esquiva de olhar.
Espiou pela janela, curvando-se um pouco, quase a tocá-lo. A natureza de fora do ônibus escorria cinzenta, meio amorfa, desfeita em tons que não chegavam a se afirmar em cores. Dentro, escorria também, sem conseguir a nitidez de qualquer palavra. Subira no ônibus tão despreparada, disse baixinho, procurando encontrar a exclamação que não existia. E súbito, o homem estava ali. De óculos, entradas fundas no cabelo, olhando perdido pela janela. Era bonito? Sacudiu a cabeça em negativa de indecisão, como explicar, como formular que ele apenas era, sem adjetivos, era, estava sendo, embora sem saber, sem esforço algum -era. E ela pedia. Quebrava-se toda por dentro num movimento entre pudor e medo, voltando a cabeça para espiá-lo a seu lado, as mãos postas em repouso sobre as calças beges claro. Ah como doía solicitar tanto e ir-se tornando cada vez mais lúcida dessa solicitação.
Tentou voltar ao primeiro susto, mas percebeu que este jamais se bastaria em si. Era o desassustado começo do medo e o resto se faria caminhada lenta de olhar para trás, para os lados, a ver se não estava sendo vigiada. Impossível, pois, voltar ao impacto primeiro, que era um nada de exigência não-doída porque desconhecia a si mesma. A compreensão que atingindo, doía. Nesse doer, ela começava a soer, imprecisa e vaga. Suspirou ajeitando os cabelos que prendera na nuca, preguiçosa de pentear-se porque não previra o encontro.
Impassível, o homem ao lado. E já não mais era capaz de defini-lo: ele se transformara no que ela sentia. Ia além dessa compreensão, percebendo sábia que o seu sentir era tão dentro -e vago como as coisas interiores -que ela não poderia jamais o saber o em lucidez completa. Conseguia adivinhar o externo, nas o interno se perdia indefinido em sombras. O ônibus escorria no asfalto, o tempo escorria no relógio. Tudo ia em frente, ela se comprimindo cada vez com mais ardor. Ultrapassara o susto mas, temerosa te sofrer por amor, caíra na paixão. Absurda e mexicana e encerrada em si e independente do que a despertara: paixão. Pelo homem que era o objeto mais à não, com a mesma intensidade com que amaria o único coqueiro da ilha onde estivesse náufraga.
De repente, se alguém a olhasse, ela perturbaria com sua turgidez ampla de fêmea em ritual de amor. Os olhos se haviam agradado, a boca fremia num aparente mistério, porque jamais alguém conseguiria compreendê-la ou aceita-la em sua quase obscenidade. Ela avançara rápido demais, e agora já não cabia dentro de si. Perdera-se completamente, os lábios mordidos e o frio do suor nas palmas das mãos a complicavam ainda mais. Irritava-se com as pequenas coisas que tentavam afastá-la de sua danação –a peruca loira da mulher em frente, os solavancos do ônibus, o vento que entrava pela janela aberta. Então quase odiava o que não contribuía para o amor desesperado gritando dentro dela.
Foi aí que o ônibus parou e ela desceu. Não sabia se antes ou depois ou no lugar exato onde devia. Não sabia ainda se fugira ou se aceitara. Um carro passou, molhando-a da água da chuva que caíra à tarde. Era noite. Assoou o nariz. Esbarravam nela, o choque fazendo-a enrijecer-se numa tentativa de decifração. O ônibus ia longe, dobrando a esquina, a silhueta do homem confundida com as outras, não conseguia mais ligar os pensamentos, recordar em que caíra, e como caíra, e porque caíra. Enveredou lenta pela galeria, alcançou a escada rolante. Foi no meio da subida, o espelho refletindo seu rosto, que ela descobriu um ponto branco latejando vivo num lugar desconhecido. Preciso cortar os cabelos, pensou sem compreender. Ou sem querer compreender. Ou sem querer, apenas.
Espiou pela janela, curvando-se um pouco, quase a tocá-lo. A natureza de fora do ônibus escorria cinzenta, meio amorfa, desfeita em tons que não chegavam a se afirmar em cores. Dentro, escorria também, sem conseguir a nitidez de qualquer palavra. Subira no ônibus tão despreparada, disse baixinho, procurando encontrar a exclamação que não existia. E súbito, o homem estava ali. De óculos, entradas fundas no cabelo, olhando perdido pela janela. Era bonito? Sacudiu a cabeça em negativa de indecisão, como explicar, como formular que ele apenas era, sem adjetivos, era, estava sendo, embora sem saber, sem esforço algum -era. E ela pedia. Quebrava-se toda por dentro num movimento entre pudor e medo, voltando a cabeça para espiá-lo a seu lado, as mãos postas em repouso sobre as calças beges claro. Ah como doía solicitar tanto e ir-se tornando cada vez mais lúcida dessa solicitação.
Tentou voltar ao primeiro susto, mas percebeu que este jamais se bastaria em si. Era o desassustado começo do medo e o resto se faria caminhada lenta de olhar para trás, para os lados, a ver se não estava sendo vigiada. Impossível, pois, voltar ao impacto primeiro, que era um nada de exigência não-doída porque desconhecia a si mesma. A compreensão que atingindo, doía. Nesse doer, ela começava a soer, imprecisa e vaga. Suspirou ajeitando os cabelos que prendera na nuca, preguiçosa de pentear-se porque não previra o encontro.
Impassível, o homem ao lado. E já não mais era capaz de defini-lo: ele se transformara no que ela sentia. Ia além dessa compreensão, percebendo sábia que o seu sentir era tão dentro -e vago como as coisas interiores -que ela não poderia jamais o saber o em lucidez completa. Conseguia adivinhar o externo, nas o interno se perdia indefinido em sombras. O ônibus escorria no asfalto, o tempo escorria no relógio. Tudo ia em frente, ela se comprimindo cada vez com mais ardor. Ultrapassara o susto mas, temerosa te sofrer por amor, caíra na paixão. Absurda e mexicana e encerrada em si e independente do que a despertara: paixão. Pelo homem que era o objeto mais à não, com a mesma intensidade com que amaria o único coqueiro da ilha onde estivesse náufraga.
De repente, se alguém a olhasse, ela perturbaria com sua turgidez ampla de fêmea em ritual de amor. Os olhos se haviam agradado, a boca fremia num aparente mistério, porque jamais alguém conseguiria compreendê-la ou aceita-la em sua quase obscenidade. Ela avançara rápido demais, e agora já não cabia dentro de si. Perdera-se completamente, os lábios mordidos e o frio do suor nas palmas das mãos a complicavam ainda mais. Irritava-se com as pequenas coisas que tentavam afastá-la de sua danação –a peruca loira da mulher em frente, os solavancos do ônibus, o vento que entrava pela janela aberta. Então quase odiava o que não contribuía para o amor desesperado gritando dentro dela.
Foi aí que o ônibus parou e ela desceu. Não sabia se antes ou depois ou no lugar exato onde devia. Não sabia ainda se fugira ou se aceitara. Um carro passou, molhando-a da água da chuva que caíra à tarde. Era noite. Assoou o nariz. Esbarravam nela, o choque fazendo-a enrijecer-se numa tentativa de decifração. O ônibus ia longe, dobrando a esquina, a silhueta do homem confundida com as outras, não conseguia mais ligar os pensamentos, recordar em que caíra, e como caíra, e porque caíra. Enveredou lenta pela galeria, alcançou a escada rolante. Foi no meio da subida, o espelho refletindo seu rosto, que ela descobriu um ponto branco latejando vivo num lugar desconhecido. Preciso cortar os cabelos, pensou sem compreender. Ou sem querer compreender. Ou sem querer, apenas.
Marcadores: O Inventario do Irremediavel