Este é literalmente um sonho que tive. Não conseguia tirá-lo da cabeça, então contei para meu psicanalista que disse: “Escreva” Escrevi, absolutamente fiel ao sonho, o que não o tornou menos misterioso. Até hoje me causa certo mal-estar. O original é de 1986.
Eram dois, depois três, depois um, depois nenhum. Mas isso eu só saberia um pouco mais tarde. Pouco depois de captar o brilho das facas na noite escura. E pouco antes ainda, feito estrelas cadentes, apenas o brilho do aço rasgando a noite, sem saber que eram facas. Antes do frio, antes do corte. Vejo tudo tão de longe agora, como de cima, como do alto, que não conseguiria mais dizer ao certo o que veio antes ou depois, e sei que deve ser inteiramente inútil esta preocupação.
Mas é assim que eu sou. Ou era assim que eu era, antes do aço, enquanto dobrava a esquina daquele beco para encontrar os dois homens metidos na luta de facas dentro da noite morna. Eu vinha descalço, já não lembro de onde, os dois homens tinham os peitos nus cobertos de suor. Eu podia sentir o cheiro de suor deles como um vapor no meio da noite espessa, adocicado pela mistura dos cheiros nas latas de lixo pelo beco com as damas-da-noite atrás de algum muro próximo, como um vapor espesso dentro da noite morna que eu furava com meu corpo vindo nem sabia mais de onde, navio na névoa. De cima, de longe, do alto: tudo nublado.
Mas naquele segundo em que dobrei a esquina do beco, tonto pelos cheiros e ofuscado pelo brilho, mesmo antes de compreender o que via, devo ter gritado para que parassem. Embora não os conhecesse, e sabia disso sem precisar ver suas caras cheias de ódio brilhando tanto quanto as facas no escuro. E embora não os conhecesse mesmo, eram ao mesmo tempo familiares e obscuros como passageiros de um ônibus superlotado nos quais você não chegou a prestar atenção, embora tenha convivido horas com eles, aqueles dois homens de peitos nus cheirando a suor e lixo e flor naquela luta de facas dentro da noite. De dentro, de perto — ali, tudo nítido. Sem saber nada de mim nem deles, sabia claro feito o clarão das facas que não queria que se matassem. Porque de alguma forma informe, sem saber nada de mim nem de onde vinha, sabia fundo que a noite morna de espessos vapores anunciava o final de um outro tempo gelado. E aquele sim, teria sido de morte e ódio — não este, navio na névoa, que informe- mente se desenhava, tentando definir-se através do cheiro misturado das flores com o suor e o lixo para chegar ao novo porto. Ou seria o contrário, e eu mal adivinhava? Nem poderia, por enquanto ali dentro e assim tão perto daquela luta de facas e de noite.
Decidido então, cheguei mais perto. À beira do sangue, os dois homens dançavam. E não interromperam sua dança quando, para adiar o sangue e impedir a morte, fui entrando devagar no meio deles em busca do mesmo ritmo. Sobre nossas cabeças o aço das facas erguidas refletia a luz do néon das ruas além do beco. Éramos três homens agora, dois armados de peito nu e esse outro que era ainda eu desarmado, descalço entre eles. Movíamos pernas e braços numa capoeira tão veloz que antes de encontrar o ritmo da dança e antes que o cheiro de meu próprio suor se misturasse ao deles, antes ainda deste estar longe e acima de tudo, bem no centro do ódio dos homens e dos vapores da noite uma das facas cintilou então mais forte e feriu fundo a planta nua de meu pé direito estendido no ar à procura de uma dança improvável. Não houve dor, eu não gritei na hora do aço.
Enquanto caía percebi o cheiro novo que era do meu próprio sangue misturando-se ao suor deles e aos restos de comida, preservativos usados, roupas velhas, abortos e papéis podres das latas de lixo, mais o das damas-da-noite derramadas sobre algum muro remoto, doce demais, enjoativo demais. Sem náusea nem dor, pois não doía, não doía absolutamente nada, fui caindo furando navio na névoa os vapores da noite morna que agora começava a esfriar dentro e fora de meu quarto, de meu corpo, de meu beco. Vermelho lindo aquele sangue escorrendo grosso do talho aberto em meu pé, mas quem sabe agora então conseguiria decifrar as faces deles, dos dois homens que jogavam longe as facas de néon e estrelas para se curvarem sobre o corpo do que ainda era eu. Seus rostos ficaram muito próximos, mas meus olhos começavam a escurecer. Na neblina tinta de meu sangue sobre os olhos meus também, tossi e cuspi e consegui dizer aos arquejos, mas sem dor nenhuma, que havia sangue solto louco dentro de mim. Depois, sem pedir nada e sem nenhuma revolta, sem nada parecido a um espinho dentro de mim, no meio do sangue aquilo que ainda era eu mesmo sem saber de onde vinha nem para onde ia, disse que estava morrendo. De dentro, de perto, do fundo. Um dos homens falou que ia pedir ajuda. Eu tentei detê-lo dizendo que era inútil, tarde demais ou coisa assim, mas ele se afastou correndo e eu pedi ao outro, cujo rosto não via, que por favor segurasse a minha mão até eu morrer. Meu sangue era vermelho e limpo sobre o chão sujo do beco, saindo de mim aos jorros, aos borbotões, às golfadas como em torneira aberta que você tapa com a mão, depois destapa de repente, assim era meu sangue jorrando. E na mão morna como a noite do homem que ficou ao meu lado, os dedos deles cruzaram-se aos meus num gesto que parecia amor antigo. Não, não: em nenhum momento, nenhuma dor. Eu ia embora de mim como quem dorme, quando os músculos todos se soltam e os pensamentos se esgarçam esfiapados para mergulharem em outro espaço, outro tempo desconhecido — seria esse quem sabe o tempo novo anunciado claro no ar, que eu tinha lido antes? Não sabia, eu não sabia nunca. Apenas segurava a mão do homem que ficara comigo sem sentir mais nenhum cheiro nem ver mais coisa alguma, cada vez mais longe. Eu ia embora de mim: isso era tudo. Eu ia embora de mim sem saber de onde vinha nem para onde iria, navio em outra névoa de vapor espesso cada vez mais próximos, a névoa e o navio. Sabia só que enquanto partia assim, indo para sempre embora de mim e de tudo, a única coisa que queria sentir — que podia sentir, e que sentia enfim, agora que já não havia cheiros nem formas nem gostos nem ruídos — era o contato mcomo da mão daquele homem que ficara comigo enquanto eu partia e tornava a partir sem volta e para sempre de mim. Foi se apagando, certa luz.
Até que meus dedos finalmente mortos e rígidos se desprendessem dos dedos vivos dele, e sem a mão e mais ninguém dentro da minha eu fosse chegando aos poucos mais perto, quase dentro deste outro lado, deste outro espaço, deste outro tempo onde estou agora. E não me reconheço, sem facas nem becos. Já não éramos três, nem dois, homens nem corpos. Eu era um só, depois eu era um eu sem eu.
Eu era nenhum: navio no ar, depois do aço.
Eram dois, depois três, depois um, depois nenhum. Mas isso eu só saberia um pouco mais tarde. Pouco depois de captar o brilho das facas na noite escura. E pouco antes ainda, feito estrelas cadentes, apenas o brilho do aço rasgando a noite, sem saber que eram facas. Antes do frio, antes do corte. Vejo tudo tão de longe agora, como de cima, como do alto, que não conseguiria mais dizer ao certo o que veio antes ou depois, e sei que deve ser inteiramente inútil esta preocupação.
Mas é assim que eu sou. Ou era assim que eu era, antes do aço, enquanto dobrava a esquina daquele beco para encontrar os dois homens metidos na luta de facas dentro da noite morna. Eu vinha descalço, já não lembro de onde, os dois homens tinham os peitos nus cobertos de suor. Eu podia sentir o cheiro de suor deles como um vapor no meio da noite espessa, adocicado pela mistura dos cheiros nas latas de lixo pelo beco com as damas-da-noite atrás de algum muro próximo, como um vapor espesso dentro da noite morna que eu furava com meu corpo vindo nem sabia mais de onde, navio na névoa. De cima, de longe, do alto: tudo nublado.
Mas naquele segundo em que dobrei a esquina do beco, tonto pelos cheiros e ofuscado pelo brilho, mesmo antes de compreender o que via, devo ter gritado para que parassem. Embora não os conhecesse, e sabia disso sem precisar ver suas caras cheias de ódio brilhando tanto quanto as facas no escuro. E embora não os conhecesse mesmo, eram ao mesmo tempo familiares e obscuros como passageiros de um ônibus superlotado nos quais você não chegou a prestar atenção, embora tenha convivido horas com eles, aqueles dois homens de peitos nus cheirando a suor e lixo e flor naquela luta de facas dentro da noite. De dentro, de perto — ali, tudo nítido. Sem saber nada de mim nem deles, sabia claro feito o clarão das facas que não queria que se matassem. Porque de alguma forma informe, sem saber nada de mim nem de onde vinha, sabia fundo que a noite morna de espessos vapores anunciava o final de um outro tempo gelado. E aquele sim, teria sido de morte e ódio — não este, navio na névoa, que informe- mente se desenhava, tentando definir-se através do cheiro misturado das flores com o suor e o lixo para chegar ao novo porto. Ou seria o contrário, e eu mal adivinhava? Nem poderia, por enquanto ali dentro e assim tão perto daquela luta de facas e de noite.
Decidido então, cheguei mais perto. À beira do sangue, os dois homens dançavam. E não interromperam sua dança quando, para adiar o sangue e impedir a morte, fui entrando devagar no meio deles em busca do mesmo ritmo. Sobre nossas cabeças o aço das facas erguidas refletia a luz do néon das ruas além do beco. Éramos três homens agora, dois armados de peito nu e esse outro que era ainda eu desarmado, descalço entre eles. Movíamos pernas e braços numa capoeira tão veloz que antes de encontrar o ritmo da dança e antes que o cheiro de meu próprio suor se misturasse ao deles, antes ainda deste estar longe e acima de tudo, bem no centro do ódio dos homens e dos vapores da noite uma das facas cintilou então mais forte e feriu fundo a planta nua de meu pé direito estendido no ar à procura de uma dança improvável. Não houve dor, eu não gritei na hora do aço.
Enquanto caía percebi o cheiro novo que era do meu próprio sangue misturando-se ao suor deles e aos restos de comida, preservativos usados, roupas velhas, abortos e papéis podres das latas de lixo, mais o das damas-da-noite derramadas sobre algum muro remoto, doce demais, enjoativo demais. Sem náusea nem dor, pois não doía, não doía absolutamente nada, fui caindo furando navio na névoa os vapores da noite morna que agora começava a esfriar dentro e fora de meu quarto, de meu corpo, de meu beco. Vermelho lindo aquele sangue escorrendo grosso do talho aberto em meu pé, mas quem sabe agora então conseguiria decifrar as faces deles, dos dois homens que jogavam longe as facas de néon e estrelas para se curvarem sobre o corpo do que ainda era eu. Seus rostos ficaram muito próximos, mas meus olhos começavam a escurecer. Na neblina tinta de meu sangue sobre os olhos meus também, tossi e cuspi e consegui dizer aos arquejos, mas sem dor nenhuma, que havia sangue solto louco dentro de mim. Depois, sem pedir nada e sem nenhuma revolta, sem nada parecido a um espinho dentro de mim, no meio do sangue aquilo que ainda era eu mesmo sem saber de onde vinha nem para onde ia, disse que estava morrendo. De dentro, de perto, do fundo. Um dos homens falou que ia pedir ajuda. Eu tentei detê-lo dizendo que era inútil, tarde demais ou coisa assim, mas ele se afastou correndo e eu pedi ao outro, cujo rosto não via, que por favor segurasse a minha mão até eu morrer. Meu sangue era vermelho e limpo sobre o chão sujo do beco, saindo de mim aos jorros, aos borbotões, às golfadas como em torneira aberta que você tapa com a mão, depois destapa de repente, assim era meu sangue jorrando. E na mão morna como a noite do homem que ficou ao meu lado, os dedos deles cruzaram-se aos meus num gesto que parecia amor antigo. Não, não: em nenhum momento, nenhuma dor. Eu ia embora de mim como quem dorme, quando os músculos todos se soltam e os pensamentos se esgarçam esfiapados para mergulharem em outro espaço, outro tempo desconhecido — seria esse quem sabe o tempo novo anunciado claro no ar, que eu tinha lido antes? Não sabia, eu não sabia nunca. Apenas segurava a mão do homem que ficara comigo sem sentir mais nenhum cheiro nem ver mais coisa alguma, cada vez mais longe. Eu ia embora de mim: isso era tudo. Eu ia embora de mim sem saber de onde vinha nem para onde iria, navio em outra névoa de vapor espesso cada vez mais próximos, a névoa e o navio. Sabia só que enquanto partia assim, indo para sempre embora de mim e de tudo, a única coisa que queria sentir — que podia sentir, e que sentia enfim, agora que já não havia cheiros nem formas nem gostos nem ruídos — era o contato mcomo da mão daquele homem que ficara comigo enquanto eu partia e tornava a partir sem volta e para sempre de mim. Foi se apagando, certa luz.
Até que meus dedos finalmente mortos e rígidos se desprendessem dos dedos vivos dele, e sem a mão e mais ninguém dentro da minha eu fosse chegando aos poucos mais perto, quase dentro deste outro lado, deste outro espaço, deste outro tempo onde estou agora. E não me reconheço, sem facas nem becos. Já não éramos três, nem dois, homens nem corpos. Eu era um só, depois eu era um eu sem eu.
Eu era nenhum: navio no ar, depois do aço.
Marcadores: Ovelhas Negras




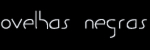

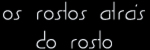


0 Responses to “A hora do aço”
Postar um comentário