Lá fora alguém caminha no escuro. Posso ouvir nitidamente seus passos esmagando devagar o cascalho fino do jardim. Como se tomasse cuidado para não me acordar. Como se eu dormisse. Às vezes se detém, ejulgo ouvir sua respiração espessa de animal atravessando as vidraças abaixadas para chocar-se contra as paredes, e depois tombar sobre mim sufocando minha própria respiração. É então que sinto medo. Deixo de sentir o contato gorduroso dos lençóis contra minha pele, e fico todo concentrado nessa coisa: o medo. Não dele, nem de seus passos, nem de que possa de repente espatifar as vidraças para entrar no quarto — também não tenho medo de sua possível violência, de suas prováveis garras. O que me assusta é justamente essa respiração de animal. Essa coisa grossa, azeda, estranhamente flácida e morna, da mesma consistência dos lençóis sujos.
Para evitar esse medo que sufoca o cheiro dos lençóis e de meu próprio corpo, penso no jardim. E quando, por segundos, o cascalho pára de estalar sob seus pés, penso que é porque se aproximou do canteiro de margaridas. E recomponho na memória essas margaridas amontoadas no canteiro de tijolos, com seus talos verdes e rígidos, suas longas pétalas brancas e o miolo amarelo, granuloso, sem nenhum cheiro. Quando o medo é maior, penso nas hortênsias. Eram azuis, as hortênsias. Ficavam distantes da janela, próximas do poço e da parreira, quase no quintal. Eram azuis e sólidas, as hortênsias. Também não tinham cheiro, como as margaridas, nem gosto. Uma vez experimentei mastigar algumas pétalas, e tive a sensação exata de ter entre os dentes algo tão fino e frágil como uma asa de borboleta. Eram azuis e sólidas, e às vezes eu cobria os cabelos com elas, prendendo-as atrás das orelhas para depois olhar-me no espelho grande do corredor e achar-me parecido com uma daquelas gravuras japonesas do livro de História de minha mãe — as gueixas, as hortênsias. Essas eram elas.
Quando o medo é quase absurdo, e principalmente quando o cheiro daquela respiração ameaça tornar-se insuportável, recorro aos jasmins. Só então recorro aos jasmins. Deixo-os por último, quando estou à beira de dar um grito ou fazer algum movimento brusco para libertar-me — mesmo sabendo que estou demasiado enfraquecido para dar gritos ou fazer gestos bruscos. Talvez a impossibilidade de fazer essas coisas é que me obrigue a recorrer aos jasmins. Porque eu sempre soube que eles eram o último recurso, última porta, última chave. Eles, os jasmins: última varanda antes da fronteira que me separa do que não conheço. Vejo-os crescer nas sombras para se abrirem em corolas fartas e pálidas: eu me debruço na janela, eu sou muito jovem, eu acredito, eu sou quase um menino que se debruça na janela e olha para esses jasmins pálidos e frios e entontece aos poucos com o perfume doce e olha para a lua, porque havia uma lua quase sempre cheia naquele tempo, e pergunta em espanto o que vai ser dele, que durezas ou doçuras lhe trará essa coisa que ainda não tocou com suas próprias mãos e que chamam de vida, eles, os outros, os que dormem além da porta sem saberem desse menino e desse espanto e dessa lua e sobretudo desses jasmins gelados no jardim. Esse quase menino que sou eu, esse menino suspeita e sente que quase pode viajar na esteira do perfume dos jasmins que voa por cima do muro de tijolos, ultrapassa a sarjeta para misturar-se à terra vermelha da rua e perder-se nas unhas-de-gato do terreno ao lado e no valo da calçada oposta e na casa branca de madeira sobre a elevação de terra — esse menino não chora e não diz nada. Tem olhos enormes para o que ainda não chegou e talvez não chegue nunca.
Tudo isso é doloroso para mim, porque sei que o jardim não é esse, sei mesmo que talvez nem exista um jardim, sei que os jasmins se perderam, e recorro à casa, e penetro cada um de seus aposentos, e desvendo a casa, e recorro à rua, ao arco branco no fim da rua, e à cidade de ruazinhas estreitas e tortas e vizinhos na janela e estradas de terra batida e poeirenta. Mas sei: sempre sei que tudo isso não está mais do lado de fora: sei que já não bastaria abrir a janela: sei que não bastaria a janela. Como se minhas unhas crescessem e eu as cravasse no meu próprio peito. Digo para mim mesmo que não é preciso assassinar o que já está morto, mas enquanto dura a respiração dele, preciso continuar enterrando as unhas devagar na carne, afastando músculos e veias e ossos, como se escavasse a terra em busca de uma semente. Preciso revirar o punhal com dedos seguros, até conseguir extrair algumas gotas de sangue da carne morta. Não consigo. Sei que não consigo no momento em que a respiração cessa e os passos voltam a esmagar o cascalho.
De vez em quando um movimento mais brusco faz com que brote um ruído de folhagens esmagadas. Imagino-o pisando nas margaridas, rasgando as hortênsias, esmagando os jasmins entre os dentes escuros, nas mãos de dedos curtos e juntas grossas, sob as patas de cascos partidos, o corpo áspero de pêlos espojando-se sobre os verdes que minha mãe esquecia de regar e que cresciam apenas por teimosia. A teimosia e a chuva enredando seus membros sobre o muro, sob a terra. Sei que o sangue já não corre: sei que nenhuma semente veio à tona: sei que de nada adianta espreitar dia após dia o seu crescimento, porque não crescerão: sei que é inútil afastar as pedras e os parasitas, tentando distinguir uma pequenina folha verde. Sei que as chuvas não caem mais como antigamente. Então me encolho entre os lençóis e fico ouvindo o cascalho rangendo sob seus pés.
Quando o ruído cessa e penso que ele se afastou por alguns momentos, fixo os olhos no teto ou na parede e tento distinguir apenas cores e formas. Mas não sei mais se o que vejo é o que vejo ou apenas o que penso ver. Dizem que quando se fica muito tempo sem comer acontecem alucinações, da mesma forma como quando se toma drogas. Não sei se são alucinações causadas pela fome, e já não tomo nenhuma droga desde que resolvi deixar que tudo secasse para que viesse à tona apenas o que quisesse vir, sem que eu o chamasse. Seja como for, eu o via. Não esse, o que caminha no escuro, porque não sei de seu corpo nem de sua face, mas um outro, talvez o mesmo, não sei.
Ele estava na parede. A parede é azul. No começo, foi só o que vi: a parede azul. Depois notei que o azul se movia e aquilo que eu julgava fazer parte da matéria da parede destacava-se e ganhava a forma de um corpo, um corpo vestido de azul. Esse corpo vestido de azul destacou-se da parede e veio sentar-se a meu lado, na beira da cama. Foi quando colocou uma das mãos na minha testa que tive vontade de sorrir para ele. Fazia muito tempo que eu não tinha vontade de sorrir para nada nem para ninguém, então era extraordinário que ele conseguisse perturbar assim os cantos de meus lábios, fazendo com que eles se movimentassem duramente, numa tentativa de se abrirem. Mas não sorri. Sabia de meus dentes sujos, sabia da escuridão de minha boca. E não queria assustá-lo, sobretudo isso: não queria assustá-lo porque poderia retirar a mão de minha testa e levantar-se daquele lugar. Há muito tempo ninguém me tocava. Acho que ele sentiu o meu sorriso preso e a minha confusão, porque perguntou devagar alguma coisa, exatamente como se tentasse quebrar um momento de embaraço. Não sei que coisa foi, também não sei o que respondi. Sei que depois de ouvir minha resposta, afastou-se abanando a cabeça e dizendo que não era possível, que não ia dar certo, que ele sabia que não tinha jeito. Abriu os braços e voltou a confundir-se com a parede.
Foi depois disso que começou essa coisa dos passos, a respiração, o medo, as margaridas, as hortênsias, os jasmins. Ou antes, não lembro. Você é bonito, quis dizer a ele. Mas não foi possível. Foi tudo demasiado rápido. Agora já é muito tarde e eu simplesmente me recuso. Quando resolvi fugir daquelas coisas torpes lá de fora não pensei que fosse tão fácil: na verdade foi tudo muito natural, como se um dia isso tivesse mesmo que acontecer, e exatamente dessa forma. Não precisei fazer esforço algum. Só deitar e esperar. A princípio ainda classificava lembranças e memórias, tinha consciência de um antes, um durante, um depois, de um real e um irreal, um tangível e um intangível, um humano e um divino: separava minha memória e meus conhecimentos em partes cuidadosamente distintas. Depois que ele começou a rondar minha janela, ou antes, não sei, tudo se confundiu num só bloco, e fiquei assim: esta massa compacta toda à superfície de si mesma. Não lembro de ninguém assim tão à flor de si mesmo: raiz, caule, folhas e frutos. Talvez seja bonita uma coisa assim, uma pessoa assim. Ou horrível, não sei. Talvez eu esteja sendo gerado, também não sei. Sei que falta pouco. Eu queria que não fosse assim, que não tivesse sido assim. Mas não consegui evitar. A semente recusava-se a vir à tona, eu nem sempre tinha tempo ou vontade de regá-la, e não chovia mais — foi isso o que aconteceu.
Pressinto que vai ser agora. Tenho mesmo certeza de que vai ser agora. Os passos se aproximam. Faço um grande esforço e consigo aprumar um pouco meu corpo sobre a cama. O cascalho estala. Distendo meus braços e pernas, e nesse movimento há como uma dor brotando de um fundo muito escondido. A janela começa a ceder. Fixo a atenção na minha própria cabeça, até deixá-la ereta. Ouço o barulho dos vidros caindo sobre o chão. Todos esses movimentos fazem com que um cheiro desagradável de coisa apodrecida se desprenda dos lençóis e de meu corpo e quando sinto as garras tocando-me devagar nos dedos dos pés já não sei distinguir se esse cheiro que violenta minhas narinas vem dos lençóis ou de meu corpo ou de sua respiração ofegante pesada viscosa grossa repulsiva e morna subindo por minhas pernas até atingir meus joelhos misturada a uma baba viscosa e não sinto nojo apenas uma vaga curiosidade e pergunto a mim mesmo se tudo isso pertencerá mesmo a um animal ou a um homem ou a qualquer outra coisa e passa-me pela cabeça um rápido pensamento assim: não será a trepadeira que caía da janela? e digo que não e digo que sim e é quando sinto uma coisa escura como uma boca abater-se sobre meu sexo que começo a pensar nas margaridas e digo assim agora que a tua linha paralela à minha vai ficar ainda mais distante não vou ter ninguém mais pra me dar uma margarida de repente pra não dizer nada pra me encontrar no fim da rua1 mas tudo isso está morto então volto às hortênsias e vejo as encostas cobertas de borboletas azuis amarelas cor-de-rosa no meio do trigo da serra no sul e quase esqueço de meus dentes sujos para mostrá-los num sorriso mas esse visgo mas essa gosma essa náusea avança por meu peito até quase minha boca e olho para os jasmins abertos sob um céu de lua cheia e vejo um menino espantado numa janela aberta um menino nu e espantado da parede azul ele me sorri e estende os braços como se me esperasse você é tão bonito eu tenho vontade de dizer esse perfume me entontece e sinto que vomito e que sua língua preta suga a matéria espessa de meu vômito mas é muito tarde ouço o galope de um cavalo que pressinto branco varando o escuro em busca da madrugada e vibro inteiro como se tivesse sangue como se a semente brotasse você é tão bonito tenho vontade de dizer mas há um poço tapando a minha boca e então toco o rendilhado de um vôo em direção à casa oposta em direção ao arco branco no fim da rua e não digo nada eu não digo nada eu só quero olhar de olhos abertos para esse azul engastado na parede e pensar como você é bonito mas duas garras atingem meus olhos e enquanto grito de dor e de prazer as minhas órbitas perfuradas libertam estrelas marinhas e medusas e sereias e algas verdes que oscilam lentamente empurradas pelas ondas para a areia branca onde um dia meus pés deixaram lagos tão breves que não houve tempo da lua refletir-se neles.
Para evitar esse medo que sufoca o cheiro dos lençóis e de meu próprio corpo, penso no jardim. E quando, por segundos, o cascalho pára de estalar sob seus pés, penso que é porque se aproximou do canteiro de margaridas. E recomponho na memória essas margaridas amontoadas no canteiro de tijolos, com seus talos verdes e rígidos, suas longas pétalas brancas e o miolo amarelo, granuloso, sem nenhum cheiro. Quando o medo é maior, penso nas hortênsias. Eram azuis, as hortênsias. Ficavam distantes da janela, próximas do poço e da parreira, quase no quintal. Eram azuis e sólidas, as hortênsias. Também não tinham cheiro, como as margaridas, nem gosto. Uma vez experimentei mastigar algumas pétalas, e tive a sensação exata de ter entre os dentes algo tão fino e frágil como uma asa de borboleta. Eram azuis e sólidas, e às vezes eu cobria os cabelos com elas, prendendo-as atrás das orelhas para depois olhar-me no espelho grande do corredor e achar-me parecido com uma daquelas gravuras japonesas do livro de História de minha mãe — as gueixas, as hortênsias. Essas eram elas.
Quando o medo é quase absurdo, e principalmente quando o cheiro daquela respiração ameaça tornar-se insuportável, recorro aos jasmins. Só então recorro aos jasmins. Deixo-os por último, quando estou à beira de dar um grito ou fazer algum movimento brusco para libertar-me — mesmo sabendo que estou demasiado enfraquecido para dar gritos ou fazer gestos bruscos. Talvez a impossibilidade de fazer essas coisas é que me obrigue a recorrer aos jasmins. Porque eu sempre soube que eles eram o último recurso, última porta, última chave. Eles, os jasmins: última varanda antes da fronteira que me separa do que não conheço. Vejo-os crescer nas sombras para se abrirem em corolas fartas e pálidas: eu me debruço na janela, eu sou muito jovem, eu acredito, eu sou quase um menino que se debruça na janela e olha para esses jasmins pálidos e frios e entontece aos poucos com o perfume doce e olha para a lua, porque havia uma lua quase sempre cheia naquele tempo, e pergunta em espanto o que vai ser dele, que durezas ou doçuras lhe trará essa coisa que ainda não tocou com suas próprias mãos e que chamam de vida, eles, os outros, os que dormem além da porta sem saberem desse menino e desse espanto e dessa lua e sobretudo desses jasmins gelados no jardim. Esse quase menino que sou eu, esse menino suspeita e sente que quase pode viajar na esteira do perfume dos jasmins que voa por cima do muro de tijolos, ultrapassa a sarjeta para misturar-se à terra vermelha da rua e perder-se nas unhas-de-gato do terreno ao lado e no valo da calçada oposta e na casa branca de madeira sobre a elevação de terra — esse menino não chora e não diz nada. Tem olhos enormes para o que ainda não chegou e talvez não chegue nunca.
Tudo isso é doloroso para mim, porque sei que o jardim não é esse, sei mesmo que talvez nem exista um jardim, sei que os jasmins se perderam, e recorro à casa, e penetro cada um de seus aposentos, e desvendo a casa, e recorro à rua, ao arco branco no fim da rua, e à cidade de ruazinhas estreitas e tortas e vizinhos na janela e estradas de terra batida e poeirenta. Mas sei: sempre sei que tudo isso não está mais do lado de fora: sei que já não bastaria abrir a janela: sei que não bastaria a janela. Como se minhas unhas crescessem e eu as cravasse no meu próprio peito. Digo para mim mesmo que não é preciso assassinar o que já está morto, mas enquanto dura a respiração dele, preciso continuar enterrando as unhas devagar na carne, afastando músculos e veias e ossos, como se escavasse a terra em busca de uma semente. Preciso revirar o punhal com dedos seguros, até conseguir extrair algumas gotas de sangue da carne morta. Não consigo. Sei que não consigo no momento em que a respiração cessa e os passos voltam a esmagar o cascalho.
De vez em quando um movimento mais brusco faz com que brote um ruído de folhagens esmagadas. Imagino-o pisando nas margaridas, rasgando as hortênsias, esmagando os jasmins entre os dentes escuros, nas mãos de dedos curtos e juntas grossas, sob as patas de cascos partidos, o corpo áspero de pêlos espojando-se sobre os verdes que minha mãe esquecia de regar e que cresciam apenas por teimosia. A teimosia e a chuva enredando seus membros sobre o muro, sob a terra. Sei que o sangue já não corre: sei que nenhuma semente veio à tona: sei que de nada adianta espreitar dia após dia o seu crescimento, porque não crescerão: sei que é inútil afastar as pedras e os parasitas, tentando distinguir uma pequenina folha verde. Sei que as chuvas não caem mais como antigamente. Então me encolho entre os lençóis e fico ouvindo o cascalho rangendo sob seus pés.
Quando o ruído cessa e penso que ele se afastou por alguns momentos, fixo os olhos no teto ou na parede e tento distinguir apenas cores e formas. Mas não sei mais se o que vejo é o que vejo ou apenas o que penso ver. Dizem que quando se fica muito tempo sem comer acontecem alucinações, da mesma forma como quando se toma drogas. Não sei se são alucinações causadas pela fome, e já não tomo nenhuma droga desde que resolvi deixar que tudo secasse para que viesse à tona apenas o que quisesse vir, sem que eu o chamasse. Seja como for, eu o via. Não esse, o que caminha no escuro, porque não sei de seu corpo nem de sua face, mas um outro, talvez o mesmo, não sei.
Ele estava na parede. A parede é azul. No começo, foi só o que vi: a parede azul. Depois notei que o azul se movia e aquilo que eu julgava fazer parte da matéria da parede destacava-se e ganhava a forma de um corpo, um corpo vestido de azul. Esse corpo vestido de azul destacou-se da parede e veio sentar-se a meu lado, na beira da cama. Foi quando colocou uma das mãos na minha testa que tive vontade de sorrir para ele. Fazia muito tempo que eu não tinha vontade de sorrir para nada nem para ninguém, então era extraordinário que ele conseguisse perturbar assim os cantos de meus lábios, fazendo com que eles se movimentassem duramente, numa tentativa de se abrirem. Mas não sorri. Sabia de meus dentes sujos, sabia da escuridão de minha boca. E não queria assustá-lo, sobretudo isso: não queria assustá-lo porque poderia retirar a mão de minha testa e levantar-se daquele lugar. Há muito tempo ninguém me tocava. Acho que ele sentiu o meu sorriso preso e a minha confusão, porque perguntou devagar alguma coisa, exatamente como se tentasse quebrar um momento de embaraço. Não sei que coisa foi, também não sei o que respondi. Sei que depois de ouvir minha resposta, afastou-se abanando a cabeça e dizendo que não era possível, que não ia dar certo, que ele sabia que não tinha jeito. Abriu os braços e voltou a confundir-se com a parede.
Foi depois disso que começou essa coisa dos passos, a respiração, o medo, as margaridas, as hortênsias, os jasmins. Ou antes, não lembro. Você é bonito, quis dizer a ele. Mas não foi possível. Foi tudo demasiado rápido. Agora já é muito tarde e eu simplesmente me recuso. Quando resolvi fugir daquelas coisas torpes lá de fora não pensei que fosse tão fácil: na verdade foi tudo muito natural, como se um dia isso tivesse mesmo que acontecer, e exatamente dessa forma. Não precisei fazer esforço algum. Só deitar e esperar. A princípio ainda classificava lembranças e memórias, tinha consciência de um antes, um durante, um depois, de um real e um irreal, um tangível e um intangível, um humano e um divino: separava minha memória e meus conhecimentos em partes cuidadosamente distintas. Depois que ele começou a rondar minha janela, ou antes, não sei, tudo se confundiu num só bloco, e fiquei assim: esta massa compacta toda à superfície de si mesma. Não lembro de ninguém assim tão à flor de si mesmo: raiz, caule, folhas e frutos. Talvez seja bonita uma coisa assim, uma pessoa assim. Ou horrível, não sei. Talvez eu esteja sendo gerado, também não sei. Sei que falta pouco. Eu queria que não fosse assim, que não tivesse sido assim. Mas não consegui evitar. A semente recusava-se a vir à tona, eu nem sempre tinha tempo ou vontade de regá-la, e não chovia mais — foi isso o que aconteceu.
Pressinto que vai ser agora. Tenho mesmo certeza de que vai ser agora. Os passos se aproximam. Faço um grande esforço e consigo aprumar um pouco meu corpo sobre a cama. O cascalho estala. Distendo meus braços e pernas, e nesse movimento há como uma dor brotando de um fundo muito escondido. A janela começa a ceder. Fixo a atenção na minha própria cabeça, até deixá-la ereta. Ouço o barulho dos vidros caindo sobre o chão. Todos esses movimentos fazem com que um cheiro desagradável de coisa apodrecida se desprenda dos lençóis e de meu corpo e quando sinto as garras tocando-me devagar nos dedos dos pés já não sei distinguir se esse cheiro que violenta minhas narinas vem dos lençóis ou de meu corpo ou de sua respiração ofegante pesada viscosa grossa repulsiva e morna subindo por minhas pernas até atingir meus joelhos misturada a uma baba viscosa e não sinto nojo apenas uma vaga curiosidade e pergunto a mim mesmo se tudo isso pertencerá mesmo a um animal ou a um homem ou a qualquer outra coisa e passa-me pela cabeça um rápido pensamento assim: não será a trepadeira que caía da janela? e digo que não e digo que sim e é quando sinto uma coisa escura como uma boca abater-se sobre meu sexo que começo a pensar nas margaridas e digo assim agora que a tua linha paralela à minha vai ficar ainda mais distante não vou ter ninguém mais pra me dar uma margarida de repente pra não dizer nada pra me encontrar no fim da rua1 mas tudo isso está morto então volto às hortênsias e vejo as encostas cobertas de borboletas azuis amarelas cor-de-rosa no meio do trigo da serra no sul e quase esqueço de meus dentes sujos para mostrá-los num sorriso mas esse visgo mas essa gosma essa náusea avança por meu peito até quase minha boca e olho para os jasmins abertos sob um céu de lua cheia e vejo um menino espantado numa janela aberta um menino nu e espantado da parede azul ele me sorri e estende os braços como se me esperasse você é tão bonito eu tenho vontade de dizer esse perfume me entontece e sinto que vomito e que sua língua preta suga a matéria espessa de meu vômito mas é muito tarde ouço o galope de um cavalo que pressinto branco varando o escuro em busca da madrugada e vibro inteiro como se tivesse sangue como se a semente brotasse você é tão bonito tenho vontade de dizer mas há um poço tapando a minha boca e então toco o rendilhado de um vôo em direção à casa oposta em direção ao arco branco no fim da rua e não digo nada eu não digo nada eu só quero olhar de olhos abertos para esse azul engastado na parede e pensar como você é bonito mas duas garras atingem meus olhos e enquanto grito de dor e de prazer as minhas órbitas perfuradas libertam estrelas marinhas e medusas e sereias e algas verdes que oscilam lentamente empurradas pelas ondas para a areia branca onde um dia meus pés deixaram lagos tão breves que não houve tempo da lua refletir-se neles.
Marcadores: O Ovo Apunhalado




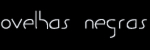

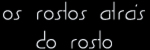


0 Responses to “CAVALO BRANCO NO ESCURO”
Postar um comentário