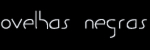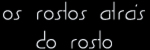Sou morena e magrinha, mas não como qualquer polinésia, como queria Cecília, e também nada tenho de Oriente: sou mais britânica na minha morenez, sou mais Brontë, qualquer das três. Meu pequeno coração foi gestado numa áspera charneca, gasto os invernos tentando descobrir infrutífera um caminho qualquer sobre a neve capaz de transformar todos os caminhos num único descaminho gelado e sem porto, tivesse nascido cem anos atrás me fanaria em brancas rendas e hemoptises escarlates, menos por doença que por delicadeza, insuportáveis que são para meus olhos os escarpados penedos das tardes ou a luz clara do meio-dia, envolta em penumbras que amenizassem o duro contorno das coisas viventes, assim me fanaria, com a magra mão translúcida estendida para o aro metálico dos óculos pousados sobre a capa de couro de um romance antigo, cheio de paixões impossíveis. Frente ao espelho, é com recato que tranço meus longos cabelos, enquanto a ponta de meus frágeis dedos de unhas curtas, às vezes roídas, acaricia o roxo das olheiras, herança de solitárias insônias. Depois busco um lugar junto à janela, pouso o rosto sobre uma das mãos e com a outra vou traçando riscos tristes pelas vidraças sempre embaçadas, por vezes grafo nomes de lugares e gentes que nunca conhecerei, sóis fanados atrás de nuvens débeis, flores doentias, estrelas opacas, talos quebradiços, plátanos desfolhados, olhos profundos, rostos apoiados em mãos magras como as minhas, identifico enquanto meus dedos riscam e riscam e riscam sem parar o inefável. De mancebos e malícias pouco sei, meu precário aprendizado da carne limita-se àquela gosma gelada que um Estudante certo dia depositou entre minhas coxas virginais, contra um muro descascado e cheio de brutais palavrões gravados a prego, numa sépia tarde outoniça. Até a chegada das regras seguintes, temi que houvesse plantado sua áspera semente dentro de mim, e de cada vez que cerrava as pálpebras tornava a sentir seu bafo de fera no cio contra meu colo pálido, as pedras do muro ferindo minhas espáduas, a vergonhosa corrida com as meias soquete desabando sobre os sapatos de verniz, os inúmeros banhos e todos os perfumes, todas as colônias, sabonetes, essências que passei pelo corpo para arrancar de minha pele aquele cheiro descarado de animal. Prefiro os cheiros fanados, as rosas quase murchas, e nos transes mais dolorosos sempre fui eu a banhar os cadáveres familiares, cortando-lhes os cabelos e as unhas com infinito carinho, de certa forma meus mortos todos foram também meus filhos quando os polia esmerada para que São Pedro não lhes pusesse defeito ao baterem às portas celestes, que nada teriam contra mim no Reino dos Céus até minha partida que, rogo constantemente, há de ser breve. Mas até hoje persiste o cheiro, embora na chegada do fluxo tenha me embriagado feito demente naquele sangue que assegurava a permanência de minha pureza, deixei-me sangrar durante várias horas, empapando lençóis e roupas íntimas, até estar segura de que nem a mais ínfima gota do líquido vital daquele selvagem havia maculado minhas entranhas: eu as reivindico brancas como o linho das fronhas, como o cretone dos lençóis, como a renda destas cortinas que o vento sopra contra as violetas nessas tardes em que o sol demora a partir e o céu inteiro tinge-se de lilás. Não, não ofereço perigo algum: sou quieta como folha de outono esquecida entre as páginas de um livro, definida e clara como o jarro com a bacia de ágata no canto do quarto - se tomada com cuidado, verto água límpida sobre as mãos para que se possa refrescar o rosto, mas se tocada por dedos bruscos num segundo me estilhaço em cacos, me esfarelo em poeira dourada. Tenho pensado se não guardarei indisfarçáveis remendos das muitas quedas, dos muitos toques, embora sempre os tenha evitado aprendi que minhas delicadezas nem sempre são suficientes para despertar a suavidade alheia, e mesmo assim insisto - meus gestos e palavras são magrinhos como eu, e tão morenos que, esboçados à sombra, mal se destacam do escuro, quase imperceptível me movo, meus passos são inaudíveis feito pisasse sempre sobre tapetes, impressentida, mãos tão leves que uma carícia minha, se porventura a fizesse, seria mais branda que a brisa da tardezinha. Para beber, além do chá com une &irme de lait, raramente admito um cálice de vinho, mas que seja branco para não me entontecer, e que seja seco para não esbrasear em excesso minha garganta em ardores que, temo, poderiam descontrolar-se além do limite imposto pela pudicícia, e para vestir, além do branco absoluto, admito apenas o cinza e o bege, raramente o preto, demasiado dramático para quem busca integrar-se ao fundo, não destacar-se, poucas vezes ouso o bordô, contudo me agrade o sangue coagulado de seus tons, lembrando dores para sempre pacificadas na sua estagnação, e nunca me atrevi aos azuis, iluminados demais para minha severidade. Nas folhas que datilografo como secretária, os chefes jamais detectaram uma rasura sequer, uma violação de margem, um toque mais nítido ou esmaecido, sou sempre precisa, caracteres negros sobre o branco impecável, e isso é tudo. Recebo modesta os elogios, vou duas vezes ao banheiro cada dia, ao chegar e ao partir, quando não tenho serviço cruzo os braços sobre o busto escasso e simplesmente permaneço, existo mais profundamente assim, quando silente, ou abro discreta certo livro de poemas líricos para saborear algum verso enquanto contemplo as alamedas estendidas atrás das janelas. Mas desde que, há duas semanas, uma cigana desvendou as fracas linhas das palmas de minha mão, pouco sossego encontro até em meu próprio sossego: dois amores, ela apontou, um já passado, e com amargura localizei na memória aquele sôfrego Estudante, e outro em breve por chegar. Desde então, me desconheço. Abreviaram-se-me as idas ao banheiro para molhar os pulsos e os lóbulos das orelhas, animando a circulação que se me estanca nas veias, por vezes olvido a torneira aberta e surpreendo-me a odiar minhas próprias tranças, as manchas roxas sob os olhos e tudo que me torna assim, fugaz. Mal posso conter um susto investigando o porte de cada homem que se aproxima, em cada esquina que dobro, em cada ônibus que tomo para ir e vir, sinto que busco prometido e me detesto por essa inquietação febril, pelo amor que desconheço e mal consigo supor, tão parca é minha vida de memórias ou medidas. Esforço-me por dar-lhe pinceladas tênues, não me atrevo aos óleos nem aos acrílicos, é nos guaches e sobretudo nas aquarelas que procuro o verde esmaecido de sua tez, mas por vezes alguma coisa se alvoroça e me surpreendo alucinada, incontrolável, a chafurdar em tintas fortes, berrantes cores primárias, formas toscas, símbolos sensuais, e é então que mergulho em banhos gelados no meio da noite para apaziguar a carne incompreensível, fremente qual Teresa d'Ávila, afogada entre lençóis, as palavras da cigana me embalando feito uma berceuse, imagino se não será o próprio Senhor este que se aproxima, e não conheço. Em cada junho, sei que não suportarei o próximo agosto, me debato elaborando aquela futura tarde gris para encontrá-lo - não aqui, entre torpezas, mas numa outra dimensão de luz maior, além de meu próprio corpo, irmão-burro aprisionado pelos instintos, num espaço discreto e contido como eu mesma venho sendo através destas quase três décadas que, álgida, sobrepujei. Sobrevivo a cada manhã quando, cruzando as portas e corredores que me conduzem às ruas intermináveis, imagino sempre que sou invisível para cada um dos que passam. Ninguém suspeita de meu segredo, caminho severa pelas calçadas, olhos baixos para que minha sede não transpareça: ah sou tão morena e magrinha que ninguém me adivinha assim como tenho andado - castamente cinzelada no topo deste morro onde os ventos não cessam jamais de uivar, tendo entre as mãos, como quem segura lírios maduros dos campos, uma espera tão reluzente que já é certeza.
Marcadores: Morangos Mofados
Sou uma loura trintona e gostosa, dezoito por vinte e quatro, como se dizia antigamente, mas só repito essas expressões comigo mesma, aprendi que a gente entrega o tempo em lembranças assim, por isso sempre contenho o susto que me afoga o peito quando por acaso escuto Anísio Silva, Gregório Barrios, Lucho Gatica, porque além de trintona e gostosa sou também moderna e extrovertida. Daquelas louras que permanecem até o fim e o depois de qualquer coquetel, e há tantos coquetéis e tantos principalmente depois de coquetéis na minha vida, sempre repito ao espelho passando as bem tratadas mãos de longuíssimas unhas ciclamens pelas fartas curvas perigosas da opulenta carne que Deus me deu, e só ele sabe a quantas duras e caras penas mantenho firme e fresca. Sou uma loura coquete que adora coquetéis, onde costumo degustar dulcíssimos martínis com cerejas, jamais com azeitonas, detesto o amargo, minha boca de insuspeitadas próteses foi feita apenas para saborear doçuras e todo dia, com as impecáveis unhas ciclamens, bato veloz nas teclas de minha IBM de secretária eficientíssima, a coluna muito ereta, realçando o arrogante relevo do busto que, em idos tempos, já mereceu a disputada faixa de Miss Suéter, acentuado ainda mais pelas malhas justas nem sempre decotadas, pois aos poucos a vida foi me ensinando que a luxúria reside menos na exibição integral do que naquela breve nesga de carne mal-e-mal entrevista entre a luva e a manga, e tenho meus sutis pudores: cruzo as pernas ardilosa, para que esse instante fugaz em que minha intimidade quase se revela por inteiro seja feito mais de ardentes expectativas do que de cruéis certezas. Não fui jamais uma loura óbvia demais, embora tenha estado sempre e por assim dizer à tona de mim mesma, em meu longo conhecimento dos homens descobri astuciosa que, no primeiro roçar de pupilas, é preciso prometer absolutamente tudo mas, no prosseguimento desses furtivos rituais, sei esmerar-me em caprichos lânguidos e débeis negativas, de forma que, quanto mais me esquivo, mais prometo, e mais abundante, se é que me entendem - cada não saído de meus cristalinos dentes equivale a dois, dez, duzentos sins, but not now; te daria já uma turmalina, mas te darei mais tarde uma urna de diamantes. Sou uma loura facílima, e por isso mesmo extremamente difícil, minhas obviedades possuem mapas complexos, os inúmeros x apontando o local exato do tesouro são quase todos falsos, eivados de seiemaranhadas, lagos barrentos infestados de piranhas, crocodilos famintos, pigmeus vorazes, caçadores de cabeça, tigres enfurecidos, ninhos de serpentes, pestes tropicais, febres malignas, curares e tisanas. Mas para o bom caçador, e aprendi também a importância de deixar o caçador supor-se caçador quando na verdade é o caçado, eu, pantera astuciosa de garras afiadas, andar felino, ferocidades invisíveis, mas como ia dizendo - sou também uma loura labiríntica em suas próprias tramas, tão densas que freqüentemente surpreendo-me atingindo o ponto oposto ao de minha rota anterior, um bom caçador-caçado sempre sabe como chegar direto ao próprio x que nem sempre é remoto, mas só os mais astutos percebem que o x, em vez de perdido entre incontáveis perigos, pode estar à beira do mais manso dos regatos, à sombra da mais florida cerejeira, no mais fresco desvão do mais fértil dos vales. Para estes, cedo, para estes, quase sem hesitar, escancaro minhas coxas de cetim e sou guia experiente em todos os passos que conduzem aos segredos de minha licorosa caverna, para estes acendo as luzes dos meus adentros, faço com que as sombras deixem de ser ameaçadoras para tornarem-se macias penumbras, veludosas alfombras distendidas com cuidados extremos para secar o suor e matar a sede dos bravos viajantes, extenuados pelo esforço de manterem eretas suas rijas armas de fogo nos roteiros por minhas intrincadas entranhas. É verdade que por vezes me perturbo tentando localizar entre esses o Grande Descobridor, qual América em sua nativa solidão virginal, impaciente pelo Colombo que a revele de vez para o mundo, explorando-a até o derradeiro veio de ouro para torná-la escrava cativa, serva humilhada dos mais brutais colonialismos, e para esse me preparo, para esse me burilo e me lapido esmerada - e sei que virá. Há duas semanas uma cigana localizou dois sinais, dois amores entre a minha linha do coração e o solitário sintético do anular esquerdo, um já vivido, afirmou, e logo lembrei daquele inábil escoteiro que em tempos imemoriais, inconfessáveis sob pena de revelar um coração já marcado pelas intempéries da existência, deixei que ensaiasse em minha exuberante geografia seus hesitantes primeiros passos, e após trinta e seis meses de proveitosa aprendizagem permiti que partisse, disseminando por outras paragens toda a sabedoria que, com trágica paciência e dilacerada alegria, concedi que extirpasse de mim, pois sempre soube ser eu, loura febril, nada mais que a primeira, jamais a derradeira, jamais a única entronizada em santa e mãe de filhos, a escolhida de seu esplêndido e insaciável ventre juvenil. Chafurdando em abissal melancolia na crise que se sucedeu, mergulhada em fugas barbitúricas, oceanos de gim, telefonemas noturnos em desespero, perambulações sedentas por todas as vielas pecaminosas do prazer, jurei solene aos pés de Oxum jamais voltar a ser como que progenitora de meus protegidos, preparando-os para a existência e, após, quedando em frenético abandono. Mas o segundo, a unha da cigana riscou forte a linha junto à base de meu dedo mínimo, o segundo chegará nos próximos meses e será sim ele, adivinhei, o Grande Descobridor, o tão sabido que nada terei a ensinar-lhe, e tão sabida eu mesma em todas as lições que já prestei que nada terei a aprender de si. Seremos, ele e eu, infatigável troca de prazeres, tilintar de cintilantes cristais em brindes com champanhe fervilhante de luxúria, línguas divididas na volúpia, corpos ensandecidos na selvageria dos gestos mais furiosos e mais amenos, entre suores, gemidos e secreções de líquidos pujantes feito cachoeiras tropicais, sete quedas, sete orgasmos terei eu de cada vez que me engolfe náufraga em sua ejaculação amazônica. Por ele espero, monja voraz, e desde que a cigana me desvairou assim investigo os volumes, os cheiros, os pêlos de todos os homens que ousam aproximar-se do covil desta pantera, receando então que uma excessiva ansiedade no fundo das castanhas luas gêmeas de meus olhos possam evidenciar uma sede demasiada para suas viris misoginias. Pelos inúmeros coquetéis por onde tenho desfilado meus ardis, observo em desprazer e apreensão meus desbragamentos cada vez mais freqüentes nos dulcíssimos martínis, e triturando a polpa das incontáveis cerejas temo explodir os limites de meus dezoito por vinte e quatro para transformar-me súbita em outdoor coloridíssimo, tão escandaloso e desesperadamente imenso que jamais caberia em quarto ou membro algum de qualquer homem. E quando despida e solitária em minha rendada furna investigo fatigada as novas marcas que o dia passado lavrou inclemente em meu rosto, tenho tido frêmitos próximos da dor, e quando me lanço sobre os lençóis acetinados do leito inutilmente perfumado, sinto que minhas ardências ameaçam arrebentar o negro négligé, e quando por malícia ou enfado cedo a algum caçador menor, suas estocadas já não despertam meu distraído prazer, perdido x inlocalizável até para mim mesma que o dispus no mapa, meu corpo enregelado agora abriga outros delírios, enquanto sob meus louros cabelos de raízes implacável e semanalmente descoloridas desfilam inconfessáveis fantasias com esse Grande Descobridor, cuja proximidade adivinho num eriçamento tal que nunca sei se será pressentimento ou puro engano. Por vezes raras, num misto de temor e júbilo, julgo escutar o ruído dos ramos secos sob a janela esmagados por suas negras botas reluzentes, enquanto se aproxima entre folhagens, e pelas madrugadas ardidas me engano supondo divisar nas sombras a massa escura e áspera da barba que lanhará meus seios intumescidos de desejo. É quando odeio a cigana por ter me enlouquecido assim, e custo a dormir, enredada em ódio, os dedos arquitetando delícias imaginárias nos lábios mais recônditos, mas na manhã seguinte não deixo de considerar o noturno coquetel de cada dia e então escovando cem vezes meus louros cabelos, sempre penso que pode ser Hoje. Escolho com cuidado os tules, as pedras, os organdis, os brilhos e brincos, e é tão luminosa e devastadora que enfrento o dia nascente que, apesar das sombras da madrugada, a cada nova manhã os que me vêem passar soberba e apocalíptica, pisando ereta no topo dos saltos, devem pensar qualquer coisa assim: lá vai uma loura trintona e gostosa, ao certeiro encontro de seu Grande Descobridor.
Marcadores: Morangos Mofados
Para Maria Adelaide Amaral
Desejo uma fotografia como esta - o senhor vê? - como esta: [...] Não... neste espaço que ainda resta ponha uma cadeira vazia.
Cecilia Meireles: "Encomenda"
Marcadores: Morangos Mofados
Marcadores: Morangos Mofados
Para Eduardo San Martin
Poderia também começá-la assim - pi-gar-re-ou & disse: diríamos que ele apresentava-se ou revelava-se ou expressava-se (entregava-se, quem sabe?) ou fosse lá o que fosse, naquele momento específico, por uma predileção, tendência, símbolo, sintoma ou como queiram chamá-lo, senhores, senhoras, aos cafés amargos, aos tabacos fortes, aos blues lentos, embora a redundância deste último. E os morcegos esvoaçavam ao redor da casa. Esse o início.
Os morcegos esvoaçavam ao redor da casa e o De Camisa Xadrez, que fora amado e ferira de faca a quem o amara, ainda amarrava os cabelos na nuca. O De Camisa Xadrez ainda tinha cabelos suficientes para amarrar na nuca. Então era desse jeito: o De Camisa Xadrez amarrando os cabelos na nuca enquanto os morcegos esvoaçavam ao redor da casa e, como numa orgia, como num vício, como numa tara, como num inconfessável ritual sadomasoquista, Ele entregava-se aos blues amargos, cafés fortes, tabacos lentos. Só não tinha ainda identificado a moça porque era tão moreninha & brejeira que abriu logo o papo trans-cen-den-tal, ela embarcando. Peixes, logo vi, regente Netuno, ah Netuno, cuidado com as ilusões, mocinha, profundas e enganosas feito o mar que é teu elemento. E assim passaram-se anos.
Cruel citar grafites tipo homem, mate a mãe que existe dentro de você, a minha mãe já está morrendo objetivamente, no plano real-objetivo, feliz ou infelizmente ela existe fora de mim (e esse era um fato que não alterava e, repito, fato - porque tudo são fatos, só eles existem, mas isso é outra história) como ia dizendo, não se esquive do fato de haver uma história em suspenso aqui, não digamos assim, pois uma história jamais fica suspensa: ela se consuma no que se interrompe, ela é cheia de pontos finais internos, o que a gente imagina que poderia ser talvez uma continuação às vezes não passa de um novo capítulo, eventualmente conservando as mesmas personagens do anterior, mas seguindo uma ordem cujas regras nos são ilusoriamente às vezes familiares? ou inteiramente aleatórias? Isso eu não sei, mas a verdade é que chega-se sempre longe demais quando não se quer Ir Direto Aos Fatos, e o problema de Ir Direto Aos Fatos é que não há cir-cun-ló-quios então, e a maioria das vezes a graça reside justamente nesses Vazios Volteios Virtuosos, digamos assim: que não haja beleza nos fatos desde que se vá direto a eles? ou que não exista mistério, que seja insuportavelmente dispensável gostar dos tais circunlóquios. Ultrapasse-os, ordeno. Acontece que. Não, nada acontece - mas, por favor, não falemos disso agora.
O cruel vinha de que o silêncio também seria inábil e farposo, contudo educado, então feria, e não pense que vou esclarecer quem, facilitando as coisas por cegueira, pressa ou tontura: o cruel era a palavra verbalizada, e o verbo era o mal? mas o silêncio idem, e voltando um pouco atrás, se o verbo era o mal, no princípio seria o Mal e não o Bem como queremos supor? Oh. Apenas na estradinha de terra batida que subia o morro, entre o rio e o mar, foi que começaram a divertir-se um pouco, identificando-se sestrosos. A Médica Curandeira tinha crespos cabelos negros que acentuavam seu dramatismo, aliados a Certo Ar Sofrido De Mulher Com Mais De Trinta Anos Que Já Passou Por Muitas Barras. E até que era simpática, descobria prosaico o Jornalista Cartomante entre dois goles de vinho, duas tragadas do tabaco amargo velho conhecido. O Ator Bufão cumpria com eficácia paradoxal suas funções de pano de fundo freqüentemente estridente demais, mas inofensivo como costumam ser os bufões, mesmo quando se metem a contundentezinhos.
Era nesse pé que as coisas estavam quando. E quase não havia nada a acrescentar, porque nada acontecia entre eles, a não ser, utilizando certa nor-ma-ti-vi-da-de e não necessariamente nessa ordem: a) Climas Indefiníveis; b) Sutilezas Indizíveis; c) Nobrezas Horríveis. Nomeava assim. Horríveis com maiúscula, porque mesmo não tendo que justificar-se enfim e ao cabo: nobreza em excesso roía por dentro, isso era como a conseqüência de uma aprendizagem instalada agora dentro do quarto. Como se por baixo do longo cano de uma luva branca imaculada por trás do rendilhado dos canutilhos houvesse garras torcidas, esguias feito torres góticas, arranhando vidraças fechadas na treva.
Mas assim era. Caminhava na rua sem tocar na rua, conseguia. Movimentava-se entre espelhos. Caminhar na rua: jogo de infinitos. O de agora remetendo ao de antes, que refletia o depois, que era algo bem próximo do agora, e assim por diante ad infinitum circular. Tudo refletia-se Cada reflexo o devolvia a algo que não a rua propriamente dita. Essa, por onde caminhava. Poder-se-ia argumentar contra Ele que isso não passava de mais um meio de não se comprometer demasiado. Uma daquelas Horríveis Nobrezas, porque concluir ou reconhecer uma aprendizagem não significava necessariamente passar a agir de maneira diferente. Mas queria dizer que, naquele momento, naquele fato suspenso em que nada acontecia, de repente e sem nenhum motivo, a Médica Curandeira (de passado guerrilheiro), o Ator Bufão (egresso de um seminário) e o Jornalista Cartomante (com raízes contraculturais) não estavam preocupados ou diminuídos pelo fato de serem Caricaturalmente Representativos De Uma Geração, fosse qual fosse. A bem da verdade, revele-se em alto e bom som, embora por escrito: eles foram intensamente felizes enquanto nada acontecia. Pelo menos até que se ouvissem novamente os morcegos lá fora. Claro que não sabiam disso - da felicidade, não dos morcegos sinistramente audíveis - nem talvez saberão um dia; exatamente por isso é preciso que se diga, para que ninguém entenda, mas pelo menos fique registrado, em benefício de nada nem ninguém. Sendo completamente o que eram, inspiravam estufados de humaneza sem culpa.
E tudo isso ia acontecendo sem acontecer propriamente, enquanto a Moreninha Brejeira, se olhada mais atentamente, o que era difícil, guardava alguma fundura por trás da brejeirice e, olhando bem, nem parecia tão moreninha assim. Era exaustivo, mesmo sem muitas palavras entre eles, não aqui, onde é o único jeito de tentar contá-los. Era incompreensível também, para quem nunca esteve dentro de algo semelhante. Mas reconfortante, mesmo que não bebessem chá. Como costumam ser os reencontros, afinal. Ou como deveriam costumar ser, que o mais das vezes são é mesmo puro desconforto, mesmo com chá.
Só que os morcegos, porra, não paravam de rondar, embora fosse verão e a casa tivesse sido branca um dia e o gramadinho até mesmo guardasse recuerdos fagueiros de tardes ensolaradas com bolas dessas de grandes gomos coloridos e doguezinhos saltitantes ao pé de raparigas um tanto antigas e naturalmente em flor nos seus modelinhos rendados com meias soquetes desabando sobre sapatinhos de verniz, bambolês & bilboquês abandonados nos degraus de pedra gasta. Tinha um gosto remoto disso tudo, a casa. Mas ele não acreditava o suficiente a ponto de justificar a presença dos morcegos, ou não seria mais que uma suspeita? pois sequer, falha imperdoável nesta história, a casa comportava sótãos poeirentos, porões sinistros, bananeiras nos quintais. Pensando melhor, continuavam sem saber, fazia muitos anos, se a realidade seria mesmo meio mágica ou apenas levemente paranóica, dependendo da disposição de cada um para escarafunchar a ferida.
Preferia então, ele, observá-la ao espelho, como quando caminhava na rua. Isso o remetia a outras feridas mais antigas, nem mais nem menos dolorosas, porque a memória da dor da feridantiga amenizou-se, compreende? Menos pela cicatriz deixada, uma feridantiga mede-se mais exatamente pela dor que provocou, e para sempre perdeu-se no momento em que cessou de doer, embora lateje louca nos dias de chuva. O que provavelmente deve ser muito sadio. A Moreninha Brejeira jamais poderia supô-lo imerso em tais inutilidades cerebrinas, e já não restava uma gota de cumplicidade entre o De Camisa Xadrez e o Jornalista Cartomante, posto que isso implicaria uma espécie de homoerotismo sublimado, se é que me faço entender nesse meandro. Como uma cópula moral, uma foda ética ou etílica, sabe-se lá a que requintados níveis de abstração, perversidade ou subterfúgio podem chegar certas trepadas. Considerava feridas, enfim, totalmente mergulhado nos lentos blues, nos tabacos fortes, nos cafés amargos vezenquando substituídos por conhaques (densos) ou vinhos (secos). Entre duas palavras quaisquer, era capaz de deter-se para tomar providências objetivas, tipo esvaziar cinzeiros trocar discos servir bebidas abrir janelas para fechá-las em seguida, rápido, para que os morcegos não entrassem.
Quanto à Médica Curandeira, era ainda capaz de exibir na pele torturada as marcas dos cigarros acesos, principalmente nos seios e nas coxas, numa espécie de sedução pelo avesso, pelo ideológico, não pelo estético, mas isso só na intimidade mais absoluta, quando estivesse descartada qualquer possibilidade de ser enquadrada em algum tipo de exibicionismo leninista-trotskista. Se bem que, como rugas e perdas, cicatrizes também fossem troféus. Grandes fracassos, tipo Napoleão em Waterloo, deveriam ser condecorados, afinal por que essa discriminação maniqueísta? cobrava o Ator Bufão, vezenquando tomando as rédeas para jogar no ar palavras que, como bufão que era - e dos bons, diga-se a seu favor -, transformavam-se em várias bolas ao mesmo tempo jogadas para o alto. Seria capaz de (des)ordená-las nas mais infinitas seqüências combinatórias, tipo duas vermelhas no ar sobre a cabeça uma roxa na mão esquerda uma azul na mão direita e aquela amarela passando por baixo da perna direita ou esquerda, não importa, e no ar também, neste exato momento, aquela verde-musgo. O problema maior do Ator Bufão era que todos os seus talentos não valiam um vintém, visto que nos dias de hoje já não existe mais muita gente interessada em bizarras combinações no ma-la-ba-ris-mo com bolas coloridas.
Ele baixou os olhos. Feridas, cicatrizes, desejos - mastigou, mastigaram. Contra a janela fechada (para que não entrassem morcegos), a Moreninha Brejeira junto à Médica Curandeira parecia uma Capitu levemente amadurecida pedindo conselhos àquela Catharina dos ventos uivantes. Só não sabia de si, nem de parâmetros, o De Camisa Xadrez - aquele que muito fora amado e ferira fundo de faca a quem o amou: permanecia mudo parado suspenso entre várias coisas que já não eram e outras tantas que poderiam vir a ser, ou não. Enquanto nada se decidia, amarrava os cabelos na nuca, posto que ainda tinha cabelos, embora a década fosse outra, e outros os delírios. Amarrava-os assim e agora, tão nítido, porque essa era quem sabe sua vitória tácita, sua implícita vantagem naquele momento em que, além de nenhum avanço, todos os demais tinham cortado ou perdido os cabelos. Haviam chegado a um ponto em que verbalizar morcegos poderia arruinar tudo, mesmo que nada houvesse a ser arruinado. Mesmo que sequer houvesse morcegos.
Pois diga-se ainda que, apesar do ruído côncavo de asas, daqueles miúdos guinchos cruzados no ar, das garras viscosas sem luvas nem canutilhos arranhando as vidraças, mesmo olhando-se vezenquando nos olhos há anos empapuçados de álcool e drogas, não se atreviam a verbalizar morcegos. Ou não é que não se atrevessem: os morcegos talvez fossem incomunicáveis, pois em não sendo verbalizados, e portanto compartilhados, cada um suspeitava que fossem estritamente pessoais & intransferíveis, compreende? O que quero finalmente dizer é que não verbalizando os morcegos, os morcegos não existiam, passando a ser o que não eram: uma metáfora de si mesmos. Sendo assim (tudo tão lógico), nem sequer obscuras tensões pairavam sobre o De Camisa Xadrez, a Moreninha Brejeira, o Ator Bufão, a Médica Curandeira e o Jornalista Cartomante, todos sem pretexto algum para estarem ali agora assim, sentados sobre o tapete no quarto do Marinheiro Frustrado, que andava ausente, embora deixasse em seus devidos lugares as âncoras polidas e as luzidias maquetes de transatlânticos, alguns dentro de garrafas. Ausente também o Marido Ideal, já que sua função na vida sempre fora mesmo ausentar-se estratégico sem deixar vestígios, o que tinha sua dose de melancolia, mas também de alívio, convenhamos. Como as estantes de madeira escura suportando o peso das obras completas de Karl May, Michel Zevaco e Edgard Rice Burroughs.
Dentro do pleno verão, pela escada soprou inesperadamente um vento frio.
Nesses momentos, quando os blues tornavam-se ainda mais lentos, é que se ouviam os morcegos lá fora. Nesses momentos é que contemplavam os mútuos tênis espatifados, mesmo que estivessem descalços, considerando fatos incontornáveis como a pilha de pratos sujos na pia da cozinha. Ir Direto Aos Fatos agora seria por exemplo correr sem vírgulas para a pia armado da mais higiênica das intenções & um bom detergente biodegradável. Ou virar o disco para libertar um blues ainda mais agônico, quase insuportável de tão dolorido, que cada nota emitida pelo sax durasse pelo menos o tempo do Gênesis. Até que a Moreninha Brejeira estalasse os dentes contra uma maçã imaginária para, de certa forma, expulsá-los do paraíso. E produzir-se-iam abrolhos e urzes e espinhos e nutrir-se-iam com as ervas dos campos e comeriam o pão temperado com o suor da própria fronte - pois são assim os ciclos, comentaria didático, mas um tanto fatigado e já sem graça, o Ator Bufão. Os demais, não se sabe, calariam. Ou não fariam gesto algum, o que é sempre uma maneira ainda mais muda de calar.
Ao mesmo tempo, para todos, era extremamente cômodo e perfeitamente insuportável permanecer assim, no meio do parado, suspeitando vôos de morcegos por trás das janelas fechadas daquele quarto onde, quem sabe, apenas as âncoras ancoradas nas paredes poderiam indicar qualquer coisa como - um rumo? E finalmente, por uma longa série de razões vagas fundas baças tolas ou ainda mais confusas, esse tipo de coisa era praticamente tudo que se poderia dizer sobre eles. Assim lentos, assim amargos, assim surdos, assim fortes até. Sobrevivendo à morte de todos os presságios.
Marcadores: Morangos Mofados
Para Raquel Salgado
Tateio, tateias, tateia. Ou tateamos, eu e tu, enquanto ele se movimenta sem dificuldade entre as coisas? Sei pouco de ti, apenas suspeito da tua existência desde quando descobri que nem eu nem ele éramos os donos de certas palavras. Como se tivesse percebido um espaço em branco entre ele e eu e assim - por exclusão, por intuição, por invenção - te adivinhasse dono desse espaço entre a luz dele e o escuro de mim. Tateias, também? De ti, quase não sei. Mas equilibras o que entre ele e eu é pura sombra.
Estou me afastando, estou indo embora e preciso que me entendas antes que eu vá, crucificado na parte externa do vagão de um trem em alta velocidade. Tento devagar, mais claro: ele não se afasta. Dia após dia, eu noto, torna-se mais simpático, mais eficiente, mais solícito - para utilizar palavras que não sei bem o que significam, mas imagino sempre alguém sorrindo muito, fazendo reverências, curvando constantemente a cabeça, como uma gueixa. Gueixa, ele, a grande puta, com seu silêncio de passinhos miúdos e pés amarrados. Preciso tentar certa ordem no que digo, e dizer de novo, vê se me entendes: ele não se afasta, mas é dentro dele que eu me afasto. Dentro dele, eu espio o de fora de nós. E não me atrevo.
O que vejo nos outros, com seus grandes poros abertos, são caras demasiado vivas. As caras de fora se debruçam sobre ele e eu tenho medo, eu nunca poderia olhar de frente para todos aqueles olhos boiando na superfície branco-gelatinosa, raiada de veiazinhas vermelhas, e eu sinto nojo. Não dos olhos, mas do interior das caras que transparece nas veiazinhas. Também não são as bocas, mas os gosmosos vermelhuscos de dentro, quando se abrem demasiado. Os inúmeros pontinhos pretos dos narizes, às vezes subindo para a testa, entre as sobrancelhas, o interior rosado dos narizes, as goelas abertas com suas umidades móveis ao fundo, cheias de pequenos espasmos, miúdas convulsões. Quando as grandes caras vivas se debruçam, sinto que transpareço nas veiazinhas dos olhos deles, e tenho medo que apenas um piscar me lance para fora, entre as coisas pontudas. E quando ele abre sua boca movediça para escarrar palavras, gotas de saliva e mau hálito, tenho medo de ele ser essa palavra, essa gota, esse hálito. O mesmo de quando esfrega as palmas das mãos e solta no ar os feixes de energia, como se fosse uma vibração, não um ser.
Sempre posso parar, olhar além da janela. Mas do interior do trem, nunca é fixa a paisagem. Os pés de ipê coloridos misturam-se às paredes de concreto e as paredes de concreto às ruazinhas de casas desbotadas e as ruazinhas de casas desbotadas às caras das lavadeiras na beira do rio, e desta distância essas caras não são móveis nem vivas, mas sem feições, esculpidas em barro sob as trouxas brancas de roupa suja, e outra vez o roxo e o amarelo dos ipês e o marrom da terra e o bordô das buganvílias e o verde de uma farda militar atravessando os trilhos. Há um excesso de cores e de formas pelo mundo. E tudo vibra pulsátil, fremindo.
Daquela última tarde de luz, o que me ficou na memória foi o visgo frio do suor nas palmas das mãos, os inúmeros pontos luminosos vibrantes dos automóveis, minhas frontes estalando com o barulho. Os automóveis eram faíscas coloridas metálicas voando sobre o cimento. Eu apertava minha tontura com as palmas molhadas das mãos, sem saber se ia, se voltava ou permanecia parado quieto entre aqueles pontos alucinados de luz girando em volta de mim. Devo ter começado a gritar, porque ele cerrou a boca com força, não me deixando escapar por sua garganta fechada.
Mas era a ti, a ele ou a mim que o homem visitava às vezes? De quem seria a língua sem nojo que explorava o mais fundo de todos os buracos do corpo dele? Da janela eu observava as mãos abrindo apressadas o fecho das calças, os dedos hábeis afastando panos, as narinas sugando o cheiro secreto das virilhas, O grande corpo vivo e móvel do homem, atrás das grades eu queria minhas aquelas mãos que o tocavam e também meus aqueles dedos e minhas ainda aquelas narinas e aquela língua lambendo o membro rijo dele até deixá-lo empinado o suficiente para, com muito cuidado, entrar rasgando de prazer e dor. Eras tu, era eu ou era ele quem torcia lentamente o corpo até desabar de costas na cama, e contornando com as coxas abertas o tronco e a bunda do homem pudesse assim senti-lo dentro de mim, de ti ou dele, como a fêmea deve sentir seu macho, cara a cara, jamais como um homem recebe a outro homem, o rosto contra a nuca, nesse amor feito de esperma e pêlos, de suor e merda? Atrás da janela dele, eu olhava sem me permitir. Mas nosso orgasmo era o mesmo, e éramos então um só os três, cavalgados por esse homem que esgotávamos com a sede das nossas línguas. Nesses momentos, eu conhecia a tua face tão detalhadamente quanto a dele e a minha. E não me assustavam os poros demasiado abertos, nem me enojava aquele gosmoso de dentro dos buracos.
Quanto a ti, já reparaste como o mundo parece feito de pontas e arestas? Já chamei tua atenção para a escassez de contornos mansos nas coisas? Tudo é duro e fere. Observo, observas como ele se move sem choques por entre os gumes. Te parece dócil, assim sinuoso, evitando toques que possam machucá-lo? Pois a mim parece falso, conheço bem suas tramas e sei de todas as vezes que concedeu para que o de fora não o ferisse. Olha, ouve e repara: essas sinuosidades são de cobra, não de ave.
Só às vezes julgo compreender. Então tenho vontade de abrir todas as janelas da casa para que o sol possa entrar. É isso que me ocorre pelas manhãs, sempre à mesma hora, depois de ouvir os ruídos que ele faz antes de sair. Fico atento à água escorrendo da torneira, ao rascar da escova contra os dentes, à água da privada levando para os esgotos os detritos recusados pelos intestinos, à água limpando os resíduos de sono no canto dos olhos, à água fria do chuveiro despertando os músculos, à água aquecida para o café, fico atento a tudo. E água, água, água e água, eu repito todas as manhãs, e mesmo que continue o dia inteiro entre lençóis, a mão inventando prazeres escondidos entre as pernas, há sempre uma parte de mim que o acompanha pelas ruas, no seu trajeto sujo entre as faíscas metálicas dos automóveis, distribuindo os primeiros sorrisos falsos do dia, e pelo dia adentro afora, cumprindo sem hesitações o seu bem traçado roteiro. Sabe tudo o que quer, ele, o grande porco. E sabe exatamente como consegui-lo. Pelo dia afora, adentro, essa parte de mim que vai com ele tenta extravasar-se pelos seus olhos, pela sua boca, para alertar as grandes caras móveis que o observam com simpatia. A cada tentativa, ele me pressente e me rechaça, ele me empurra para o fundo de si para que eu não o desmascare. E me rouba a voz, e me leva o gesto, fazendo com que me cale e me imobilize impotente entre as pontas duras das quais ele se desvia, porco bailarino capaz de todas as baixezas pelo solo principal. É sem testemunhas que eu o desmascaro todas as manhãs, enquanto escuto escorrer a água com que supõe lavar toda a sua sujeira. Mas te investigo, te busco, te suspeito cúmplice de mim, não dele, porque a tua ajuda é a única que posso esperar, então insisto sempre se me entendes, e volto a perguntar então, me entendes? assim, me entendes, tu? agora, me entendes, ou nunca?
Era agradável quando a moça vinha com suas tabelas, seus gráficos e compassos para falar do movimento dos astros sobre as nossas cabeças, sábia e distraída, desenhando pirâmides, triângulos, esferas e losangos nos papéis quadriculados. Foi numa das primeiras vezes que ele tentou afastá-la, rindo grosso, como as pessoas costumam rir dessas coisas, preferindo sempre os porcos às aves. Foste tu quem me ajudou daquela vez, a fechar violento a boca dele até seus dentes se cerrarem a ponto de quebrar? Pois não era apenas meu aquele esforço, eu soube, e essa quem sabe tenha sido a primeira vez que te descobri existindo paralelo a mim e a ele. Ou não importam cronologias, se coexistias mesmo anterior à minha consciência de ti. Quanto à moça, continuava a vir, dizia sempre que quando a Lua transitasse por Aquário. Mas eu nunca soube de constelações: limitava-me a recebê-la, e parecia uma menina cheia de fé em tudo aquilo que suspeitava real, embora invisível.
Meus dias são sempre como uma véspera de partida. Movimento-me entre as pontas como quem sabe que daqui a pouco já não vai estar presente. As malas estão prontas, as despedidas foram feitas. Caminhando de um lado para outro na plataforma da estação, só me resta olhar as coisas lerdo e torvo, sem nenhuma emoção, nenhuma vontade de ficar. As janelas abrem para fora, os bancos parecem-se aos bancos e os vasos foram feitos para se colocar flores em seu oco. As coisas todas se parecem a si próprias. Nada modificará o estar das coisas no mundo, e a minha partida ontem, hoje ou amanhã, não mudará coisa alguma. Cada coisa se parece exatamente com cada coisa que ela é. Assim eu próprio, me parecendo a mim mesmo, de um lado para outro, entre cigarros sem sabor, jornais sangrentos e a certeza de que o único fato que poderia deter minha partida seria a tua aceitação deste convite: não queres me ajudar a matá-lo?
Houve um dia em que o homem não veio mais. E sem saber se teria sido eu, tu ou ele quem o afastara, nesse mesmo dia escrevi qualquer coisa como uma oração que me pareceu ridícula. Mas revisitando papéis antigos agora, ela pulsa como se tivesse sido apunhalada e, percebo, como se tivesse sido escrita também para ti, para ele e para mim. Assim:
eu não estou esperando por esse homem que não é só esse mas todos e nenhum como uma sede do que nunca bebi sem forma de águas apenas na estreiteza do aqui agora eu espero por ele desde que nasci e desde sempre soube que na hora da minha morte misturando memórias e delírios e antevisões um pouco antes a última coisa que perguntarei seria um mas onde está mas onde esteve esse tempo todo que me lanhei sem ti e para me alegrar depois quem sabe talvez enfim desista ou sorria lindo sem dentes sorria luminoso na escuridão da minha boca sorria vasto como nunca foi possível e cuspa qualquer coisa como então você esteve sempre aí uma vida de procuras sem te achar e silêncio para então morrer de morte morrida sem volta de vida gasta marcada de muitas cicatrizes de vida retalhada por muitos cortes mas nunca mortais a ponto de impedir este ridículo até na hora de minha morte amém.
Mas esta cara de mim, recém-desperta, revigorou-se aos poucos e sem suspiros, porque não há o que lamentar, e pensa crua, a cara descarada: pois não nos separamos, os três. Quando me julgo fora, estou dentro. E quando me suponho dentro, estou fora. De ti ou dele, de mim em mim, tríplice engastado, embora pareça confuso assim formulo, e me parece quase claro enquanto ruge a cidade longe e debruço este corpo de nós sobre os sete viadutos: tríplice engastado, tríplice entranhado, tríplice enlaçado. Tríplice inseparado para sempre, a morte de um é a morte de três, não quero que me ajudes a matá-lo porque mataria a ti e também a mim. E me recomponho, e te recomponho, e recomponho a ele, que é também eu e também tu.
A moça disse que a Lua passava por Escorpião, e contou: sem dentes, rasgado, fragmentos de vômito endurecido grudados nos pêlos do peito, o homem a perseguia. Antes que a tocasse, ela encontrou o animalzinho branco, de focinho rosado, e apanhando um pedaço de pau bateu, bateu e bateu até que o bicho se tornasse um mingau de sangue e ossos partidos e pêlos raros onde boiava um par de olhos abertos que não morriam. Eu contei: pelo tronco da árvore, de um lado a outro do precipício, eu atravessava. Foi quando parei, com medo do abismo. Não voltaria, nem iria em frente. Então olhei a parede do precipício e vi os cachos verdes de uvas e meu medo começou a passar porque eu não sentiria fome nem morreria pois logo viria a vindima, o tempo maduro das uvas. Oníricos, trocávamos sonhos os dois, os três, os quatro. E a fêmea emboscada no corpo da moça chamava por mim, por ti, por ele, sem se importar que fôssemos três. De nós três, ela sabia e queria. Antes de partir, ainda escreveu no papel cheio de gráficos, olhando para nós de um em um, guarda isso: o outro também se busca cego, o outro também e sempre é três.
Tempos depois - agora, para ser preciso percebo: é pelos corredores escuros do labirinto que caminhamos tateando, os três, à procura do vértice. Sei que não entendes, sei que ele também não entende. Do teu dia, quase não sei, mas sei do teu labirinto em ti, como sei do labirinto dele em mim, do meu labirinto em ti. E também não entendo.
Preciso parar. Estou cansado. Pela cabeça, essa luz que não sei se é compreensão ou loucura. É de mim, de ti ou dele que sai essa voz contando o sonho de ontem? Como se fosses tu, assim entras no teatro e te chamam dentro do sonho e te chamam para fazer o papel do sonho de alguém que não veio, e dizes que nunca viste a peça e nunca leste o texto e nada sabes de marcações intenções interiorizações e te dizem que não importa porque é só um sonho e um sonho não precisa ensaio, e já não sabes se começas a rir ou a gritar, então foges para encontrar o outro, mas o rosto da moça tem os olhos do homem e a boca da moça, os seios da moça são os seios da moça, aqueles mesmos, cujos bicos duros roçavam tua barba malfeita quando os beijavas, mas o sexo da moça é o sexo do homem, aquele mesmo que te inundava de esperma quente, e não sentes medo nem nojo, mas te afastas confuso e caminhas caminhas em busca do teatro para entrar em cena e desempenhar tão bem quanto possas o teu papel de sonho do sonho de outro, depois procuras procuras dentro do teatro, em pirâmides de estreitos corredores, e continuas procurando o palco, o vértice, a câmara real, a tua deixa, a tua marca, e antes de acordar não pensas, ou pensas, sim, eu não sei, ele não sabe, tu não sabes nem ninguém se de repente não estarás perdido nem não sabes o papel de cor, pois o palco é a procura do palco e o teu papel é não saber o papel e tudo está certo e a aparente desordem se ordena súbita e a grande ordem de todas as coisas é o caos girando desordenado assim como deve girar o caos, e assim mergulho eu e assim mergulhas tu e assim mergulha ele: a tontura de nossos seis passos equilibra-se instável e precisa sobre o fio da navalha. Mas - sei, sabes, sabemos as uvas talvez custem demais a amadurecer. E quase não temos tempo. Marcadores: Morangos Mofados
Para Celso Curi
Rói as unhas no momento em que abro a porta, a bolsa comprimida contra os seios. Como sempre, penso, ao deixá-la passar, cabeça baixa, para sentar-se no mesmo lugar, segundas e quintas, dezessete horas: como sempre. Fecho a porta, caminho até a poltrona à sua frente, sento, cruzo as pernas, tendo antes o cuidado de suspender as calças para que não se formem aquelas desagradáveis bolsas nos joelhos. Espero algum tempo. Ela não diz nada. Parece olhar fixamente as minhas meias. Tiro devagar os cigarros do bolso esquerdo do paletó, apanho um com a ponta dos dedos, sem tirar o maço do bolso, e fico batendo o filtro no braço da poltrona enquanto procuro o isqueiro no bolso pequeno da calça. Antes de acendê-lo, penso mais uma vez que não deveria usar esses isqueiros plásticos descartáveis. Alguém me disse que não-são-degradá. Não consigo lembrar quem, quando, nem onde ou por quê. Rodo o isqueiro maligno entre os dedos, depois acendo o cigarro. Então ela diz:
- Desculpe, mas acho que você está com as meias trocadas.
Geralmente um cigarro dura entre cinco e dez minutos. Como eu, para tranqüilizá-la, tento gastar o máximo de tempo possível fazendo coisas como fechar a porta, puxar as calças, pensar em isqueiros e ecologias, quase sempre ela fala somente quando termino o primeiro cigarro. Quase sempre depois que pergunto, com extremo cuidado, no que está pensando. Só então ela suspira, ergue os olhos, me olha de frente. Desta vez, porém, não suspira ao falar nas meias. Penso em dizer que acordei um pouco tarde demais, razoavelmente atrasado, e que. Mas prefiro perguntar lento:
- E isso te incomoda?
Ela contrai os ombros, de maneira que sobem até quase a altura das orelhas. Depois solta-os devagar, curvando-os para trás, convexos, como se fizesse uma massagem em si mesma:
- Não é que incomode, só que. Olha, para falar a verdade eu não me importo nem um pouco com as suas meias.
Solta a última frase rápido demais, como se estivesse querendo se ver logo livre dela, e fica à espera para ver o que digo. Mas eu não digo coisa alguma. Limito-me a dar outra tragada no cigarro, batendo a cinza no cinzeiro italiano trazido de Milão. Arrumo os óculos sobre o nariz, estes aros estilo nouvelle-vague precisam ser ajustados, sempre escorregando. Alguma cinza cai sobre minhas calças. Molho o indicador e o polegar para apanhá-la sem que se esfarele, jogo-a no cinzeiro. Ela espera. Olho fixamente para ela. Ela olha fixamente para mim, depois baixa os olhos enquanto seus ombros também tornam a subir e novamente a baixar. Quando chegam ao lugar normal, ela torna a erguer os olhos. Eu continuo esperando. Resolvo ajudá-la, pausado:
- Quer dizer então que você não se importa nem um pouco com as minhas meias?
Ela abre a boca sem falar.
- Não foi o que você disse?
Ela suspira. Estica as pernas, cruza os braços impaciente:
- Foi, foi. Mas o que eu quero mesmo dizer é que hoje não estou disposta a gastar. Gastar não, passar. Não se sinta agredido, não é isso. O que acontece é que. Eu não estou disposta a passar. Eu, eu aposto nas ameixas.
Sem entender, espero. Ela também tira um cigarro da bolsa. Remexe algum tempo, procurando fogo. Chego a estender meu isqueiro não degradável, mas ela já encontrou uma caixa de fósforos. Acende, sacode a chama no ar decidida:
- Escuta, hoje eu não estou disposta a passar aqui uma dessas suas horas de quarenta e cinco minutos discutindo as razões sub ou inconscientes de por que eu disse que você está com as meias trocadas, certo?
Eu bato o cigarro no cinzeiro.
- É que aconteceu uma coisa.
Eu descruzo as pernas.
- Uma coisa muito importante.
Eu olho o relógio suíço, passaram-se quinze minutos. Volto a encará-la, esperando que continue a falar. Não continua, mas olha fixo para mim, as faces coradas, olhar brilhante como se tivesse um pouco de febre. Espero um pouco mais. Agora que estou com as pernas descruzadas, basta estendê-las para ver a cor das meias. Chego a ficar tão curioso que faço um pequeno movimento para a frente. Talvez a bordô com friso branco, e a xadrez de preto e vermelho? A cinza do cigarro torna a cair sobre as calças, mas desta vez não é necessário molhar o indicador e o polegar para levá-la ao cinzeiro. Basta uma leve sacudidela para que caia sobre o tapete. Quando torno a olhar para ela seus olhos brilham tanto que, mais uma vez, tento ajudá-la. Calmo:
- Mas que coisa tão importante assim foi essa que te aconteceu?
Ela baixa a cabeça, murmura alguma coisa para si mesma em voz tão baixa que não consigo ouvir uma palavra.
- Como foi que você disse?
Ela apaga o cigarro, tensa:
- Quando vinha vindo para cá tropecei num caixão de defunto.
Se eu trouxesse muito lentamente uma das pernas até o lado direito da poltrona, dobrando um pouco o joelho, conseguiria ver a cor pelo menos de uma das meias. Mas ela continua:
- Quando dobrei a rua, daquele sobrado amarelo da esquina ia saindo um enterro. -Tira outro cigarro da bolsa. - Não, não foi assim. Antes, eu tinha comprado um quilo de ameixas. - Por um momento fica com dois cigarros nas mãos, um aceso, outro apagado. Depois acende um no outro. - Também não foi assim. Antes, ontem, eu dormi até quase as três horas da tarde de hoje. Então minha mãe me chamou para vir aqui.
Pára de falar, faz uma careta. Fico sem entender, até que ela apague o cigarro.
- Acendi o filtro, que merda.
Ela nunca disse um palavrão antes, penso.
- Escute.
Talvez a verde-musgo com losangos cinzentos? E no outro pé a cinza com debruns vermelhos?
- Eu vinha vindo para cá. Eu vinha vindo meio tonta, como sempre fico, assim meio tonta, meio aérea quando durmo tanto. E nem durmo, é mais uma coisa que parece assim. Que nem, sei lá. Foi numa dessas barraquinhas de frutas que eu vi. Eu vinha de cabeça baixa, umas ameixas tão vermelhas. Eu vinha pensando numa porção de coisas quando.
- Que coisas?
- Que coisas o quê?
- As que você vinha pensando.
- Ah.
Ela acende outro cigarro. Do lado certo. E fala soltando a fumaça:
- Sei lá, que eu ando. Muito triste. Uma merda, tudo isso. Mas não importa, não me interrompa agora. Deixa eu falar, por favor, deixa eu falar. Tem uma coisa dentro de mim que continua dormindo quando eu acordo, lá longe de mim. - Traga fundo. E solta a fumaça quase sem respirar. - Foi então que vi aquelas ameixas e achei tão bonitas e tão vermelhas que pedi um quilo e era minha última grana certo porque meus pais não me dão nada e daí eu pensei assim se comprar essas ameixas agora vou ter que voltar a pé para casa mas que importa volto a pé mesmo pode ser até que acorde um pouco e aquela coisa lá longe volte pra perto de mim e então eu vinha caminhando devagarinho as ameixas eu não conseguia parar de comer sabe já tinha comido acho que umas seis estava toda melada quando dobrei a esquina aqui da rua e ia saindo um caixão de defunto do sobrado amarelo na esquina certo acho que era um caixão cheio quer dizer com defunto dentro porque ia saindo e não entrando certo e foi bem na hora que eu dobrei não deu tempo de parar nem de desviar daí então eu tropecei no caixão e as ameixas todas caíram assim paf! na calçada e foi aí que eu reparei naquelas pessoas todas de preto e óculos escuros e lenços no nariz e uma porrada de coroas de flores devia ser um defunto muito rico certo e aquele carro fúnebre ali parado e só aí eu entendi que era um velório. Quer dizer, um enterro. O velório é antes, certo?
- É - confirmo. - O velório é antes.
- Ficou todo mundo parado, me olhando. Eu me abaixei e comecei a catar as ameixas na sarjeta. Eu não estava me importando que fosse um enterro e que tudo tivesse parado só por minha causa, certo? Apanhei uma por uma. Só depois que tinha guardado todas de volta no pacote é que as coisas começaram a se mexer de novo. Eu continuei vindo para cá, as pessoas continuaram carregando o caixão para o carro fúnebre. Mas primeiro ficou assim um minuto tudo parado, como uma fotografia, como quando você congela a cena no vídeo. Eu juntando as ameixas e aquelas pessoas todas ali paradas me olhando. Você está prestando atenção? Aquelas pessoas todas paradas me olhando e eu ali juntando as ameixas.
Ela pára de falar, fica olhando para mim. Depois repete:
- Me olhando, as pessoas. Eu, juntando as ameixas.
Ela apaga o cigarro. Olho o relógio, faltam quinze minutos. Acendo outro cigarro. Através da fumaça percebo que ela toca com cuidado alguma coisa dentro da bolsa, sem abri-la, por sobre o couro. Imagino que vá tirar mais um cigarro, mas ela nem chega a abrir a bolsa. Apenas toca nesse objeto no interior, distraída, com as pontas dos dedos de unhas roídas. Tão distante que preciso trazê-la de volta, firme:
- No que é que você está pensando?
Ela ri. Ela nunca riu antes, penso.
- Numa brincadeira besta que a gente tinha quando eu era mais guria. Aquela coisa de reunião dançante, cuba-libre, você sabe. - Tira o objeto de dentro da bolsa, mas permanece com ele fechado dentro da mão. - Faz tanto tempo que eu não bebo, tanto tempo que eu não danço. Tanto tempo, meu Deus, que eu não brinco. Será que ainda existe reunião dançante? E cuba-libre, será que existe? E aquela brincadeira, será que alguém ainda brinca? - Olha para mim. Imagino que o objeto em suas mãos deva ser uma caixa de fósforos. - Era meio sacana, mas uma sacanagem boba, meio juvenil, era assim. Uma pessoa tapa os olhos da gente com um lenço, depois aponta para outra pessoa e pergunta se você quer pêra, uva ou maçã. Pêra é um aperto de mão. Uva, um abraço. Maçã é um beijo na boca. - Ri de novo. E me olha enviesada. - Só que a gente dá um jeitinho de falar com a pessoa que pergunta e daí, quando ela aponta alguém que a gente tá a fim, dá um puxão disfarçado no lenço. Então a gente pede: maçã. - Enquanto fala, percebo que esfrega suavemente aquele objeto contra a blusa, sobre os seios. Sorri mais ao dizer: - Foi a primeira vez que eu beijei de língua.
Agora seus ombros estão um tanto baixos demais, quase curvos, côncavos. Os olhos brilham menos, começam a ficar meio enevoados. Acho que vai chorar, procuro com os olhos a caixa de lenços de papel. E que mais, penso em perguntar. Então ela endireita o corpo:
- Quanto tempo ainda falta?
Olho o relógio:
- Cinco minutos.
- Faltam cinco minutos, já no existem mais palavras - ela cantarola desafinada, com uma entonação que me parece irônica. - Tem uma música assim, não tem? Ou acabei de inventar, sei lá.
Continua a esfregar aquele objeto contra a blusa. O que será, penso sem interesse. Ela torna a olhar para as minhas meias. Talvez uma inteiramente branca, outra azul, listradinha de preto?
- Olha, antes de ir embora eu quero dizer a você que aposto nas ameixas. Foi isso que me veio na cabeça depois que saí caminhando. E quando entrei aqui no edifício, de costas para o enterro, o tempo todo, sem olhar para trás, no elevador, na sala de espera, quando entrei e sentei aqui, o tempo todo. - Os olhos brilham mais. Nunca ela me olhou tanto tempo de frente, antes. - Eu quero, certo? Eu preciso continuar apostando nas ameixas. Não sei se devo, também não sei se posso, se é. Permitido? Sei lá, acho que também não sei o que é dever ou poder, mas agora estou sabendo de um jeito muito claro o que é precisar, certo? E quando a gente precisa, não importa que seja proibido. Querer? - Interrompe-se como se eu tivesse feito uma pergunta. Mas eu não disse nada. - Querer a gente inventa.
Eu apago o cigarro. E bocejo sem querer.
- Ou não - ela diz levantando-se. Ela nunca levantou sem que eu dissesse bem-por-hoje-é-só, antes.
Eu levanto também, sem ter planejado. Isso nunca me aconteceu antes. Ela continua esfregando o objeto contra a blusa. Só quando interrompe o gesto, a mão estendida para mim, é que percebo. Trata-se de uma ameixa. Madura, cor de vinho tinto. De sangue, talvez. Ela caminha até a mesa, coloca-a sobre a agenda ao lado do telefone.
- Isto é para você.
- Obrigado - eu digo sem querer.
Ela arruma os cabelos com os dedos antes de sair.
- Feliz ano novo - diz, batendo a porta. Os olhos cintilam.
Mas estamos recém em setembro, penso em dizer. Apenas penso, ela já fechou a porta atrás de si. Torno a abri-la, mas não há mais ninguém na sala de espera além da secretária lixando as unhas. Fecho a porta outra vez e há um momento em que fico parado, ouvindo o barulho do relógio em contraponto com o ar-condicionado. Depois caminho até minha mesa. Toco a ameixa. A cor de sangue, de vinho, parece refletir-se na superfície polida das minhas unhas. É tão lustrosa que brilha, a casca estufada quase arrebentando pela pressão interna da polpa madura, que imagino amarela, sumarenta, estalando contra os dentes. Deixo a ameixa de lado e pego a agenda embaixo dela. Resolvo telefonar para seus pais, aconselhando que a internem novamente. Mas antes preciso ver a cor das minhas meias. Quem sabe a lilás, com pespontos azulmarinho? Os óculos tornam a escorregar para a ponta do nariz. Talvez a amarelinha de listras brancas? Não há tempo. A secretária começa a bater na porta, chegou o próximo cliente.
Marcadores: Morangos Mofados
Os dragões não conhecem o paraíso (1988)
Linda, ma história horrível
O destino desfolhou
a beira do mar aberto
sem Ana, blues
Saudade de Audrey Hepburn
O rapaz mais triste do mundo
Os sapatinhos vermelhos
Uma praiazinha de areia bem clara, ali, na beira da sanga
dama da noite
Mel & girassóis
A outra voz
Pequeno monstro
Os dragões não conhecem o paraíso
O destino desfolhou
a beira do mar aberto
sem Ana, blues
Saudade de Audrey Hepburn
O rapaz mais triste do mundo
Os sapatinhos vermelhos
Uma praiazinha de areia bem clara, ali, na beira da sanga
dama da noite
Mel & girassóis
A outra voz
Pequeno monstro
Os dragões não conhecem o paraíso
*Todos os contos estão disponíveis no blog
Marcadores: Os Dragoes nao conhecem o paraiso
Para
Ronaldo Pamplona da Costa
Ronaldo Pamplona da Costa
“São aqueles que vêm do nada
e partem para lugar nenhum.
Alguém que aparece de repente,
que ninguém sabe de onde veio nem para onde vai.
A man out of nowhere.”
e partem para lugar nenhum.
Alguém que aparece de repente,
que ninguém sabe de onde veio nem para onde vai.
A man out of nowhere.”
(Nelson Brissac Peixoto: Cenários em Ruínas)
UM AQUÁRIO de águas sujas, a noite e a névoa da noite onde eles navegam sem me ver, peixes cegos ignorantes de seu caminho inevitável em direção um ao outro e a mim. Pleno inverno gelado, agosto e madrugada na esquina da loja funerária eles navegam entre punks, mendigos, neons, prostitutas e gemidos de sintetizador eletrônico - sons, algas, águas - soltos no espaço que separa o bar maldito das trevas do par que na cidade que não é nem será mais a de um deles. Porque as cidades, como as pessoas ocasionais e os apartamentos alugados, foram feitas para serem abandonadas - reflete, enquanto navega.
Ele: esse homem de quase quarenta anos, começando a beber um pouco demais, não muito, só o suficiente para acender a emoção cansada, e a perder cabelo no alto da cabeça, não muito, mas o suficiente para algumas piadas patéticas. Sobre esse espaço vazio de cabelos no alto da cabeça caem as gotas de sereno, cristais de névoa, e por baixo dele acontecem certos pensamentos altos de noite, algum álcool e muita solidão. Ele acende um cigarro molhado, ele ergue a gola do impermeável cinza até as orelhas. Nesse gesto, a mão que segura o cigarro roça áspera na barba de três dias. Ele suspira, então, gelado.
Há muitas outras coisas que se poderia dizer sobre esse homem nesta noite turva, neste bar onde agora entra, na cidade que um dia foi a dele. Mas parado aqui, no fundo do mesmo bar em que ele entra, sem passado, porque não têm passado os homens de quase quarenta anos que caminham sozinhos pelas madrugadas - todas essas coisas um tanto vagas, um tanto tolas, são tudo o que posso dizer sobre ele. Assim magro, molhado, meio curvo de magreza, frio e estranhamento. O estranhamento típico dos homens de quase quarenta anos vagando pelas noites de cidades que, por terem deixado de ser as deles, tornaram-se ainda mais desconhecidas que qualquer outra.
O bar é igual a um longo corredor polonês. As paredes demarcadas - à direita de quem entra, mas à esquerda de onde contemplo - pelo balcão comprido e, do lado oposto, pela fila indiana de mesinhas ordinárias, fórmica imitando mármore. Nessa linha, estendida horizontal da porta de entrada até a juke-box do fundo onde estou e espio, ele se movimenta - magro, curvo, molhado - entre as pessoas enoveladas. Vestido de escuro, massa negra, monstro vomitado pelas ondas noturnas na areia suja do bar. Entre essas pessoas, embora vestido de cinza, ele parece todo branco.
O homem pede uma cerveja no balcão, depois se perde outra vez no meio das gentes. Alongando o pescoço, mal consigo acompanhar o topo da sua cabeça de homem alto, meio calvo, até que ele descubra a cadeira vazia na mesa onde está sentado aquele rapaz. E daqui onde estou, ao lado da máquina de música próxima ao corredor que afunda na luz mortiça dos banheiros imundos, posso vê-los e ouvi-los perfeitamente através do bafo de cerveja, desodorante sanitário e mijo que chegam juntos às nossas narinas.
Na máquina de música, para embalar esse encontro que eles ainda não perceberam que estão tendo, para ajudá-los a navegar melhor nisso que por enquanto não tem nome e poderiam sequer ver, se eu não ajudasse - escolherei lentos blues, solos sofridos de sax, pianos lentíssimos, à beira do êxtase, clarinetas ofegantes e vozes graves, negras vozes roucas ásperas de cigarros, mas aveludadas por goles de bourbom ou conhaque, para que tudo escorra dourado como a bebida de outras águas, não estas, tão turvas, de onde emergiram dois pobres peixes cegos da noite, para sempre ignorantes da minha presença aqui, junto à máquina de música, ao lado do corredor que leva aos banheiros imundos, a criar claridades impossíveis e a ninar com canções malditas esse encontro inesperado, tanto por eles, que navegam cegos, quanto por mim, pescador sem anzol debruçado sobre a água do espaço que me separa deles.
Aquele, aquele mesmo para onde meu olhar se dirige agora, aquele rapaz em frente ao qual o homem de impermeável cinza senta com sua cerveja. Exatamente esse: um rapaz de quase vinte anos, bebendo um pouco demais, não muito, como costumam beber esses rapazes de quase vinte anos que ainda desconhecem os limites e os perigos do jogo, com algumas espinhas, não muitas, sobras de adolescência espalhadas pelo rosto muito branco, entre fios dispersos da barba que ainda não encontrou aquela justa forma definitiva já arquitetada na cara dos homens de quase quarenta anos, como esse que está à frente dele. Por trás das espinhas, entre os fios da barba informe, acontecem certos pensamentos - densos de névoa, algum álcool e muita solidão. Aquele rapaz acende um cigarro molhado, aquele rapaz desce a gola do casaco preto, aquele rapaz afasta da lapela puída umas cinzas, uns fios de cabelo, poeiras, gotas, grilos. Depois suspira, gelado. Olha em volta como se não visse nada, ninguém. Nem sequer esse homem sentado à sua frente, que aparentemente também não o vê.
Há muitas outras coisas que se poderia dizer sobre aquele rapaz nesta noite sombria, na cidade que sempre foi a dele, neste bar onde agora está sentado à frente de um homem inteiramente desconhecido. Mas parado aqui no fundo do mesmo bar onde ele agora está sentado, com seu pequeno passado provavelmente melancólico e nenhum futuro, porque é sempre obscuro, quase invisível, o futuro dos rapazes de menos de vinte anos - todas essas coisas um tanto vagas, um tanto tolas, são tudo o que posso dizer sobre ele. Assim magro, molhado, meio curvo de magreza e frio. Com esse estranhamento típico dos rapazes que ainda não aprenderam nem os perigos nem os prazeres do jogo. Se é que se trata de um jogo.
Pudesse eu ser o grande Zeus Olimpo e destruiria a cidade com raios flamejantes só para viver o momento da luz elétrica do raio* - ele dirá, aquele rapaz, correspondendo à previsível arrogância de sua idade. Não agora. Por enquanto, não diz nada. Nem ele nem o homem de quase quarenta anos, sentados frente a frente na mesa à esquerda de onde estrategicamente espiono, junto à máquina de música, à direita de quem entra, surgidos do fundo do aquário de águas sujas da noite e da névoa na noite lá fora em que navegavam cegos e tontos, antes de entrarem neste bar. Antes que eu os sugasse com meus olhos ávidos dos encontros alheios, para dar-lhes vida, mesmo esta precária, de papel, onde Zeus Olimpo Oxalá Tupã também exercem seu poder sobre predestinados simulacros.
Não, não dizem nada. Há ruído suficiente em volta para poupar-lhes as palavras, quem sabe amargas. Talvez também, pelo avesso, leite intolerável para a garganta ardida de quem ronda as noites feito eles, feito eu, feito nós. Adiáveis as palavras deles. Não as minhas.
Por enquanto, olham em volta. Deliberadamente, não se
O bar é igual a um longo corredor polonês. As paredes demarcadas - à direita de quem entra, mas à esquerda de onde contemplo - pelo balcão comprido e, do lado oposto, pela fila indiana de mesinhas ordinárias, fórmica imitando mármore. Nessa linha, estendida horizontal da porta de entrada até a juke-box do fundo onde estou e espio, ele se movimenta - magro, curvo, molhado - entre as pessoas enoveladas. Vestido de escuro, massa negra, monstro vomitado pelas ondas noturnas na areia suja do bar. Entre essas pessoas, embora vestido de cinza, ele parece todo branco.
O homem pede uma cerveja no balcão, depois se perde outra vez no meio das gentes. Alongando o pescoço, mal consigo acompanhar o topo da sua cabeça de homem alto, meio calvo, até que ele descubra a cadeira vazia na mesa onde está sentado aquele rapaz. E daqui onde estou, ao lado da máquina de música próxima ao corredor que afunda na luz mortiça dos banheiros imundos, posso vê-los e ouvi-los perfeitamente através do bafo de cerveja, desodorante sanitário e mijo que chegam juntos às nossas narinas.
Na máquina de música, para embalar esse encontro que eles ainda não perceberam que estão tendo, para ajudá-los a navegar melhor nisso que por enquanto não tem nome e poderiam sequer ver, se eu não ajudasse - escolherei lentos blues, solos sofridos de sax, pianos lentíssimos, à beira do êxtase, clarinetas ofegantes e vozes graves, negras vozes roucas ásperas de cigarros, mas aveludadas por goles de bourbom ou conhaque, para que tudo escorra dourado como a bebida de outras águas, não estas, tão turvas, de onde emergiram dois pobres peixes cegos da noite, para sempre ignorantes da minha presença aqui, junto à máquina de música, ao lado do corredor que leva aos banheiros imundos, a criar claridades impossíveis e a ninar com canções malditas esse encontro inesperado, tanto por eles, que navegam cegos, quanto por mim, pescador sem anzol debruçado sobre a água do espaço que me separa deles.
Aquele, aquele mesmo para onde meu olhar se dirige agora, aquele rapaz em frente ao qual o homem de impermeável cinza senta com sua cerveja. Exatamente esse: um rapaz de quase vinte anos, bebendo um pouco demais, não muito, como costumam beber esses rapazes de quase vinte anos que ainda desconhecem os limites e os perigos do jogo, com algumas espinhas, não muitas, sobras de adolescência espalhadas pelo rosto muito branco, entre fios dispersos da barba que ainda não encontrou aquela justa forma definitiva já arquitetada na cara dos homens de quase quarenta anos, como esse que está à frente dele. Por trás das espinhas, entre os fios da barba informe, acontecem certos pensamentos - densos de névoa, algum álcool e muita solidão. Aquele rapaz acende um cigarro molhado, aquele rapaz desce a gola do casaco preto, aquele rapaz afasta da lapela puída umas cinzas, uns fios de cabelo, poeiras, gotas, grilos. Depois suspira, gelado. Olha em volta como se não visse nada, ninguém. Nem sequer esse homem sentado à sua frente, que aparentemente também não o vê.
Há muitas outras coisas que se poderia dizer sobre aquele rapaz nesta noite sombria, na cidade que sempre foi a dele, neste bar onde agora está sentado à frente de um homem inteiramente desconhecido. Mas parado aqui no fundo do mesmo bar onde ele agora está sentado, com seu pequeno passado provavelmente melancólico e nenhum futuro, porque é sempre obscuro, quase invisível, o futuro dos rapazes de menos de vinte anos - todas essas coisas um tanto vagas, um tanto tolas, são tudo o que posso dizer sobre ele. Assim magro, molhado, meio curvo de magreza e frio. Com esse estranhamento típico dos rapazes que ainda não aprenderam nem os perigos nem os prazeres do jogo. Se é que se trata de um jogo.
Pudesse eu ser o grande Zeus Olimpo e destruiria a cidade com raios flamejantes só para viver o momento da luz elétrica do raio* - ele dirá, aquele rapaz, correspondendo à previsível arrogância de sua idade. Não agora. Por enquanto, não diz nada. Nem ele nem o homem de quase quarenta anos, sentados frente a frente na mesa à esquerda de onde estrategicamente espiono, junto à máquina de música, à direita de quem entra, surgidos do fundo do aquário de águas sujas da noite e da névoa na noite lá fora em que navegavam cegos e tontos, antes de entrarem neste bar. Antes que eu os sugasse com meus olhos ávidos dos encontros alheios, para dar-lhes vida, mesmo esta precária, de papel, onde Zeus Olimpo Oxalá Tupã também exercem seu poder sobre predestinados simulacros.
Não, não dizem nada. Há ruído suficiente em volta para poupar-lhes as palavras, quem sabe amargas. Talvez também, pelo avesso, leite intolerável para a garganta ardida de quem ronda as noites feito eles, feito eu, feito nós. Adiáveis as palavras deles. Não as minhas.
Por enquanto, olham em volta. Deliberadamente, não se
(*) Um verso inédito de Antonio Augusto Caldasso Couto
encaram. Embora sejam os dois magros, meio curvos de tanta magreza, molhados da névoa lá de fora, embora um vista cinza e outro preto, como mandam os tempos, para não serem rejeitados, embora ambos bebam cervejas um tanto mornas, mas pouco importa neste bar o que se bebe, desde que se beba, e fumem cigarros igualmente amassados, viciosos cigarros tristes desses que só homens solitários e noturnos rebuscam nas madrugadas pelo fundo dos bolsos dos casacos, tenham eles vinte ou quarenta anos. Ou mais, ou menos homens solitários não tem idade. Embora gelados, tontos de álcool, hirtos de frio, lúcidos dessa solidão que persegue feito sina os homens sem passado nem futuro, nem mulher ou amigo, família nem bens - eles não se olham.
Eles se ignoram. Porque pressentem que - eu invento, sou Senhor de meu invento absurdo e estupidamente real, porque o vou vivendo nas veias agora, enquanto invento - se cederem à solidão um do outro, não sobrará mais espaço algum para fugas como alguma trepada bêbada com alguém de quem não se lembrará o rosto dois dias depois, o pó cheirado na curva da esquina, a mijada sacana ao lado do garçom ausente de conflitos, mas compreensivo com qualquer tipo de porre alheio, um baseado sôfrego na lama do parque. Coisas assim, você sabe? Eu, sim: amar o mesmo de si no outro às vezes acorrenta, mas quando os corpos se tocam as mentes conseguem voar para bem mais longe que o horizonte, que não se vê nunca daqui. No entanto, é claro lá: quando os corpos se tocam depois de amar o mesmo de si no outro.
Portanto, não se olham. E não sou eu quem decide, são eles. Não se deve olhar quando olhar significaria debruçar-se sobre um espelho talvez rachado. Que pode ferir, com seus cacos deformantes. Por isso mesmo hesito, então, entre jogar minha ficha em Bessie Smith ou Louis Armstrong (tudo é imaginário nesta noite, neste bar, nesta máquina de música repleta de outras facilidades mais em voga), para facilitar o fluxo, desimpedir o trânsito, para adoçar ou amargar as coisas, mesmo temendo que rapazes de menos de vinte anos não sejam ainda capazes de compreender tais abismos colonizados, negros requintes noturnos de vozes roucas contra o veludo azul a recobrir paredes de outro lugar que não este corredor polonês numa cidade provinciana cujo nome esqueci, esquecemos. Sofisticação, pose: fadiga e luvas de cano longo.
Minha, deles. Porque somos três e um. O que vê de fora, o que vê de longe, o que vê muito cedo. Este, antevisão. Os três, o mesmo susto. Vendo de dentro, emaranhados. Agora quatro?
Porque então começa. Mas começa tão banal - como é seu nome, qual o seu signo, quer outra cerveja, me dá um cigarro, não tenho grana, eu pago, pode deixar, fazendo o quê, por aí, vendo o que pinta, vem sempre aqui, faz tanto frio - que quase aperto o botão de outros sons que não aqueles que imagino, tão roucos, para que no grito tenso de um baixo elétrico possam chafurdar na estridência de cada noite. Mas subitamente os dois se compõem - esse homem de impermeável cinza, aquele rapaz de casaco preto, juntos na mesma mesa - e sem que eu esteja prevenido, embora estivesse, porque fui quem armou esta cilada, de repente eles se olham bem dentro e fundo dos olhos um do outro. Ao lado da massa negra, monstro marinho, no meio do cheiro de mijo e cerveja, por entre os azulejos brancos das paredes do bar, como um enorme banheiro cravado no centro da noite onde estão perdidos - eles se encontram e se olham.
Eles se reconhecem, finalmente eles aceitam se reconhecer. Eles acendem os cigarros amarrotados um do outro com segurança e certa ternura, ainda tímida. Eles dividem delicadamente uma cerveja em comum. Eles se contemplam com distância, precisão, método, ordem, disciplina. Sem surpresa nem desejo, porque esse rapaz de casaco preto, barba irregular e algumas espinhas não seria o homem que aquele homem de espaço vazio no alto da cabeça desejaria, se desejasse outros homens, e talvez deseje. Nem o oposto: aquele rapaz, mesmo sendo quem sabe capaz de tais ousadias, não desejaria esse homem através da palma da mão inventando loucuras no silêncio de seu quarto, certamente cheio de flâmulas, super-heróis, adesivos e todos esses vestígios do tempo que mal acabou de passar, quando é cedo demais para saber se se deseja, fatalmente, outro igual. Quem sabe sim. Mas este homem, aquele rapaz - não. É de outra forma que tudo acontece.
Eles se contemplam sem desejo. Eles se contemplam doces, desarmados, cúmplices, abandonados, pungentes, severos, companheiros. Apiedados. Eles armam palavras que chegam até mim em fragmentos partidos pelo ar que nos separa, em forma de interrogações mansas, hesitantes, perguntas que cercam com cautela e encantamento um reconhecimento que deixou de ser noturno para transformar-se em qualquer outra coisa a que ainda não dei nome, e não sei se darei, tão luminosa que ameaça cegar a mim também. Contenho o verbo, enquanto eles agora vêem o que mal começa a se desenhar, e eu acho belo.
O rapaz olha os próprios braços e diz: eu sou tão magro, vê? Quando abraço uma mina - ele fala assim mesmo, mina, e o homem pisca ligeiramente, discreto, para não sublinhar o abismo de quase vinte anos - fico olhando para os meus braços frágeis incapazes de abraçar com força uma mulher, e fico então imaginando músculos que não tenho, fico inventando forças, porque eu sou tão fraco, porque eu sou tão magro, porque eu sou tão novo. O rapaz olha em volta seco, nenhuma sombra de paixão em seu rosto muito branco, e diz ainda: eu quero me matar, eu não entendo estar vivo, eu não tenho pai, minha mãe me sacode todo dia e grita acorda, levanta, vadio, vai trabalhar. Eu quero ler poesia, eu nunca tive um amigo, eu nunca recebi uma carta. Fico caminhando à noite pelos bares, eu tenho medo de dormir, eu tenho medo de acordar, acabo jogando sinuca a madrugada toda e indo dormir quando o sol já está acordando e eu completamente bêbado. Eu nasci neste tempo em que tudo acabou, eu não tenho futuro, eu não acredito em nada - isso ele não diz, mas eu escuto, e o homem em frente dele também, e o bar inteiro também. Então o homem responde, com essa sabedoria meio composta que os homens de quase quarenta anos inevitavelmente conseguiram.
Ele, o homem, passa a palma da mão pelos cabelos ralos, como se acariciasse o tempo passado, e diz, o homem diz: não tenha medo, vai passar. Não tenha medo, menino. Você vai encontrar um jeito certo, embora não exista o jeito certo. Mas você vai encontrar o seu jeito, e é ele que importa. Se você souber segurar, pode até ser bonito. O homem tira a carteira do bolso, pede outra cerveja e um maço de cigarros novinhos, depois olha com olhos molhados para o rapaz e diz assim. Não, ele não diz nada. Ele olha com olhos molhados para o rapaz. Durante muito tempo, um homem de quase quarenta anos olha com olhos molhados para um rapaz de quase vinte anos, que ele nunca tinha visto antes, no meio de um bar no meio desta cidade que já não é mais a dele. Enquanto esse olhar acontece, e é demorado, o homem descobre o que eu também descubro, no mesmo momento.
Aquele rapaz de casaco preto, algumas espinhas, barba irregular e pele branca demais - este é o rapaz mais triste do mundo.
E para tornar todas essas coisas ainda mais ridículas, ou pelo menos improváveis, o amanhã que já é hoje será dia dos Pais. Atordoado por datas que nada significam para os que nada têm, sem nenhum filho, mais para reforçar o lado da solidão, o homem de quase quarenta anos começa a contar que veio de outra cidade para ver seu pai. E vai revelando então, naquele mesmo tom desolado do rapaz que agora e para sempre tornou-se o rapaz mais triste do mundo, igual ao que ele foi, mas não voltará a ser, embora jamais deixará de sê-lo, ele diz assim: eles não olham para mim, eles ficam lá naquela segurança armada de família que não admite nada nem ninguém capaz de perturbar o seu sossego falso, e não me olham, não me vêem, não me sabem. Me diluem, me invisibilizam, me limitam àquele limite insuportável do que eles escolheram suportar, e eu não suporto - você me entende?
O rapaz de menos de vinte anos quase não entende. Mas estende a mão por cima da mesa para tocar a mão do homem de quase quarenta anos. Os dedos da mão desse homem se fecham dentro e entre os dedos da mão daquele rapaz. Há tanta sede entre eles, entre nós.
Passou-se muito tempo. Vai amanhecer. O frio aumentou. O bar está meio vazio, quase fechando. Debruçado na caixa, o dono dorme. Gastei quase todas as minhas fichas: tudo é blues, azul e dor mansinha. Só me resta uma, que vou jogar certeiro em Tom Waits. Me preparo. Então - enquanto os garçons amontoam cadeiras em cima das mesas vazias, um pouco irritados comigo, que a tudo invento e alimento, e com esses dois caras estranhos, parecem dois veados de mãos dadas, perdidamente apaixonados por alguém que não é o outro, mas poderia ser, se ousassem tanto e não tivessem que partir - o homem segura com mais força nas duas mãos do rapaz mais triste do mundo. As quatro mãos se apertam, se aquecem, se misturam, se confortam. Não negro monstro marinho viscoso, vômito na manhã. Mas sim branca estrela do mar. Pentáculo, madrepérola. Ostra entreaberta exibindo a negra pérola arrancada da noite e da doença, puro blues. E diz, o homem diz:
- Você não existe. Eu não existo. Mas estou tão poderoso na minha sede que inventei a você para matar a minha sede imensa. Você está tão forte na sua fragilidade que inventou a mim para matar a sua sede exata. Nós nos inventamos um ao outro porque éramos tudo o que precisávamos para continuar vivendo. E porque nos inventamos, eu te confiro poder sobre o meu destino e você me confere poder sobre o teu destino. Você me dá seu futuro, eu te ofereço meu passado. Então e assim, somos presente, passado e futuro. Tempo infinito num sZ, esse é o eterno.
No bar de cadeiras amontoadas, resta apenas aquela mesa onde os dois permanecem sentados, alheios às ruínas do cenário. Do meu canto, espio. Deve haver alguma puta caída num canto, alguma bichinha masturbando um negro no banheiro. Eu não os vejo. Por enquanto e agora, não. Do meu canto, vejo somente esses homens diversos e iguais, as quatro mãos dadas sobre a mesinha ordinária, fórmica imitando mármore.
E é então que o rapaz conta que entregou flores o dia inteiro, que juntou algum dinheiro, batalhou cem paus, qualquer micharia assim, essas coisas de rapazes com menos de vinte anos - e faz questão, magnífico, de pagar a última cerveja. Tudo é último agora. Não há mais bares abertos na cidade. Uma luz vítrea começa a varar a névoa da noite onde eles ainda estão mergulhados junto comigo, com você, peixes míopes apertando os olhos para se verem de perto, em dose, e conseguem. Lindos, assustadores: as guelras fremem. O homem puxa outra vez sua carteira cheia de notas e cheques e cartões, dessas carteiras recheadas que só os homens de quase quarenta anos conseguiram conquistar, mas não significam nada em momentos assim. O rapaz insiste, o homem cede, guarda a carteira. O último garçom traz a última cerveja. Eu jogo minha última ficha na máquina de música, no último blues. Ninguém vê, ninguém ouve mais nada na manhã que chega para adormecer loucuras. Amanhã, você lembrará?
Ternos, pálidos, reais: eles se olham. Eles se acariciam mutuamente as mãos, depois os braços, os ombros, o pescoço, o rosto, os traços do rosto, os cabelos. Com essa doçura nascida entre dois homens sozinhos no meio de uma noite gelada, meio bêbados e sem nenhum outro recurso a não ser se amarem assim, mais apaixonadamente do que se amariam se estivessem à caça de outro corpo, igual ou diverso do deles - pouco importa, tudo é sede. De onde estou, vejo a alma dos dois brilhar. Amarelinho, violeta claro: dança sobre o lixo. Eles choram enquanto se acariciam. Um homem de quase quarenta anos e um rapaz de menos de vinte, sem idade os dois.
Eu sou os dois, eu sou os três, eu sou nós quatro. Esses dois que se encontram, esse três que espia e conta, esse quarto que escuta. Nós somos um - esse que procura sem encontrar e, quando encontra, não costuma suportar o encontro que desmente sua suposta sina. É preciso que não exista o que procura, caso contrário o roteiro teria que ser refeito para introduzir Tui, a Alegria. E a alegria é o lago, não o aquário turvo, névoa, palavras baças: Netuno, sinastrias. E talvez exista, sim, pelo menos para suprir a sede do tempo que se foi, do tempo que não veio, do tempo que se imagina, se inventa ou se calcula. Do tempo, enfim.
Eles se ignoram. Porque pressentem que - eu invento, sou Senhor de meu invento absurdo e estupidamente real, porque o vou vivendo nas veias agora, enquanto invento - se cederem à solidão um do outro, não sobrará mais espaço algum para fugas como alguma trepada bêbada com alguém de quem não se lembrará o rosto dois dias depois, o pó cheirado na curva da esquina, a mijada sacana ao lado do garçom ausente de conflitos, mas compreensivo com qualquer tipo de porre alheio, um baseado sôfrego na lama do parque. Coisas assim, você sabe? Eu, sim: amar o mesmo de si no outro às vezes acorrenta, mas quando os corpos se tocam as mentes conseguem voar para bem mais longe que o horizonte, que não se vê nunca daqui. No entanto, é claro lá: quando os corpos se tocam depois de amar o mesmo de si no outro.
Portanto, não se olham. E não sou eu quem decide, são eles. Não se deve olhar quando olhar significaria debruçar-se sobre um espelho talvez rachado. Que pode ferir, com seus cacos deformantes. Por isso mesmo hesito, então, entre jogar minha ficha em Bessie Smith ou Louis Armstrong (tudo é imaginário nesta noite, neste bar, nesta máquina de música repleta de outras facilidades mais em voga), para facilitar o fluxo, desimpedir o trânsito, para adoçar ou amargar as coisas, mesmo temendo que rapazes de menos de vinte anos não sejam ainda capazes de compreender tais abismos colonizados, negros requintes noturnos de vozes roucas contra o veludo azul a recobrir paredes de outro lugar que não este corredor polonês numa cidade provinciana cujo nome esqueci, esquecemos. Sofisticação, pose: fadiga e luvas de cano longo.
Minha, deles. Porque somos três e um. O que vê de fora, o que vê de longe, o que vê muito cedo. Este, antevisão. Os três, o mesmo susto. Vendo de dentro, emaranhados. Agora quatro?
Porque então começa. Mas começa tão banal - como é seu nome, qual o seu signo, quer outra cerveja, me dá um cigarro, não tenho grana, eu pago, pode deixar, fazendo o quê, por aí, vendo o que pinta, vem sempre aqui, faz tanto frio - que quase aperto o botão de outros sons que não aqueles que imagino, tão roucos, para que no grito tenso de um baixo elétrico possam chafurdar na estridência de cada noite. Mas subitamente os dois se compõem - esse homem de impermeável cinza, aquele rapaz de casaco preto, juntos na mesma mesa - e sem que eu esteja prevenido, embora estivesse, porque fui quem armou esta cilada, de repente eles se olham bem dentro e fundo dos olhos um do outro. Ao lado da massa negra, monstro marinho, no meio do cheiro de mijo e cerveja, por entre os azulejos brancos das paredes do bar, como um enorme banheiro cravado no centro da noite onde estão perdidos - eles se encontram e se olham.
Eles se reconhecem, finalmente eles aceitam se reconhecer. Eles acendem os cigarros amarrotados um do outro com segurança e certa ternura, ainda tímida. Eles dividem delicadamente uma cerveja em comum. Eles se contemplam com distância, precisão, método, ordem, disciplina. Sem surpresa nem desejo, porque esse rapaz de casaco preto, barba irregular e algumas espinhas não seria o homem que aquele homem de espaço vazio no alto da cabeça desejaria, se desejasse outros homens, e talvez deseje. Nem o oposto: aquele rapaz, mesmo sendo quem sabe capaz de tais ousadias, não desejaria esse homem através da palma da mão inventando loucuras no silêncio de seu quarto, certamente cheio de flâmulas, super-heróis, adesivos e todos esses vestígios do tempo que mal acabou de passar, quando é cedo demais para saber se se deseja, fatalmente, outro igual. Quem sabe sim. Mas este homem, aquele rapaz - não. É de outra forma que tudo acontece.
Eles se contemplam sem desejo. Eles se contemplam doces, desarmados, cúmplices, abandonados, pungentes, severos, companheiros. Apiedados. Eles armam palavras que chegam até mim em fragmentos partidos pelo ar que nos separa, em forma de interrogações mansas, hesitantes, perguntas que cercam com cautela e encantamento um reconhecimento que deixou de ser noturno para transformar-se em qualquer outra coisa a que ainda não dei nome, e não sei se darei, tão luminosa que ameaça cegar a mim também. Contenho o verbo, enquanto eles agora vêem o que mal começa a se desenhar, e eu acho belo.
O rapaz olha os próprios braços e diz: eu sou tão magro, vê? Quando abraço uma mina - ele fala assim mesmo, mina, e o homem pisca ligeiramente, discreto, para não sublinhar o abismo de quase vinte anos - fico olhando para os meus braços frágeis incapazes de abraçar com força uma mulher, e fico então imaginando músculos que não tenho, fico inventando forças, porque eu sou tão fraco, porque eu sou tão magro, porque eu sou tão novo. O rapaz olha em volta seco, nenhuma sombra de paixão em seu rosto muito branco, e diz ainda: eu quero me matar, eu não entendo estar vivo, eu não tenho pai, minha mãe me sacode todo dia e grita acorda, levanta, vadio, vai trabalhar. Eu quero ler poesia, eu nunca tive um amigo, eu nunca recebi uma carta. Fico caminhando à noite pelos bares, eu tenho medo de dormir, eu tenho medo de acordar, acabo jogando sinuca a madrugada toda e indo dormir quando o sol já está acordando e eu completamente bêbado. Eu nasci neste tempo em que tudo acabou, eu não tenho futuro, eu não acredito em nada - isso ele não diz, mas eu escuto, e o homem em frente dele também, e o bar inteiro também. Então o homem responde, com essa sabedoria meio composta que os homens de quase quarenta anos inevitavelmente conseguiram.
Ele, o homem, passa a palma da mão pelos cabelos ralos, como se acariciasse o tempo passado, e diz, o homem diz: não tenha medo, vai passar. Não tenha medo, menino. Você vai encontrar um jeito certo, embora não exista o jeito certo. Mas você vai encontrar o seu jeito, e é ele que importa. Se você souber segurar, pode até ser bonito. O homem tira a carteira do bolso, pede outra cerveja e um maço de cigarros novinhos, depois olha com olhos molhados para o rapaz e diz assim. Não, ele não diz nada. Ele olha com olhos molhados para o rapaz. Durante muito tempo, um homem de quase quarenta anos olha com olhos molhados para um rapaz de quase vinte anos, que ele nunca tinha visto antes, no meio de um bar no meio desta cidade que já não é mais a dele. Enquanto esse olhar acontece, e é demorado, o homem descobre o que eu também descubro, no mesmo momento.
Aquele rapaz de casaco preto, algumas espinhas, barba irregular e pele branca demais - este é o rapaz mais triste do mundo.
E para tornar todas essas coisas ainda mais ridículas, ou pelo menos improváveis, o amanhã que já é hoje será dia dos Pais. Atordoado por datas que nada significam para os que nada têm, sem nenhum filho, mais para reforçar o lado da solidão, o homem de quase quarenta anos começa a contar que veio de outra cidade para ver seu pai. E vai revelando então, naquele mesmo tom desolado do rapaz que agora e para sempre tornou-se o rapaz mais triste do mundo, igual ao que ele foi, mas não voltará a ser, embora jamais deixará de sê-lo, ele diz assim: eles não olham para mim, eles ficam lá naquela segurança armada de família que não admite nada nem ninguém capaz de perturbar o seu sossego falso, e não me olham, não me vêem, não me sabem. Me diluem, me invisibilizam, me limitam àquele limite insuportável do que eles escolheram suportar, e eu não suporto - você me entende?
O rapaz de menos de vinte anos quase não entende. Mas estende a mão por cima da mesa para tocar a mão do homem de quase quarenta anos. Os dedos da mão desse homem se fecham dentro e entre os dedos da mão daquele rapaz. Há tanta sede entre eles, entre nós.
Passou-se muito tempo. Vai amanhecer. O frio aumentou. O bar está meio vazio, quase fechando. Debruçado na caixa, o dono dorme. Gastei quase todas as minhas fichas: tudo é blues, azul e dor mansinha. Só me resta uma, que vou jogar certeiro em Tom Waits. Me preparo. Então - enquanto os garçons amontoam cadeiras em cima das mesas vazias, um pouco irritados comigo, que a tudo invento e alimento, e com esses dois caras estranhos, parecem dois veados de mãos dadas, perdidamente apaixonados por alguém que não é o outro, mas poderia ser, se ousassem tanto e não tivessem que partir - o homem segura com mais força nas duas mãos do rapaz mais triste do mundo. As quatro mãos se apertam, se aquecem, se misturam, se confortam. Não negro monstro marinho viscoso, vômito na manhã. Mas sim branca estrela do mar. Pentáculo, madrepérola. Ostra entreaberta exibindo a negra pérola arrancada da noite e da doença, puro blues. E diz, o homem diz:
- Você não existe. Eu não existo. Mas estou tão poderoso na minha sede que inventei a você para matar a minha sede imensa. Você está tão forte na sua fragilidade que inventou a mim para matar a sua sede exata. Nós nos inventamos um ao outro porque éramos tudo o que precisávamos para continuar vivendo. E porque nos inventamos, eu te confiro poder sobre o meu destino e você me confere poder sobre o teu destino. Você me dá seu futuro, eu te ofereço meu passado. Então e assim, somos presente, passado e futuro. Tempo infinito num sZ, esse é o eterno.
No bar de cadeiras amontoadas, resta apenas aquela mesa onde os dois permanecem sentados, alheios às ruínas do cenário. Do meu canto, espio. Deve haver alguma puta caída num canto, alguma bichinha masturbando um negro no banheiro. Eu não os vejo. Por enquanto e agora, não. Do meu canto, vejo somente esses homens diversos e iguais, as quatro mãos dadas sobre a mesinha ordinária, fórmica imitando mármore.
E é então que o rapaz conta que entregou flores o dia inteiro, que juntou algum dinheiro, batalhou cem paus, qualquer micharia assim, essas coisas de rapazes com menos de vinte anos - e faz questão, magnífico, de pagar a última cerveja. Tudo é último agora. Não há mais bares abertos na cidade. Uma luz vítrea começa a varar a névoa da noite onde eles ainda estão mergulhados junto comigo, com você, peixes míopes apertando os olhos para se verem de perto, em dose, e conseguem. Lindos, assustadores: as guelras fremem. O homem puxa outra vez sua carteira cheia de notas e cheques e cartões, dessas carteiras recheadas que só os homens de quase quarenta anos conseguiram conquistar, mas não significam nada em momentos assim. O rapaz insiste, o homem cede, guarda a carteira. O último garçom traz a última cerveja. Eu jogo minha última ficha na máquina de música, no último blues. Ninguém vê, ninguém ouve mais nada na manhã que chega para adormecer loucuras. Amanhã, você lembrará?
Ternos, pálidos, reais: eles se olham. Eles se acariciam mutuamente as mãos, depois os braços, os ombros, o pescoço, o rosto, os traços do rosto, os cabelos. Com essa doçura nascida entre dois homens sozinhos no meio de uma noite gelada, meio bêbados e sem nenhum outro recurso a não ser se amarem assim, mais apaixonadamente do que se amariam se estivessem à caça de outro corpo, igual ou diverso do deles - pouco importa, tudo é sede. De onde estou, vejo a alma dos dois brilhar. Amarelinho, violeta claro: dança sobre o lixo. Eles choram enquanto se acariciam. Um homem de quase quarenta anos e um rapaz de menos de vinte, sem idade os dois.
Eu sou os dois, eu sou os três, eu sou nós quatro. Esses dois que se encontram, esse três que espia e conta, esse quarto que escuta. Nós somos um - esse que procura sem encontrar e, quando encontra, não costuma suportar o encontro que desmente sua suposta sina. É preciso que não exista o que procura, caso contrário o roteiro teria que ser refeito para introduzir Tui, a Alegria. E a alegria é o lago, não o aquário turvo, névoa, palavras baças: Netuno, sinastrias. E talvez exista, sim, pelo menos para suprir a sede do tempo que se foi, do tempo que não veio, do tempo que se imagina, se inventa ou se calcula. Do tempo, enfim.
Esse estranho poder demiúrgico me deixa ainda mais tonto que eles, quando levantam e se abraçam demorada- mente à porta do bar, depois de pagarem a conta. Amantes, parentes, iguais: estranhos.
Então o rapaz se vai, porque tem outros caminhos, O homem fica, porque tem outros caminhos. Ele acompanha o vulto do rapaz que se vai, exatamente com o mesmo olhar com que acompanho o vulto desse homem parado por um instante à porta do bar. E não ficará, porque esta cidade não é mais a dele. O rapaz sim, ficará, porque é nesta mesma cidade que deve escolher essa coisa vaga - um caminho, um destino, uma história com agá -, se é que se escolhe alguma coisa, para depois matá-la, essa coisa vaga futura, quando for passado, se é que se mata alguma coisa. A voz rouca de Tom Waits repete e repete e repete que este é o tempo, e que haverá tempo, como num poema de T. S. Eliot, e sim, deve haver, certamente, enquanto o último garçom toca suave no ombro desse homem de impermeável cinza, cabelos rareando no alto da cabeça, quase quarenta anos, parado à porta do bar. Delicado, amigável, apontando o vulto do rapaz mais triste do mundo que se afasta para tomar o primeiro ônibus, o garçom pergunta:
- Ele é seu filho?
De onde estou, ao lado da máquina de música que emudece, sinto um inexplicável perfume de rosas frescas. Como se tivesse amanhecido e uma súbita primavera se instaurasse no parque em frente - nada contra as facilidades dos finais. Antes que o homem se vá, consigo vê-lo sorrir de manso e então mentir ao garçom dizendo sim, dizendo não, quem sabe. E o que disser, como eu, será verdade. Aqui de onde resto, sei que continuamos sendo três e quatro. Eu pai deles, eu filho deles, eu eles próprios, mais você: nós quatro, um único homem perdido na noite, afundado nesse aquário de águas sujas refletindo o brilho de neon. Peixe cego ignorante de meu caminho inevitável em direção ao outro que contemplo de longe, olhos molhados, sem coragem de tocá-lo. Alto de noite, certa loucura, algum álcool e muita solidão.
Então o rapaz se vai, porque tem outros caminhos, O homem fica, porque tem outros caminhos. Ele acompanha o vulto do rapaz que se vai, exatamente com o mesmo olhar com que acompanho o vulto desse homem parado por um instante à porta do bar. E não ficará, porque esta cidade não é mais a dele. O rapaz sim, ficará, porque é nesta mesma cidade que deve escolher essa coisa vaga - um caminho, um destino, uma história com agá -, se é que se escolhe alguma coisa, para depois matá-la, essa coisa vaga futura, quando for passado, se é que se mata alguma coisa. A voz rouca de Tom Waits repete e repete e repete que este é o tempo, e que haverá tempo, como num poema de T. S. Eliot, e sim, deve haver, certamente, enquanto o último garçom toca suave no ombro desse homem de impermeável cinza, cabelos rareando no alto da cabeça, quase quarenta anos, parado à porta do bar. Delicado, amigável, apontando o vulto do rapaz mais triste do mundo que se afasta para tomar o primeiro ônibus, o garçom pergunta:
- Ele é seu filho?
De onde estou, ao lado da máquina de música que emudece, sinto um inexplicável perfume de rosas frescas. Como se tivesse amanhecido e uma súbita primavera se instaurasse no parque em frente - nada contra as facilidades dos finais. Antes que o homem se vá, consigo vê-lo sorrir de manso e então mentir ao garçom dizendo sim, dizendo não, quem sabe. E o que disser, como eu, será verdade. Aqui de onde resto, sei que continuamos sendo três e quatro. Eu pai deles, eu filho deles, eu eles próprios, mais você: nós quatro, um único homem perdido na noite, afundado nesse aquário de águas sujas refletindo o brilho de neon. Peixe cego ignorante de meu caminho inevitável em direção ao outro que contemplo de longe, olhos molhados, sem coragem de tocá-lo. Alto de noite, certa loucura, algum álcool e muita solidão.
Quero mais um uísque, outra carreira. Tudo aos poucos vira dia e a vida - ah, a vida - pode ser medo e mel quando você se entrega e vê, mesmo de longe.
Não, não quero nem preciso nada se você me tocar. Estendo a mão.
Depois suspiro, gelado. E te abandono.
Não, não quero nem preciso nada se você me tocar. Estendo a mão.
Depois suspiro, gelado. E te abandono.
Marcadores: Os Dragoes nao conhecem o paraiso