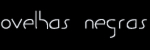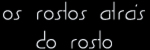Para
Rubens Rodrigues Tôrres Filho e o Marinheiro real, onde quer que navegue
Vede, vede, é dia já... Vede o dia... Fazei tudo por reparardes só no dia, no dia real, ali fora... Vede-o, vede-o... Ele consola... Não penseis, não olheis para o que pensais... Vede-o a vir o dia... Ele brilha como ouro, numa terra de prata. As leves nuvens arredondam-se à medida que se cobrem... Se nada existisse, minhas irmãs?... Se tudo fosse, de qualquer modo, absolutamente coisa nenhuma?
Fernando Pessoa: O marinheiro
Rubens Rodrigues Tôrres Filho e o Marinheiro real, onde quer que navegue
Vede, vede, é dia já... Vede o dia... Fazei tudo por reparardes só no dia, no dia real, ali fora... Vede-o, vede-o... Ele consola... Não penseis, não olheis para o que pensais... Vede-o a vir o dia... Ele brilha como ouro, numa terra de prata. As leves nuvens arredondam-se à medida que se cobrem... Se nada existisse, minhas irmãs?... Se tudo fosse, de qualquer modo, absolutamente coisa nenhuma?
Fernando Pessoa: O marinheiro
1
Me veio numa tarde de sábado. Não de agosto, como os antigos, embora comigo mesmo costumasse repetir que os agostos haviam invadido setembro, avançado sobre outubro até descobrir o novembro que ia em meio. Me veio numa tarde de sábado, em novembro. Em comum com os agostos de antes, a chuva. E bateu à porta, essa mesma que pintei inteira de amarelo para dar uma ilusão de luz às sombras desta casa. Tenho que ser preciso, tenho que refazer, e para isso preciso contar o que fazia antes.
Eu pintava os vidros das janelas com arabescos coloridos das tintas que saio às vezes para comprar. A casa é um pequeno sobrado com poucas vidraças, numa ruazinha toda feita de sobrados pequenos apertados entre outros sobrados pequenos, portanto, não há muitas vidraças, já que os dois lados estão inteiramente comprimidos entre duas outras casas. As vidraças da frente, na parte de baixo apenas uma janela e uma porta, dessas com um retângulo vertical de vidro, para que se possa ver o rosto de quem chega, antes de abri-la, estavam completamente pintadas. São formas quase sempre abstratas, uns círculos, uns triângulos, só de vez em quando intercaladas por outras mais precisas, um olho aberto, um peixe, uma estrela, em tons principalmente de roxo e amarelo.
Gosto de permanecer ali na sala em raros dias iluminados, sobretudo ao cair da tarde, quando os últimos raios de sol varam os vidros para espalhar cores sobre os objetos. São muitos objetos, tantos que freqüentemente penso que daqui a algum tempo será difícil movimentar-me aqui dentro, no espaço que se reduz, quase todos feitos por mim mesmo. Como já disse, pouco saio, uma certa renda sobre alguns imóveis deixados por meus pais me permite passar aqui dias inteiros, fazendo coisas com as mãos. Descobri faz algum tempo que as mãos se opõem à cabeça, e quando você movimenta aquelas, esta pode parar. Não sei se é uma grande descoberta, talvez não, mas de qualquer forma gosto quando a cabeça pára o maior tempo possível, caso contrário enche-se de temores, suspeitas, desejos, memórias e todas essas inutilidades que as cabeças guardam para deixar vir à tona quando as mãos estão desocupadas. Ocupo-as então, fazendo coisas que depois disponho pelos cantos.
Há longas tiras de pano colorido ou papel crepom penduradas do teto, pelas portas pendem cortinas, longos fios de contas ou sementes enfiadas em cordões que balançam emitindo sons nas poucas vezes em que abro as janelas para que entre o vento, restos de manequins, braços e pernas e troncos e cabeças que costumo recolher nas latas de lixo quando saio a caminhar, nas horas em que não há mais ninguém nas ruas, e cacos de louça, garrafas cheias de água de muitas cores, pedaços de caixotes que também pinto para que não pareçam demasiado crus, e ainda recortes de figuras ou velhas fotografias que vou colando pelas paredes, montes de palha, fitas, flores secas, sobretudo rosas, sobretudo vermelhas, cujas pétalas depois de mortas ganham uma tonalidade de sangue coagulado. Isso me pacifica.
Naquela tarde, porque chovia e não havia luz suficiente para que eu pudesse permanecer na sala, vendo as cores dos vidros desdobradas em outras sobre os objetos, tinha caminhado pela casa toda procurando algo para fazer. Cheguei a pensar em pintar as vidraças na porta do andar inferior, a que dá para o pátio interno, mas só depois de preparadas as tintas, as águas, os pincéis, percebi que não gostaria de permanecer ali sentado, vendo as poucas plantas incharem com a água da chuva, o caminho de pedras que leva até o tanque cobrindo-se de folhas caídas.
Foi então que subi para o quarto da frente, no andar superior, decidido a pintar os vidros que dão para a rua. Ë uma dessas janelas em forma de guilhotina, dividida em duas partes, cada uma delas com dois vidros retangulares, separados por uma tira estreita de madeira. Fiquei indeciso entre qual das quatro partes pintar primeiro, e acho que começava a escolher o segundo vidro, a contar de baixo para cima, pois é justamente o que dá para a casa em frente, e mais de uma vez surpreendi os vizinhos olhando aqui para dentro, as luzes apagadas, esperando descobrir qualquer coisa na minha vida que eles não compreendem.
Não sei quem são os vizinhos. Vejo alguns rapazes, algumas moças, mas tantos e sempre tão diferentes — na verdade não sei se diferentes ou os mesmos, apenas não presto muita atenção neles cada vez que os vejo, porque não me interessam. Como supunha que eu também não interessaria a eles. As cidades grandes como esta têm dessas coisas — você não precisa simular interesse algum pelas pessoas em volta, elas não exigem mais que um bom-dia, boa-tarde, boa-noite, às vezes nem isso, silêncio nas horas em que se costuma fazer silêncio, ruído nas horas em que usualmente se faz ruído. Não faço ruídos nem mesmo nessas horas: eliminei máquinas, televisões, rádios, embora goste de música. Mas quando quero ouvi-la, canto para mim mesmo quase sem voz um som irregular, cheio de altos e baixos, que vem do fundo da garganta, sem palavras. Talvez seja essa ausência de ruídos que os interessa, os vizinhos, ou quem sabe os intriga a muralha de vidros coloridos interposta entre o de-dentro de minha casa e o de-fora dela, não sei. Rindo um pouco comigo mesmo, porque a pintura do segundo vidro na janela do quarto dificultaria ainda mais a observação da minha vida, eu me preparava para começar o trabalho quando alguma coisa no segundo quarto me chamou.
Não sei mais há quanto tempo mantenho vazio o segundo quarto. Desde que se foi, não o que chegou na tarde de sábado, mas um outro que viveu ali faz algum tempo. Também não sei quando. Para isso teria que saber também a minha própria idade, mas não posso sabê-la desde que rasguei todos os documentos e começaram esses estranhos buracos na memória, ocultando lembranças importantes para deixar emergir outras ao acaso, como cenas isoladas, sem importância alguma, mas de extraordinária nitidez. Uma delas, que me enche de pânico cada vez que volta, sem que eu tenha controle algum sobre o seu aparecer ou desaparecer, é a imagem de uma mão humana segurando fortemente o ponto central entre duas asas brancas, tão brancas e grandes que imagino pertencerem a um cisne, uma garça ou outra dessas aves de pernas compridas que vivem nos banhados. As grandes asas brancas sem mancha alguma debatem-se com fúria e impotência enquanto essa mão as prende firmemente. Não chego a ver inteiramente os dedos, mergulhados nas penas. Vejo somente as falanges, depois as costas de uma mão grande, morena, forte, cheia de veias azuis estufadas de sangue pelo esforço. Talvez seja uma mão masculina, pois as bordas externas estão cobertas por uma vaga penugem escura, mas sempre penso que poderia também pertencer a uma dessas mulheres rudes do campo, não sei. Quase consigo ouvir os gritos da ave. Quando a lembrança é mais demorada, algumas penas voam em todas as direções. Tão nítidas que, se eu abrisse os olhos, imagino que poderia vê-las, as penas caindo pelos cantos, sobre meu corpo, sobre os objetos. Mas nunca abro.
De alguma forma essa cena costumava retornar com mais freqüência quando me olhava ao espelho, e foi talvez um pouco por isso que resolvi eliminá-los de casa. Sem querer vejo às vezes minha própria imagem refletida em alguma das vidraças ou no fundo de um copo, mas desvio logo os olhos. Mesmo assim posso perceber uma sombra difusa, parece cinza e longa. De certa forma, então, o que poderia dizer de mais exato se quisesse descrever a mim mesmo, seria algo assim: sou cinza e longo. Ou: é cinza e longo o que de mim obliquamente se reflete em certos vidros.
Mas falava no segundo quarto. Tentando agora recompor tudo que se passou antes da chegada dele naquele sábado de novembro, me ocorre que talvez tenha sido um rumor leve como o debater de asas que me levou até lá. Abandonei as tintas e caminhei em direção à porta. Desde que se foi, o outro, nunca mais consegui ultrapassar esse limite. Da porta que não ultrapasso posso ver as rachaduras nas quatro paredes, o piso riscado, a janela de vidraças sem pintura voltada para o pátio. Quase sempre vou me curvando lentamente para o chão enquanto tento virar do avesso um desses buracos na memória. E procuro, então, em vez do escuro, trazer de volta certa claridade e dentro dela a face, o jeito, quem sabe mesmo a voz ou o cheiro que o outro teve quando ocupou o segundo quarto e de certa forma também um determinado espaço nisso que, talvez impreciso, costumo chamar de a minha vida. Nunca consigo. Quando toco depois no meu próprio rosto e, no limite dos dedos, percebo sulcos fundos ou bruscas protuberâncias na superfície da pele, pergunto se não teriam nascido ou pelo menos começado a afundar depois daquela partida. Parece-me agora, tanto tempo depois, que as partidas-dolorosas, as amargas- separações, as perdas-irreparáveis costumam lavrar assim o rosto dos que ficam. E do buraco negro da memória que ocupa agora o espaço anteriormente ocupado por essa pessoa — sim, era uma pessoa que não lembro —, em vez de faces, jeitos, vozes, nomes, cheiros, formas, chegam-me somente emoções con fusa ou palavras como estas — doloroso, amargo, irreparável.
Eu estava então ali parado na porta aberta do quarto vazio, cheio de rachaduras nas paredes, piso riscado, vidros nus, já a me curvar em direção ao assoalho para tentar lembrar quando de repente tive certeza de que esse outro me abandonara no que eu poderia chamar de: a metade de minha vida. Portanto a idade que tenho agora, ou que tinha naquele sábado, deveria ser exatamente o dobro a idade contada a partir daquela perda. E de alguma forma, por ser justamente naquele sábado de chuva, em novembro, na tarde, essa perda — ou partida, ou ausência, ou separação, ou como queiram chamá-la — atingia seu justo dobro. Alguma coisa tinha sido inteiramente paga, como um ciclo se fecha, um trânsito ou uma lunação acabam, dando origem a outra que será completa até o seu reinício. Eu poderia pensar que a partir de então conseguiria entrar naquele quarto, vedar as rachaduras das paredes, pintar meticulosamente os vidros, enchê-lo de trapos e papéis e palha e cascas e flores secas, como as outras peças da casa, acabando com o seu deserto. Me ocorre, essa é outra coisa que poderia dizer de mim mesmo, quisesse ser preciso — além de cinza e longo —, tenho um quarto vazio por dentro. Pensando nisso, poderia quem sabe me sentir mais inteiro, como se à medida que fosse me apropriando de cada peça da casa, uma por uma, como quem finca uma bandeira em território novo, me tornasse também dono de novos territórios de mim mesmo. Mas não sei se saberia o que fazer com essa inteireza, possivelmente não me sentiria mais feliz com isso. Então para quê? fui pensando ali parado, sem querer admitir que por trás desses pensamentos escorria um outro, uma cobra silenciosa entre juncos de beira de rio, em mais uma das imagens que a memória costuma devolver inesperada. Sobre a grama verde-claro, úmida, entre juncos na beira do rio, desliza uma cobra que quase não consigo ver, tão misturada está a cor de sua pele à cor da grama e dos juncos. Não vejo também sua cabeça, nem a cauda. Somente a metade escorregadia, lentíssima, amassando suave a grama, contornando viscosa as hastes esguias dos juncos.
Enquanto meu corpo se curvava em direção ao piso, temi que voltassem as asas, a cobra. Mas chovia tanto que o ruído dos pingos abafaria por completo não só aquele quieto rastejar como também o debater violento das asas brancas. No entanto, o que vinha à tona, mais sinuoso que o movimento da cobra, mais branco que as asas, era um pensamento tão disparatado que eu não tinha coragem de dar-lhe forma.
Eu não queria mais ter esperanças, essa coisa gentil. Isso que chamo de minha vida, ou o que restava dela, e não deveria ser muito porque o passeio dos dedos pelo rosto revela sulcos cada vez mais fundos, estava creio que deliberadamente reduzido àquele subir e descer escadas, mexer nas tintas, recortar papéis, pintar vidraças, enfiar contas, caminhar às vezes pelas ruas esvaziadas de gentes tarde da noite. Eu tinha escolhido assim, num remoto dia qualquer em que deixei de acreditar, não lembraria quando, e isso era para sempre tanto quanto pode ser para sempre o que por estar vivo tem um coração que bate mas, imprevisto e fatal, um dia deixará de bater. Por não querer mais depositar esperanças em nada que pudesse vir de fora, já que de dentro nada mais viria, estava certo, além dessas imagens assustadoras da memória, curvei-me até o chão, uma das mãos na cabeça, como se segurasse o ponto de encontro entre duas asas, a outra procurando o assoalho, como se mergulhasse numa touceira espessa de juncos, até encontrar a grama molhada de beira de rio, tocando a pele fria daquela cobra.
Foi principalmente para não gritar — acabo sempre fazendo coisas para não gritar, como contar esta história —, já que o grito faria ruído e o ruído abalaria os vizinhos, esses mesmos que entram e saem, e com isso, se soubessem de mim que sou cinza e longo, e possivelmente sabem, pois deve ser justamente essa a silhueta que vêem através das vidraças, que tenho um quarto vazio, isso não descobririam, desde que jamais entrarão em minha casa, saberiam também que dou gritos em horas inesperadas. Para que ninguém soubesse mais nada de mim, deixei que ganhasse forma e viesse lentamente à tona aquele pensamento. Que não era exatamente um pensamento, mas algo mais fundo, como uma anunciação, um pressentimento. Alguma coisa muito dentro de mim dizia algo informe, sem palavras, que poderia talvez ser expresso como — o outro voltará.
Paro um pouco, agora. Fiquei exausto tentando dizer sem conseguir. Não sei se me estendo demasiado assim, mas é desse jeito que tudo surge, com enorme esforço para brotar, e brotando turvo, emaranhado, confuso. Contar é desemaranhar aos poucos, como quem retira um feto de entre vísceras e placentas, lavando-o depois do sangue, das secreções, para que se torne preciso, definido, inconfundível como uma pequena pessoa. O que conto agora é uma pequena pessoa, tentando nascer.
Talvez num novo outro, o outro antigo voltará. Foi assim que me veio — cobra, ave — na tarde de novembro. Mas em vez dessas imagens ou de outras, que também vêm às vezes, o que chegou junto com as palavras claras como se ditadas por alguém visível, tangível, solto dentro de casa, foi um cheiro a princípio sem nome. Um cheiro grosso, nem bom nem mau, um cheiro vivo de coisa em constante movimento, um cheiro vivo de coisa grande viva cheia de miúdas infinidades de outras coisas também vivas dentro dela. Custei a reconhecê-lo, há muito tempo não o vejo, e é mais difícil talvez identificar um cheiro ou um gosto de algo distante do que uma imagem. Não havia imagem. Era como o vento. Ardia na pele, feito tivesse sal. Tinha sal, esse vento que não era vento.
Era um cheiro de mar, reconheci por fim.
Talvez num novo outro, o outro antigo voltará. Junto com as palavras claras vinha um cheiro vivo de mar. Parado ali no chão, eu sentia que dentro de mim alguma coisa nova estava nascendo. Ou pressagiava o que viria também de fora e seria completo, pois são completas as coisas quando acontecem depois de anunciadas por dentro, criando um estado capaz de receber o que virá de fora. Como um telegrama, um telefonema, um aviso qualquer previamente anunciando a chegada, para que se possa arrumar a casa, tirar a poeira dos cantos, preparar a cama, trocar lençóis, limpar pratos, poltronas, recebendo o hóspede ao mesmo tempo desejado e inevitável.
Começava a anoitecer quando levantei do chão e voltei ao meu quarto. Em cima da cama estavam as tintas com que começaria a pintar os vidros. O cheiro de mar era tão intenso que pensei em abrir a janela para que o ar circulasse melhor, afastando-o dali. Com aquele cheiro suspenso, a casa parecia uma ilha, um navio seminaufragado, um farol. Foi quando levei as mãos à parte de baixo da guilhotina para erguê-la, que eu o vi dobrando a esquina para aproximar-se da casa. Continuava chovendo sem parar, a luz do crepúsculo por trás das gotas de chuva tornava ainda mais vagos os contornos dos objetos. Mesmo assim tive certeza.
As mãos nos bolsos, vestido de branco, o marinheiro dobrava lentamente a esquina da rua, como se não se importasse com a chuva.
Na casa em frente havia música e movimento. Por um momento então quis me enganar imaginando que ele bateria naquela porta, não na minha. Porque eu não conhecia nenhum marinheiro, porque eu não recebia visitas, porque há muito tempo havia afastado disso que chamo a minha vida toda e qualquer pessoa que pudesse bater à porta numa tarde de sábado assim inesperada, porque nesta cidade sequer existe mar, porque afinal o resto do caminho não só estava traçado como era inabalável. Entre aqueles trapos, aquelas contas, aquelas cores, sem nunca ver de perto um outro rosto humano, a não ser numa cruzada ocasional tarde da noite, pelas ruas, com algum desconhecido sem importância, sem encarar de frente sequer meu próprio rosto, a tal ponto me desgostavam o humano de mim e dos outros, próximos ou distantes, e de todos. Dentro do marinheiro que vinha pela chuva havia uma coisa humana ameaçadora, estrelada, dobrando a esquina, ignorando as luzes, a música, os movimentos da casa em frente para atravessar a rua e, detendo-se sob minha janela, bater à porta.
O cheiro de mar tornou-se mais forte quando ouvi as primeiras batidas. Contraí os olhos feridos pelo ar subitamente mais salgado. Com as duas mãos espalmadas contra o vidro, eu estava suspenso entre algo que começava a fechar-se e algo que terminava de abrir-se. As batidas continuavam. Eu precisava fazer alguma coisa, talvez descer as escadas, abrir a porta, deixar que entrasse. Ao fazer qualquer uma dessas coisas teria de aceitar que algo se fechara, e abrir a porta para que o marinheiro entrasse seria também permitir que esse outro algo terminasse de abrir-se, me levando para um caminho imprevisto.
Como eu demorava a atender, lá embaixo ele recuou um pouco e olhou para cima. Então me viu. Ele viu meu rosto, esse mesmo que já não sei a forma. Eu vi seu rosto que não identifiquei, molhado pela chuva, esperando uma resposta.
Tive medo que as asas ou a cobra pudessem me impedir de começar a descer as escadas. Mas nada aconteceu. Em vez dessas, uma nova visão me tomou no primeiro degrau. De um espaço aberto como o convés de um navio eu podia ver na linha do horizonte, atrás de outro navio seminaufragado entre rochas de coral vermelho, uma ilha pedregosa com uma baía de areias tão claras que brilhavam na luz do sol. Havia sol também, descobri enquanto avançava, não só porque as areias brilhavam mas porque brilhava também a água do mar, cheia de cintilações como diamantes miúdos na crista das ondas quebrando na praia da ilha. Mais além da praia percebi sobre uma elevação um farol apagado, porque era dia, erguendo-se quase desafiador contra o céu, continuei a ver, inteiramente azul, sem nenhuma nuvem. O ar tão limpo que pisquei, retinas machucadas pelo excesso de luz.
Quando tornei a abrir os olhos, tinha acabado de descer a escada e olhava uma silhueta esbranquiçada atrás dos roxos-amarelos pintados no pequeno retângulo vertical de vidro da porta de entrada. Pensei em abri-lo, para entender o rosto que vinha antes de permitir sua entrada. Não consegui. Quase cego pelo verde do mar, pelo cristal branco da areia, pelo azul do céu que acabara de ver, pela transparência do ar, estendi a mão, dei a volta na chave e abri a porta.
Me veio numa tarde de sábado. Não de agosto, como os antigos, embora comigo mesmo costumasse repetir que os agostos haviam invadido setembro, avançado sobre outubro até descobrir o novembro que ia em meio. Me veio numa tarde de sábado, em novembro. Em comum com os agostos de antes, a chuva. E bateu à porta, essa mesma que pintei inteira de amarelo para dar uma ilusão de luz às sombras desta casa. Tenho que ser preciso, tenho que refazer, e para isso preciso contar o que fazia antes.
Eu pintava os vidros das janelas com arabescos coloridos das tintas que saio às vezes para comprar. A casa é um pequeno sobrado com poucas vidraças, numa ruazinha toda feita de sobrados pequenos apertados entre outros sobrados pequenos, portanto, não há muitas vidraças, já que os dois lados estão inteiramente comprimidos entre duas outras casas. As vidraças da frente, na parte de baixo apenas uma janela e uma porta, dessas com um retângulo vertical de vidro, para que se possa ver o rosto de quem chega, antes de abri-la, estavam completamente pintadas. São formas quase sempre abstratas, uns círculos, uns triângulos, só de vez em quando intercaladas por outras mais precisas, um olho aberto, um peixe, uma estrela, em tons principalmente de roxo e amarelo.
Gosto de permanecer ali na sala em raros dias iluminados, sobretudo ao cair da tarde, quando os últimos raios de sol varam os vidros para espalhar cores sobre os objetos. São muitos objetos, tantos que freqüentemente penso que daqui a algum tempo será difícil movimentar-me aqui dentro, no espaço que se reduz, quase todos feitos por mim mesmo. Como já disse, pouco saio, uma certa renda sobre alguns imóveis deixados por meus pais me permite passar aqui dias inteiros, fazendo coisas com as mãos. Descobri faz algum tempo que as mãos se opõem à cabeça, e quando você movimenta aquelas, esta pode parar. Não sei se é uma grande descoberta, talvez não, mas de qualquer forma gosto quando a cabeça pára o maior tempo possível, caso contrário enche-se de temores, suspeitas, desejos, memórias e todas essas inutilidades que as cabeças guardam para deixar vir à tona quando as mãos estão desocupadas. Ocupo-as então, fazendo coisas que depois disponho pelos cantos.
Há longas tiras de pano colorido ou papel crepom penduradas do teto, pelas portas pendem cortinas, longos fios de contas ou sementes enfiadas em cordões que balançam emitindo sons nas poucas vezes em que abro as janelas para que entre o vento, restos de manequins, braços e pernas e troncos e cabeças que costumo recolher nas latas de lixo quando saio a caminhar, nas horas em que não há mais ninguém nas ruas, e cacos de louça, garrafas cheias de água de muitas cores, pedaços de caixotes que também pinto para que não pareçam demasiado crus, e ainda recortes de figuras ou velhas fotografias que vou colando pelas paredes, montes de palha, fitas, flores secas, sobretudo rosas, sobretudo vermelhas, cujas pétalas depois de mortas ganham uma tonalidade de sangue coagulado. Isso me pacifica.
Naquela tarde, porque chovia e não havia luz suficiente para que eu pudesse permanecer na sala, vendo as cores dos vidros desdobradas em outras sobre os objetos, tinha caminhado pela casa toda procurando algo para fazer. Cheguei a pensar em pintar as vidraças na porta do andar inferior, a que dá para o pátio interno, mas só depois de preparadas as tintas, as águas, os pincéis, percebi que não gostaria de permanecer ali sentado, vendo as poucas plantas incharem com a água da chuva, o caminho de pedras que leva até o tanque cobrindo-se de folhas caídas.
Foi então que subi para o quarto da frente, no andar superior, decidido a pintar os vidros que dão para a rua. Ë uma dessas janelas em forma de guilhotina, dividida em duas partes, cada uma delas com dois vidros retangulares, separados por uma tira estreita de madeira. Fiquei indeciso entre qual das quatro partes pintar primeiro, e acho que começava a escolher o segundo vidro, a contar de baixo para cima, pois é justamente o que dá para a casa em frente, e mais de uma vez surpreendi os vizinhos olhando aqui para dentro, as luzes apagadas, esperando descobrir qualquer coisa na minha vida que eles não compreendem.
Não sei quem são os vizinhos. Vejo alguns rapazes, algumas moças, mas tantos e sempre tão diferentes — na verdade não sei se diferentes ou os mesmos, apenas não presto muita atenção neles cada vez que os vejo, porque não me interessam. Como supunha que eu também não interessaria a eles. As cidades grandes como esta têm dessas coisas — você não precisa simular interesse algum pelas pessoas em volta, elas não exigem mais que um bom-dia, boa-tarde, boa-noite, às vezes nem isso, silêncio nas horas em que se costuma fazer silêncio, ruído nas horas em que usualmente se faz ruído. Não faço ruídos nem mesmo nessas horas: eliminei máquinas, televisões, rádios, embora goste de música. Mas quando quero ouvi-la, canto para mim mesmo quase sem voz um som irregular, cheio de altos e baixos, que vem do fundo da garganta, sem palavras. Talvez seja essa ausência de ruídos que os interessa, os vizinhos, ou quem sabe os intriga a muralha de vidros coloridos interposta entre o de-dentro de minha casa e o de-fora dela, não sei. Rindo um pouco comigo mesmo, porque a pintura do segundo vidro na janela do quarto dificultaria ainda mais a observação da minha vida, eu me preparava para começar o trabalho quando alguma coisa no segundo quarto me chamou.
Não sei mais há quanto tempo mantenho vazio o segundo quarto. Desde que se foi, não o que chegou na tarde de sábado, mas um outro que viveu ali faz algum tempo. Também não sei quando. Para isso teria que saber também a minha própria idade, mas não posso sabê-la desde que rasguei todos os documentos e começaram esses estranhos buracos na memória, ocultando lembranças importantes para deixar emergir outras ao acaso, como cenas isoladas, sem importância alguma, mas de extraordinária nitidez. Uma delas, que me enche de pânico cada vez que volta, sem que eu tenha controle algum sobre o seu aparecer ou desaparecer, é a imagem de uma mão humana segurando fortemente o ponto central entre duas asas brancas, tão brancas e grandes que imagino pertencerem a um cisne, uma garça ou outra dessas aves de pernas compridas que vivem nos banhados. As grandes asas brancas sem mancha alguma debatem-se com fúria e impotência enquanto essa mão as prende firmemente. Não chego a ver inteiramente os dedos, mergulhados nas penas. Vejo somente as falanges, depois as costas de uma mão grande, morena, forte, cheia de veias azuis estufadas de sangue pelo esforço. Talvez seja uma mão masculina, pois as bordas externas estão cobertas por uma vaga penugem escura, mas sempre penso que poderia também pertencer a uma dessas mulheres rudes do campo, não sei. Quase consigo ouvir os gritos da ave. Quando a lembrança é mais demorada, algumas penas voam em todas as direções. Tão nítidas que, se eu abrisse os olhos, imagino que poderia vê-las, as penas caindo pelos cantos, sobre meu corpo, sobre os objetos. Mas nunca abro.
De alguma forma essa cena costumava retornar com mais freqüência quando me olhava ao espelho, e foi talvez um pouco por isso que resolvi eliminá-los de casa. Sem querer vejo às vezes minha própria imagem refletida em alguma das vidraças ou no fundo de um copo, mas desvio logo os olhos. Mesmo assim posso perceber uma sombra difusa, parece cinza e longa. De certa forma, então, o que poderia dizer de mais exato se quisesse descrever a mim mesmo, seria algo assim: sou cinza e longo. Ou: é cinza e longo o que de mim obliquamente se reflete em certos vidros.
Mas falava no segundo quarto. Tentando agora recompor tudo que se passou antes da chegada dele naquele sábado de novembro, me ocorre que talvez tenha sido um rumor leve como o debater de asas que me levou até lá. Abandonei as tintas e caminhei em direção à porta. Desde que se foi, o outro, nunca mais consegui ultrapassar esse limite. Da porta que não ultrapasso posso ver as rachaduras nas quatro paredes, o piso riscado, a janela de vidraças sem pintura voltada para o pátio. Quase sempre vou me curvando lentamente para o chão enquanto tento virar do avesso um desses buracos na memória. E procuro, então, em vez do escuro, trazer de volta certa claridade e dentro dela a face, o jeito, quem sabe mesmo a voz ou o cheiro que o outro teve quando ocupou o segundo quarto e de certa forma também um determinado espaço nisso que, talvez impreciso, costumo chamar de a minha vida. Nunca consigo. Quando toco depois no meu próprio rosto e, no limite dos dedos, percebo sulcos fundos ou bruscas protuberâncias na superfície da pele, pergunto se não teriam nascido ou pelo menos começado a afundar depois daquela partida. Parece-me agora, tanto tempo depois, que as partidas-dolorosas, as amargas- separações, as perdas-irreparáveis costumam lavrar assim o rosto dos que ficam. E do buraco negro da memória que ocupa agora o espaço anteriormente ocupado por essa pessoa — sim, era uma pessoa que não lembro —, em vez de faces, jeitos, vozes, nomes, cheiros, formas, chegam-me somente emoções con fusa ou palavras como estas — doloroso, amargo, irreparável.
Eu estava então ali parado na porta aberta do quarto vazio, cheio de rachaduras nas paredes, piso riscado, vidros nus, já a me curvar em direção ao assoalho para tentar lembrar quando de repente tive certeza de que esse outro me abandonara no que eu poderia chamar de: a metade de minha vida. Portanto a idade que tenho agora, ou que tinha naquele sábado, deveria ser exatamente o dobro a idade contada a partir daquela perda. E de alguma forma, por ser justamente naquele sábado de chuva, em novembro, na tarde, essa perda — ou partida, ou ausência, ou separação, ou como queiram chamá-la — atingia seu justo dobro. Alguma coisa tinha sido inteiramente paga, como um ciclo se fecha, um trânsito ou uma lunação acabam, dando origem a outra que será completa até o seu reinício. Eu poderia pensar que a partir de então conseguiria entrar naquele quarto, vedar as rachaduras das paredes, pintar meticulosamente os vidros, enchê-lo de trapos e papéis e palha e cascas e flores secas, como as outras peças da casa, acabando com o seu deserto. Me ocorre, essa é outra coisa que poderia dizer de mim mesmo, quisesse ser preciso — além de cinza e longo —, tenho um quarto vazio por dentro. Pensando nisso, poderia quem sabe me sentir mais inteiro, como se à medida que fosse me apropriando de cada peça da casa, uma por uma, como quem finca uma bandeira em território novo, me tornasse também dono de novos territórios de mim mesmo. Mas não sei se saberia o que fazer com essa inteireza, possivelmente não me sentiria mais feliz com isso. Então para quê? fui pensando ali parado, sem querer admitir que por trás desses pensamentos escorria um outro, uma cobra silenciosa entre juncos de beira de rio, em mais uma das imagens que a memória costuma devolver inesperada. Sobre a grama verde-claro, úmida, entre juncos na beira do rio, desliza uma cobra que quase não consigo ver, tão misturada está a cor de sua pele à cor da grama e dos juncos. Não vejo também sua cabeça, nem a cauda. Somente a metade escorregadia, lentíssima, amassando suave a grama, contornando viscosa as hastes esguias dos juncos.
Enquanto meu corpo se curvava em direção ao piso, temi que voltassem as asas, a cobra. Mas chovia tanto que o ruído dos pingos abafaria por completo não só aquele quieto rastejar como também o debater violento das asas brancas. No entanto, o que vinha à tona, mais sinuoso que o movimento da cobra, mais branco que as asas, era um pensamento tão disparatado que eu não tinha coragem de dar-lhe forma.
Eu não queria mais ter esperanças, essa coisa gentil. Isso que chamo de minha vida, ou o que restava dela, e não deveria ser muito porque o passeio dos dedos pelo rosto revela sulcos cada vez mais fundos, estava creio que deliberadamente reduzido àquele subir e descer escadas, mexer nas tintas, recortar papéis, pintar vidraças, enfiar contas, caminhar às vezes pelas ruas esvaziadas de gentes tarde da noite. Eu tinha escolhido assim, num remoto dia qualquer em que deixei de acreditar, não lembraria quando, e isso era para sempre tanto quanto pode ser para sempre o que por estar vivo tem um coração que bate mas, imprevisto e fatal, um dia deixará de bater. Por não querer mais depositar esperanças em nada que pudesse vir de fora, já que de dentro nada mais viria, estava certo, além dessas imagens assustadoras da memória, curvei-me até o chão, uma das mãos na cabeça, como se segurasse o ponto de encontro entre duas asas, a outra procurando o assoalho, como se mergulhasse numa touceira espessa de juncos, até encontrar a grama molhada de beira de rio, tocando a pele fria daquela cobra.
Foi principalmente para não gritar — acabo sempre fazendo coisas para não gritar, como contar esta história —, já que o grito faria ruído e o ruído abalaria os vizinhos, esses mesmos que entram e saem, e com isso, se soubessem de mim que sou cinza e longo, e possivelmente sabem, pois deve ser justamente essa a silhueta que vêem através das vidraças, que tenho um quarto vazio, isso não descobririam, desde que jamais entrarão em minha casa, saberiam também que dou gritos em horas inesperadas. Para que ninguém soubesse mais nada de mim, deixei que ganhasse forma e viesse lentamente à tona aquele pensamento. Que não era exatamente um pensamento, mas algo mais fundo, como uma anunciação, um pressentimento. Alguma coisa muito dentro de mim dizia algo informe, sem palavras, que poderia talvez ser expresso como — o outro voltará.
Paro um pouco, agora. Fiquei exausto tentando dizer sem conseguir. Não sei se me estendo demasiado assim, mas é desse jeito que tudo surge, com enorme esforço para brotar, e brotando turvo, emaranhado, confuso. Contar é desemaranhar aos poucos, como quem retira um feto de entre vísceras e placentas, lavando-o depois do sangue, das secreções, para que se torne preciso, definido, inconfundível como uma pequena pessoa. O que conto agora é uma pequena pessoa, tentando nascer.
Talvez num novo outro, o outro antigo voltará. Foi assim que me veio — cobra, ave — na tarde de novembro. Mas em vez dessas imagens ou de outras, que também vêm às vezes, o que chegou junto com as palavras claras como se ditadas por alguém visível, tangível, solto dentro de casa, foi um cheiro a princípio sem nome. Um cheiro grosso, nem bom nem mau, um cheiro vivo de coisa em constante movimento, um cheiro vivo de coisa grande viva cheia de miúdas infinidades de outras coisas também vivas dentro dela. Custei a reconhecê-lo, há muito tempo não o vejo, e é mais difícil talvez identificar um cheiro ou um gosto de algo distante do que uma imagem. Não havia imagem. Era como o vento. Ardia na pele, feito tivesse sal. Tinha sal, esse vento que não era vento.
Era um cheiro de mar, reconheci por fim.
Talvez num novo outro, o outro antigo voltará. Junto com as palavras claras vinha um cheiro vivo de mar. Parado ali no chão, eu sentia que dentro de mim alguma coisa nova estava nascendo. Ou pressagiava o que viria também de fora e seria completo, pois são completas as coisas quando acontecem depois de anunciadas por dentro, criando um estado capaz de receber o que virá de fora. Como um telegrama, um telefonema, um aviso qualquer previamente anunciando a chegada, para que se possa arrumar a casa, tirar a poeira dos cantos, preparar a cama, trocar lençóis, limpar pratos, poltronas, recebendo o hóspede ao mesmo tempo desejado e inevitável.
Começava a anoitecer quando levantei do chão e voltei ao meu quarto. Em cima da cama estavam as tintas com que começaria a pintar os vidros. O cheiro de mar era tão intenso que pensei em abrir a janela para que o ar circulasse melhor, afastando-o dali. Com aquele cheiro suspenso, a casa parecia uma ilha, um navio seminaufragado, um farol. Foi quando levei as mãos à parte de baixo da guilhotina para erguê-la, que eu o vi dobrando a esquina para aproximar-se da casa. Continuava chovendo sem parar, a luz do crepúsculo por trás das gotas de chuva tornava ainda mais vagos os contornos dos objetos. Mesmo assim tive certeza.
As mãos nos bolsos, vestido de branco, o marinheiro dobrava lentamente a esquina da rua, como se não se importasse com a chuva.
Na casa em frente havia música e movimento. Por um momento então quis me enganar imaginando que ele bateria naquela porta, não na minha. Porque eu não conhecia nenhum marinheiro, porque eu não recebia visitas, porque há muito tempo havia afastado disso que chamo a minha vida toda e qualquer pessoa que pudesse bater à porta numa tarde de sábado assim inesperada, porque nesta cidade sequer existe mar, porque afinal o resto do caminho não só estava traçado como era inabalável. Entre aqueles trapos, aquelas contas, aquelas cores, sem nunca ver de perto um outro rosto humano, a não ser numa cruzada ocasional tarde da noite, pelas ruas, com algum desconhecido sem importância, sem encarar de frente sequer meu próprio rosto, a tal ponto me desgostavam o humano de mim e dos outros, próximos ou distantes, e de todos. Dentro do marinheiro que vinha pela chuva havia uma coisa humana ameaçadora, estrelada, dobrando a esquina, ignorando as luzes, a música, os movimentos da casa em frente para atravessar a rua e, detendo-se sob minha janela, bater à porta.
O cheiro de mar tornou-se mais forte quando ouvi as primeiras batidas. Contraí os olhos feridos pelo ar subitamente mais salgado. Com as duas mãos espalmadas contra o vidro, eu estava suspenso entre algo que começava a fechar-se e algo que terminava de abrir-se. As batidas continuavam. Eu precisava fazer alguma coisa, talvez descer as escadas, abrir a porta, deixar que entrasse. Ao fazer qualquer uma dessas coisas teria de aceitar que algo se fechara, e abrir a porta para que o marinheiro entrasse seria também permitir que esse outro algo terminasse de abrir-se, me levando para um caminho imprevisto.
Como eu demorava a atender, lá embaixo ele recuou um pouco e olhou para cima. Então me viu. Ele viu meu rosto, esse mesmo que já não sei a forma. Eu vi seu rosto que não identifiquei, molhado pela chuva, esperando uma resposta.
Tive medo que as asas ou a cobra pudessem me impedir de começar a descer as escadas. Mas nada aconteceu. Em vez dessas, uma nova visão me tomou no primeiro degrau. De um espaço aberto como o convés de um navio eu podia ver na linha do horizonte, atrás de outro navio seminaufragado entre rochas de coral vermelho, uma ilha pedregosa com uma baía de areias tão claras que brilhavam na luz do sol. Havia sol também, descobri enquanto avançava, não só porque as areias brilhavam mas porque brilhava também a água do mar, cheia de cintilações como diamantes miúdos na crista das ondas quebrando na praia da ilha. Mais além da praia percebi sobre uma elevação um farol apagado, porque era dia, erguendo-se quase desafiador contra o céu, continuei a ver, inteiramente azul, sem nenhuma nuvem. O ar tão limpo que pisquei, retinas machucadas pelo excesso de luz.
Quando tornei a abrir os olhos, tinha acabado de descer a escada e olhava uma silhueta esbranquiçada atrás dos roxos-amarelos pintados no pequeno retângulo vertical de vidro da porta de entrada. Pensei em abri-lo, para entender o rosto que vinha antes de permitir sua entrada. Não consegui. Quase cego pelo verde do mar, pelo cristal branco da areia, pelo azul do céu que acabara de ver, pela transparência do ar, estendi a mão, dei a volta na chave e abri a porta.
II
— Abraça tua loucura antes que seja tarde demais — ele disse, e seus olhos tinham a cor do mar. Tinham a cor exata de quem por muito tempo, todas as horas, todos os dias de muitos meses e anos, olhou detidamente o mar, acompanhando o vôo das gaivotas, interrompendo-se em rochedos, nivelando-se ao movimento incessante das ondas. Verdes de um verde movediço entre o denso do vidro e o suave da hortelã recém-plantada, líquidos como água móvel, interior de gruta, rasos de pedras claras. Visíveis, os olhos vivos do marinheiro me olhavam molhados pela chuva, vértice de um novo movimento para onde eu convergia inteiro.
Para olhá-lo, também eu precisava de certa loucura. Essa, que me indicava. A mesma a que me tenho negado em susto, atravessando cotidianos de monótonos côncavos deliberados, movendo-me pelos labirintos coloridos desses interiores sempre previstos, embora absurdos. Não havia sol naquela tarde, nem cores caindo sobre os objetos. Eu não estava distraído nem tinha disfarce algum quando ele me olhou. Ele não tinha nenhum disfarce quando eu o olhei. Mas não devia me permitir escorregar naquele mergulho de peixes quem sabe vorazes, isso só compreendo agora, e com esforço, sete dias depois de sua partida, uma garrafa de vinho tinto, a chuva se foi, restaram o frio e a umidade que amolece papéis e vontades, aberta ao lado da janela escancarada para a noite enorme lá fora, onde ruge uma cidade estufada de rumores e procuras. Preciso dizer neste momento, embora talvez não caiba aqui. Ainda que me tenha isolado assim drástico, ainda que elabore dentro de mim e da casa pacientes, irrefutáveis justificativas para ter cerrado as portas ao de fora, o humano que afastei através dos vidros coloridos, esse humano dói, palpita, ofega, tem ritmos suarentos fora de mim.
À minha frente, porta entreaberta, gotas da chuva caindo sobre sua roupa branca como se eu tivesse acendido uma vela com o pavio voltado para baixo, o marinheiro me olhava.
— O quê? — perguntei. Só compreendo agora, talvez não pudesse aceitar o convite. Perguntei como quando você diz acho que vai chover ou está frio hoje, ou me dá um cigarro, qualquer outra coisa assim sem importância, pressupondo que eu e ele nos movimentaríamos ainda segundo os ritmos mecânicos, na dança urbana dos passos ensaiados de além dos vidros pintados de roxo-amarelo. Mas ele repetiu claro:
— Abraça tua loucura antes que seja tarde demais.
— De onde você veio? — perguntei ainda, a mão na porta me separando dele.
— Vim da tua visão anterior — ele afastou as tiras coloridas que pendiam da porta. Gentilmente, mas seguro, afastou também meu braço, não como se pedisse licença para entrar num lugar que não lhe pertencia, mas ocupando o espaço que lhe era destinado. E repetiu: — Venho de tua visão imediatamente anterior a esta de agora, embora eu não seja uma visão.
— Quando eu descia as escadas?
Fechei a porta às suas costas.
— Quando você descia as escadas. Daquele navio atracado na baía. Aquela de areias brancas ofuscantes, a praia daquela baía, naquela ilha. Você não viu que daquela praia partia uma estrada, subindo pelas rochas até o farol?
Perguntei se não queria sentar.
— Estou muito molhado — disse, afastando um monte de palha para ajeitar-se entre algumas almofadas. Tinha pernas longas, sapatos cobertos de uma lama escura onde havia alguns talos de grama grudados, vi quando estendeu os pés, eu parado no espaço à sua frente.
— Você andou na grama?
— Andei. Logo após a areia branca da baía, havia uma grama alta. E mais adiante, um rio.
— E você viu então uma cobra deslizando entre juncos, na beira do rio?
— Sim, uma cobra verde. Dessas que não fazem mal a ninguém.
— Você a matou?
— Não mato o que não ameaça. Nem o que vive. Eu apenas passei.
— E a ave? Viu também a ave?
— Estava no meio do caminho. Me limitei a afas tá-la.
— Segurando naquele ponto exato onde as asas encontram uma com a outra?
— E onde mais? — puxou o cachimbo do bolso, com a mão direita. Bateu-o três vezes, boca para baixo, contra a palma da mão esquerda. — Apanhei muita chuva. Tem alguma bebida forte?
— Os marinheiros costumavam beber rum — eu disse, enquanto ele levantava a mão espalmada em frente ao meu rosto. Era uma mão grande, morena, forte, cheia de veias azuis salientes pelo esforço, as bordas externas cobertas por uma vaga penugem escura.
— Isso é lenda — de um pacote de fumo tirado do outro bolso ele enchia lentamente o cachimbo. Teve uma espécie de sorriso. Um brilho de ouro no fundo de sua boca, eu vi. — Bebo qualquer coisa. Desde que seja forte.
Entrei pelo pequeno corredor para ir à cozinha apanhar a garrafa de conhaque. Havia como uma vertigem na minha cabeça, mas meus gestos eram precisos. Atravessei o corredor, a segunda sala, alcan1 cei a cozinha, onde tirei de um armário a garrafa e F dois cálices. Eram cálices perfeitos, desses levemente ovalados, a boca mais estreita que a base bojuda. Tenho uma bandeja azul, não é uma bandeja especial, mas é bonita, de vidro azul, e brilha, sobre a qual dispus a garrafa com os dois cálices. Em certos dias de luz como aquele sábado não era, costumo colocar a bandeja azul ao sol, quando há, para que sua cor reflita os raios amarelos. Mudam de cor, dançam, circulam pela casa toda, pelo pátio, rebrilham, os raios. Com a bandeja nas mãos, voltando à sala, queria dizer a ele que estava atravessando a casa com o melhor que tinha nas mãos: uma bandeja de vidro azul, uma garrafa de conhaque e dois cálices perfeitos.
Cruzava de volta a segunda sala, depois o corredor, quando me chegou uma nova visão. Ela não voltou, depois que ele se foi. Portanto o que tive daquela visão foi apenas o que houve naquele momento.
Atrás de uma janela de vidraças divididas em vários pedaços miúdos estava o rosto de uma moça. Ela tinha uma das mãos, talvez a esquerda, aberta e apertada contra a vidraça. O outro braço suponho que estivesse caído ao longo do corpo, porque de onde estava não conseguia vê-lo. Uma franja espessa cobria sua testa, e entre o cabelo cortado na nuca e o rosto lavado eu podia ver um brinco cintilando. Um único brinco longo talvez com uma pérola ou um diamante suspensos na extremidade de um fio de ouro, e de alguma forma o sol ou outro tipo de luz, não das estrelas, porque não seria suficiente, embora bonito, devia bater contra a vidraça, pois a ponta do brinco, a pérola, ou a esmeralda, ou o diamante, ou o rubi, cintilavam, estrela mínima de sete pontas. Prefiro pensar agora que era um rubi, tinha brilho vermelho como de um Cristo flagelado que vi certa vez num museu, faz muitos anos. Chorava, o Cristo. Essa lágrima de sangue era um rubi. Do lado direito da boca da moça, um leve vinco, como esses de quem apenas tem vontade de sorrir ou por alguma razão precisa esconder uma espécie de divertida amargura. Mas no canto esquerdo, havia apenas dureza. Ou vazio. Ou nada disso, não importa.
Fui me libertando aos poucos da visão. Como quem atravessa uma cortina de contas penduradas, dessas que se enovelam no corpo, com movimentos brandos, de ombros, cintura, pescoço, aos poucos os fios se desembaraçando dos membros. Um dos olhos dela sorria cúmplice. O outro criticava, cínico. Quando depositei a bandeja azul aos pés dele — tinha descalçado os sapatos, sustentava o calcanhar de um dos pés sobre os dedos do outro, as mãos cruzadas atrás da nuca —, perguntou servindo-se:
— Quem era ela?
— Ela quem?
— A moça na janela.
Eu me acomodei nas almofadas à sua frente. Minhas pernas ficaram estendidas ao lado das dele. Devagar enchi nossos cálices. Não tínhamos pressa. Estava anoitecendo. Chovia. Era sábado, era novembro. Atrás de qualquer palavra que disséssemos havia outras mais tranqüilas, porque tínhamos conseguido atravessar quase mais um ano inteiro — eu, ele, todos —, e tinha sido duro, mesmo que nem eu nem ele nem ninguém depois de um tempo fôssemos capazes de distingui-lo especialmente dos anteriores, tão iguais a esse que passava. Mas estávamos ali, como dois sobreviventes — para usar a linguagem que ele provavelmente teria, se falássemos disso — de um naufrágio. Ou para usar a minha própria linguagem, essa de gente que vive amontoada entre outras gentes, mesmo quando se retira, porque a vida incha lá fora, invadindo as janelas fechadas, sobreviventes de uma série descolorida de fracassos iguais e mesmas tentativas, idênticas queixas, esperas inúteis, mágoas inconfessáveis de tão miúdas. Eu podia falar lento, deixando o que dizia escorregar da garganta para a língua, da língua em movimento contra o céu da boca para os lábios, que com o ar soprado entre os dentes formaria palavras um pouco ao acaso, sem muita importância, dizendo coisas como:
— A moça. A moça na janela.
— Sim, a moça na janela — bebeu mais um gole, me olhou atento.
— Eu a tive um dia — fui dizendo sem dificuldade, exatamente como previra. De algo profundo como o estômago ou os intestinos subia pelo peito, atravessava longos canais escuros, atingia a língua, debruçava-se sonoro, quem sabe incompreensível, para o outro. Era assim, conversar, fui redescobrindo enquanto contava:
— Não sei se era ela. Uma moça pálida. Tinha algumas sardas nos ombros. Essas manchas castanhas, às vezes avermelhadas. Ela as tinha, nos ombros. Sei porque via sempre seus ombros nus. — Toquei no pé dele, as meias brancas molhadas de chuva. — Eu a tocava assim, nos pés. E apertava. Ela sempre me sorria. Gostava de pintar a boca de vermelho forte. Você consegue imaginá-la? Muito branca, aquelas sardas nos ombros, a boca pintada de vermelho forte. Gostava de vestir-se de preto, também. Embora eu costumasse dizer que não era bom, absorvia vibrações, todas as vibrações, as energias. Boas, más, todas. Então a boca pintada de vermelho forte vivo ressaltava ainda mais. Qualquer coisa vermelho vivo, a boca, entre o preto do vestido e o branco da pele.
Ele tornou a encher o cálice.
— Você gostava dela?
— O que é coisa, gostar?
—Você sabe.
— Acho que sim. Embora não parecesse. Tanto, tanto tempo.
Bebi mais. Que não tinha importância. Gostar, o passado, a moça, os pés. Eu não podia ter memórias. Acho que disse isso em voz alta. Ou não era preciso, porque ele falou:
— Por que não ter memórias?
Os buracos negros, eu quis dizer. Mas fiquei quieto, desejando apenas ter um disco qualquer de cítara tocando para que nesse momento pudéssemos interromper a conversa para prestar atenção num acorde qualquer entre duas cordas, mais um silêncio que um som. Sempre podíamos ouvir a chuva, seu bater compassado na vidraça. Ou acompanhar com os olhos as gotas escorrendo atrás do roxo e do amarelo. De pontos diferentes, às vezes duas gotas deslizavam juntas para encontrarem-se em outro ponto, formando uma terceira gota maior. Mas talvez ele achasse tedioso esse tipo de diversão.
— Ter memórias — repeti.
Mas não era aquela moça, nem aquela a tarde, que tudo que foi de mim perdeu-se no inatingível centro obscuro desses buracos. Começava a ficar tonto com a bebida. Quis dizer a ele que a cidade não tinha mar, que eu apenas pretendia pintar a segunda vidraça de baixo para cima, para que os vizinhos não conseguissem espiar a minha vida. Quando pensei nisso tive a sensação esquisita de estar girando dentro e junto com uma agitada roda colorida. Subia e baixava — eu, a Roda da Fortuna — nos braços às vezes de um demônio sombrio vestido de negro, às vezes de um arcanjo dourado, em susto, em prazer, em nojo, em delírio. Quis dizer a ele que me havia afastado assim para que a Roda rodasse distante de mim, sem me envolver em seus volteios vertiginosos.
— Vim de longe — ele disse. — Eu vim de fora de ti.
Quis dizer-lhe ainda que longe estava eu, embora na rua de casas lado a lado, apertadas umas contra as outras feito pessoas com frio, mas por algum motivo precisei levantar. De repente fiquei no meio da sala, o cálice cheio numa das mãos, a outra solta no ar, esboçando um gesto que não era capaz de fechar.
Ouça, tentei.
E não sabia como continuar. Passa-me agora pela cabeça que os vizinhos poderiam reclamar das luzes nas janelas escancaradas, da energia excessiva saindo pelas janelas escancaradas. Bêbada, confusa, farpada. Mas não consigo me deter. Embora não conheça o ponto onde devo chegar, é para lá que me dirijo cego, aos trancos. Pouco importa o que poderia me afastar desta tentativa quem sabe inútil de recuperá-lo, ou o que trouxe consigo desde que veio e se foi. Perdi meu equilíbrio quando veio, e mentia meu equilíbrio antes que viesse.
Olhava para mim, ali estendido sobre almofadas. Um vinco, eu via atentamente, um vinco partindo seu lábio inferior, quase emendado com outro que subia da extremidade do queixo até a borda do lábio inferior, onde o vinco anterior unia os dois num só, duas gotas de chuva se encontrando. Acho que o aceitei inteiramente nesse momento, ao perceber os contornos do rosto que me olhava com estranheza, como pedindo explicações ou tentando explicar a mim mesmo para mim, que não me via.
— Você tem grades nos olhos — disse. Acendeu o cachimbo. Um perfume adocicado misturou-se ao cheiro de mar. — Elas estão quase sempre abertas. Não são suficientemente estreitas para prender alguém ou alguma coisa. Houve um dia em que você deixou alguém fugir por entre as grades.
Voltei a sentar. Lembrei do segundo quarto no andar de cima. Cruzei as pernas na frente dele. Queria vê-lo melhor, embora já o tivesse visto. Um marinheiro, confirmei sem compreender. Tirara os sapatos, o chapéu, vestia-se de branco, estava deitado nas almofadas à minha frente. Então transformou-se. Sei que é brusco dizer assim, mas foi exatamente assim. Gostaria de ter certeza de que realmente o vira deitar alguma coisa como um pó ou comprimidos na minha bebida, tisanas, antes de transformar-se. Mas não seria verdadeiro.
Eu estava um pouco tonto. As luzes da rua tinham começado a acender. Anoitecia. O roxo-amarelo dos vidros ganhou um brilho artificial quando me levantei para acender a vela no castiçal de cerâmica. Tenho horror a essas luzes que desvendam os poros abertos das pessoas, revelando sujeiras escondidas, mesmo que há muito tempo não as veja. Protegi a chama entre as palmas das mãos, mas quando me voltei para perguntar-lhe qualquer coisa como o que ou onde ou quando ou quem — ele era um grande gato cinzento me olhando com olhos verdes sobre a almofada cor de vinho. Espreguiçou-se lento, curvando as costas enquanto alongava à frente a pequena pata de unhas distendidas para depois cravá-las superficialmente, com tédio, com distraído gozo, na carne da almofada. Quando tornei a me abaixar, debruçando-me sobre ele, roçou o dorso quente contra as costas frias da minha mão. Apertei as frontes e os olhos com a outra mão. Ao retirá-la, o marinheiro me olhava.
— Tive outra visão — eu disse.
— Não foi uma visão. Sou muitos. — Sorriu. — Onde é o banheiro?
Acompanhei-o escada acima. Pelo corrimão, podia ver: aquela mão saindo de sob a manga branca era a mesma que segurava as asas da ave no ponto onde se uniam. Escurecia. Quis avisá-lo de que passaríamos pelo quarto vazio, e me debati, asas seguras no limite da entrada, tentando dizer-lhe que tinha sido ali. Então olhei para dentro e vi um anjo de grandes asas brancas e pés descalços sobre o piso riscado.
— Me olhas com olhos tristes — eu disse.
— Porque já me fui e nada do que poderias fazer agora eu conseguiria fazer novamente, então sinto pena — disse o anjo fechando as asas sobre o rosto magro.
Pairava sobre brasas incandescentes espalhadas pelo piso do quarto. Para não pisá-las com seus pés brancos precisava agitar as asas com algum esforço, mantendo-se em levitação, acima do fogo. Ele batia as asas suspenso sobre as brasas, um pouco ridículo. Tive vontade de rir, mas como uma ventania súbita tivesse invadido a casa, eu disse que tinha velas e mostrei a porta do banheiro.
Conhecia aqueles ventos. Armavam-se de repente além do contorno dos edifícios que eu via da janela do segundo quarto, depois desabavam paredes adentro, soprando por todos os cantos os fiapos dos montes de palha, as contas, as tiras coloridas. Dentro do banheiro havia uma moça de ombros nus cobertos de sardas, olhos pintados de preto, boca muito vermelha, seios expostos como duas pêras maduras, as pontas levemente avermelhadas de onde sobressaía o bico mais escuro que devia prendê-los à árvore. Quis tocá-los. Cheguei a estender a mão. Foi quando vi a cauda úmida de peixe emergindo da banheira para elevar-se, verde brilhante escamoso contra os azulejos brancos. Ela sorria para mim, sereia, me convidando, Ulisses. Como uma visão, mas eu sabia que não era nenhuma das imagens libertadas do buraco negro da memória. Quando tentei tocar seus seios claros, respingados de sardas, senti o vento das asas batendo do anjo preso no segundo quarto a me comprimir contra a parede de corredor estreito, e logo depois o interior sedoso de uma capa negra com dois caninos agudos de vampiro dentro de lábios descorados abertos num meio sorriso, aproximando-se lento das veias da minha garganta. Quis senti-lo assim, macio assassino penetrante agudo suculento afundar os caninos na minha carne. Cheguei a inclinar de leve a cabeça sobre o ombro, oferecendo o pescoço para que me tivesse mais fácil.
O vinho está quase no fim. A manhã vem vindo, não sei se conseguirei continuar contando. Naquele momento meu sangue escorreria para dar-lhe vida, essa mesma que não sei para onde levo, entre tantas quinas. Sinto frio, me debruço. O hálito gelado dele se aproxima das minhas veias, mas basta que eu suspire para que se transforme num cãozinho miúdo, inofensivo, descendo os degraus em direção à sala. Afago-o com as pontas distraídas dos dedos, manchas pretas sobre o dorso branco. Reconheço, estou em desequilíbrio, estou me distanciando cada vez mais. Faço este esforço até quem sabe alcançar um ponto tão remoto que não saberei jamais encontrar o caminho de volta, se existe um, e penso que não.
Ao pé da escada ele me espera, braços abertos, parado sobre o tapete. Tem o peito largo, sinto, ao afundar de encontro a ele essa parte minha sem forma a que acostumei chamar de face, seus braços podem dobrar-se apertando minhas costas enquanto sinto seu cheiro, esse cheiro espesso de sal, algas, corais, medusas, águas-marinhas. Quero perder-me nele, como o que nunca terei, mas quando fecho também meus braços em torno de suas costas, aproximando-o de mim para que nossos dois corpos se confundam, para que nossos cheiros se misturem, para que pelo menos por um segundo sejam, eu, ele, uma coisa única, minhas mãos apertam o caule estreito e áspero de uma palmeira. Um vento qualquer faz com que seus galhos balancem. Quando balançam então é como se eu visse o céu, planetas, cometas, constelações, objetos não-identificados, essa palmeira nua estendida contra um céu cheio de estrelas, lunar crescente às tuas costas, quero dizer, Aldebarã logo abaixo, Vega à esquerda, Arcturus acima, basta estender a mão. Resta no ar o sal perdido de uma distante maresia, no limite dos dedos, e em cada uma das extremidades uma estrela de sete pontas iluminadas, dez rubis incendiados como a lágrima na face do Cristo que perdi no dia em que a luz cessou.
Na base da escada, no centro da sala. Anoiteceu. Encosto o topo de minha cabeça de ralos cabelos contra o tronco seco da palmeira. Depois choro. Quase sem som. Como nas canções de miúdos arquejos, um estremecimento que faz o peito vibrar, elevando-se até os ombros. Sobe pela garganta, atinge os lábios, alcança a testa comprimida contra a palmeira como se quisesse ferir ou perfurar a si mesma. Ergo meus braços. Mesmo na ponta dos pés não consigo alcançar as palmas altas que balançam ao ritmo do vento vindo talvez de outras terras, mas certamente do mar presente nesse ar salgado que me faz contrair os olhos como antes, quando descia as escadas para abrir a porta.
Eu estava parado no patamar da escada quando ele me disse:
— Tenho sete formas. Navegue.
Abraçou-me. Tinha cheiro de mar. Do mar que não há nesta cidade.
Pedi que ficasse, como não ficou o outro. Mas não o suportaria, acrescentei a seguir. Sorriu. Como se nada do que eu pudesse dizer fosse capaz de modificar sua partida. Ainda chove, tentei dizer. Não importa, será melhor assim, repetia sua mão estendida. Passou-a devagar na minha face. Eu era uma coisa pequena, rastejante e sem Deus, caminhando no escuro lamacento à procura apenas de qualquer gesto como o toque de uma mão humana, devagar na minha face. Ele tocou. Calçou os sapatos, apanhou o chapéu. Eu quis dizer que poderia ocupar o segundo quarto — a segunda cama, a segunda vida — talvez para sempre. Eu estava tão vivo que qualquer outra coisa também viva e próxima merecia minha mão estendida, oferecendo. Estendi a mão. Ele não podia acei tá-la
Eu não devia estendê-la.
— O navio demora pouco no porto — disse antes de partir. — Um marinheiro desce, olha a terra, às vezes deposita algo, e logo torna a partir.
Seus olhos tinham a r do mar. Tinham a cor exata de quem por muito tempo, todas as horas, durante todos os dias de muitos meses e anos, olhou detidamente o mar. Conquistara esse verde móvel, inquieto, esse vagar. Tocou de leve minha mão estendida. E se foi. Ainda chovia. Fechei a porta às suas costas. Por entre os roxos e amarelos da pequena vidraça vertical, podia perceber a silhueta de alguém se afastando. Dentro de uma noite de sábado, não de agosto. Era novembro. Bebi outro gole de conhaque. Fui escorregando para o fundo, no meio das almofadas. Amanhecia. Na casa em frente, os ruídos tinham silenciado. Seria um longo domingo. Não estava triste, mesmo assim recomecei a chorar enquanto ouvia outra vez o aviso guardado para sempre na memória das paredes:
— Abraça tua loucura antes que seja tarde demais.
III
Faz hoje sete dias que se foi. Acabei de contar os sete traços de tinta preta que fui fazendo, um por um, cada noite depois de sua partida, exatamente naquela vidraça que eu tinha pensado em começar a pintar quando chegou, no meio da chuva. Completei o sétimo há pouco. São seis traços irregulares, quase ideogramas chineses, e um bem definido — um risco reto, seco, sem hesitações nem adornos, o último. Atrás dos sete traços posso ver a rua deserta e, do outro lado, a casa onde sem parar entram, saem pessoas. Pela porta aberta, quando terminei o sétimo risco imaginei ver uma noiva subindo as escadas, com outras moças se aglomerando embaixo, como se ela fosse jogar o buquê. Ouvi uns risos de criança, tinir de copos, champanhes. Bons augúrios, pensei. Mas não prestei muita atenção, nem me alegrei. Não tenho certeza do que imagino ter visto. Preferi olhar para além da casa, para além da rua.
O sol acabou de se pôr. Nestes sete dias, a chuva foi parando aos poucos. Ficou apenas o cinza. Há muitas nuvens no céu, sobre os edifícios. São essas nuvens que estão agora muito coloridas, azuis profundos invadindo o roxo para transformar-se em laranja, em dourado na altura do que deve ser o horizonte.
Os raios suspensos sobre a cidade. Se descesse ao andar inferior poderia talvez ver como antes esses raios soltos de luz varando os roxos, os amarelos pintados nos vidros da porta de entrada para misturar as cores sobre os objetos. Poucas vezes desci, depois que se foi.
Na verdade, não sei ao certo como atravessei os primeiros destes últimos sete dias. Talvez tenha dormido ou me movimentado dentro de alguma daquelas visões do buraco negro, porque lembro de uma espécie de névoa rompida de vez em quando por algum ruído, alguma forma. Talvez não tenham sido visões, mas sonhos, se realmente dormi. De qualquer forma, não eram exatamente iguais às visões de antes da vinda dele, nada de cobras ou aves ou partes isoladas de corpos, como mãos ou rostos. Havia pessoas inteiras dentro dessa névoa, mesmo que eu não conseguisse vê-las, ainda que não possuíssem corpos. Uma dessas pessoas atravessava a meu lado um longo corredor, um corredor inteiro recoberto de mosaicos bizantinos, em cima, embaixo, dos lados, cada um com um desenho diferente. Nesses mosaicos quem sabe houvesse cobras, juncos, asas, grama, até mesmo marinheiros, porque o corredor se estendia feito dentro da própria memória, com todos os detalhes de cada uma das inúmeras lembranças. Seria possível permanecer durante muito tempo olhando detidamente cada um deles. Mas da extremidade vedada onde eu estava, com essa pessoa a meu lado, conseguia ver a extremidade aberta do outro lado, onde estava a luz.
Havia urgência em chegar à luz. Havia uma urgência no ar que não era exatamente minha nem da pessoa que estava comigo, mas qualquer outra coisa assim, difícil dizer, um imperativo moral ou ético chegar do outro lado, do lado de lá, do lado da luz. Eu não me movia, embora localizasse no ar, entre as figuras dos mosaicos coloridos, esse impulso de me dirigir para lá. A outra pessoa também não se movia. Eu tinha perfeita consciência dela a meu lado. Não voltava a cabeça para vê-la. Estava perfeitamente consciente da presença dela a meu lado, e sabia que ela estava também perfeitamente consciente não só da minha presença a seu lado mas também da necessidade de atravessarmos o corredor em direção à luz. Talvez ficássemos ali parados para sempre, se eu não começasse a prestar atenção nos desenhos. Até o momento em que comecei a me curvar para observar um deles mais atentamente porque havia um poço, um poço desenhado no mosaico, um poço de pedras com uma data remota inscrita provavelmente com um prego sobre uma das pedras, e quase tenho certeza do ano, 1919— tinha consciência somente de uma série de formas e cores à minha volta, como se estivesse dentro de um caleidoscópio imóvel.
Fui dobrando lentamente o corpo em direção ao poço. Sabia que poderia penetrar nele ou naquele tempo ou naquela memória que ele representava, poderia penetrar em qualquer uma das milhares de outras figuras do corredor. E da mesma forma como sabia que devia caminhar em direção à luz, sabia também que não podia me permitir mergulhar nos mosaicos, porque desse mergulho emergiria de volta para o mesmo corredor, e após outro mergulho tornaria a ser devolvido àquele corredor, sala infinit de espelhos, assim para sempre, para sempre estaria perdido entre representações de coisas que se tinham perdido no tempo, e por perder-se no tempo tinham perdido junto a sua própria existência. Não eram reais, aquelas cenas gravadas nos mosaicos. Eu não podia permitir a mim mesmo continuar me perdendo no que deixara de ser. Sabia de tudo isso enquanto me curvava em direção ao poço, mas não conseguia recuar, hipnotizado. Foi então que a outra pessoa me tocou no ombro. Alguma coisa no toque dela me dizia exatamente o mesmo que eu acabara de pensar, me arrancava da beira do mergulho. De alguma forma, instaurava entre nós o compromisso — solene, severo — de chegar à luz na extremidade do corredor.
Nós começamos a caminhar. Primeiro com certa pressa, depois mais lentamente. Se caminhássemos depressa as formas e as cores nos mosaicos se enovelariam umas nas outras, provocando uma espécie de tontura viscosa, colorida. Alguém de fora dali girava nas mãos o imenso caleidoscópio dentro do qual estávamos presos, fazendo a copa de uma árvore esfiapar-se em várias pontas, e de cada uma dessas pontas nascerem imagens díspares feito uma maçã meio mordida, uma peça de dominó ou xadrez, um bibelô antigo em forma de bailarina, saltando sobre um abismo ao lado do qual estavam duas crianças guardadas por um anjo negro e nu. Para que as formas não se misturassem assim, evitando a náusea, a surpresa, a confusão, começamos a caminhar mais devagar, um passo após o outro. Não sei quanto tempo durou. Penso agora que talvez exatamente os cinco primeios dias destes sete últimos, porque quando tento lembrar de tudo que se passou desde então qualquer imagem que volta parece ter feito parte dos mosaicos daquele corredor. Mesmo quando eu subia ou descia escadas para ir à cozinha comer ou beber alguma coisa, não sei se eu mesmo não estaria sendo apenas mais uma daquelas figuras.
Nem saberei.
Mas houve um momento em que alcançamos a Luz. Digo assim — a Luz — porque não havia nada nela. Era uma luz clara sem cor nem objetos, absolutamente limpa se comparada à infinidade de formas de onde estávamos vindo. Havia espaço ali. Um largo espaço com uma luz clara. Acho que senti medo, tive vontade de voltar atrás, sabia como me movimentar facilmente entre as figuras dos mosaicos, diminuindo, aumentando o passo para que as imagens não se misturassem, mergulhando numa ou noutra que me remeteria a outros tempos para depois me devolver ao corredor, assim por diante, tanto quanto eu quisesse, o tempo todo que me restava nisso que costumo chamar de a minha vida. Esbocei um movimento para voltar atrás, mas a outra pessoa novamente me tocou no braço antes de desaparecer junto com o corredor. Eu fiquei só.
Agora eu não vinha nem ia para parte alguma. Estava parado no centro da grande luz clara e limpa sem poder voltar atrás. Isso era tudo. Eu precisava me movimentar dentro dela. Era com esse movimento dentro dela que alcançaria outras figuras, talvez as dos mosaicos, que não seriam figuras pois não teriam acontecido num tempo passado, mas coisas reais que estariam acontecendo agora, num tempo presente. Não mais como se estivesse dentro de um caleidoscópio, e sim como se possuísse o grande poder de construí-lo eu mesmo, escolhendo cada conta, cada pedacinho de vidro ou papel que colocaria ali dentro. Ou nem isso. Como se não mais existissem caleidoscópios.
Como se eu fosse ao mesmo tempo diretor, ator, autor e platéia de um espetáculo que ainda não começara a acontecer. Como se não fosse um espetáculo, porque nada estava previsto e não houvera ensaio algum, como se eu jamais pudesse ter certeza se alguém decorara a sua própria fala ou estava se apropriando da fala de outro ou inventando alguma para não permanecer parado e mudo. Embora não fosse um espetáculo, não podia parar, e a essa fala de outro que era de outro alguém, ou invenção, eu precisaria responder imediatamente, não podia parar, ainda que parasse não pararia, mesmo que meu papel fosse o de um cego ou mudo ou paralítico, de alguma maneira teria que reagir ao que aconteceria à minha volta. E o que aconteceria à minha volta aconteceria de qualquer jeito. A minha não-participação seria ainda uma forma de participar, permitindo que tudo acontecesse sem interferir.
Antes de dar um passo, eu estava exausto daquele jogo tão absurdo que qualquer nova regra podia ser inventada na hora. Não sabia se saberia jogá-lo. Nem se queria.
Aldebarã, Vega, Arcturus — repeti. Então olhei para cima e vi uma nuvem. Foi a primeira coisa que vi dentro da luz clara. Nesse momento soube que haveria outras, à medida que avançasse ou simplesmente permanecesse ali. A nuvem aos poucos ganhou cor, um tom de rosa, acho. Depois moveu-se, como nos dias de vento. Acompanhando a nuvem com o olhar, na direção do vento fui encontrando gradualmente, fotografia revelada cada vez mais nítida, na linha do horizonte uma ilha pedregosa com uma baía redonda de areias tão claras que brilhavam na luz do sol. Era do sol a luz que banhava a ilha, a praia, descobri, e mais além, sobre uma elevação, um farol apagado, porque era dia. Aquele farol se acenderia todas as noites, jorrando luz no espaço. Meus olhos já não tinham grades. Comecei a caminhar em direção ao que via, dentro da grande luz além do corredor.
Iniciaria pelo andar inferior, decidi quando acabei de pintar o quinto risco negro que assinalava o princípio do quinto dia. Foi essa a única ordem imposta no que faria. Depois disso andei muito tempo pela casa recolhendo as tiras de pano e papel penduradas, as cortinas, os fios enfiados de contas, tapetes, restos de manequins, cacos de louças, caixotes, fotografias, almofadas, montes de palha, pétalas secas de flores, ampulhetas, os livros todos, copos, móveis, um por um — tudo. Atravessava a segunda sala para depositá-los no pequeno pátio, à medida que agia a casa começava a parecer cvasta&a ÔT 112728 tormenta, depois foi ficando mais limpa, inteiramente limpa, enquanto aumentava a montanha de objetos no pátio. Sabia que me restavam três dias inteiros. Se não houvesse concluído o trabalho ao fim deles permaneceria parado na grande luz, à mercê do que aconteceria em volta. Era tempo suficiente, embora fossem muitos objetos.
Gastei o primeiro dos últimos três dias esvaziando o andar inferior. Gastei o segundo esvaziando meu próprio quarto, mais cheio de objetos que qualquer outro. Acrescentei à montanha de detritos no pátio também as roupas todas que tinha, todos os papéis, o baú com as cartas que costumava receber, antes, talismãs, caixas, fetiches. Na metade do terceiro e último dia — hoje — esvaziei o banheiro. Mantive apenas esta roupa branca que uso, um tubo de tinta negra e um pincel para fazer o sétimo traço na vidraça.
Acabo de fazê-lo, há pouco. A casa inteira está deserta. A casa inteira agora é igual ao segundo quarto. Despi-la assim nestes sete dias acabou por revelar as rachaduras das paredes, as manchas, as falhas do reboco, o piso riscado. É uma casa verdadeira agora, e muito velha. Uma casa que não teria conserto, tão irremediáveis e obscenas são sua velhice e nudez. Arranquei seus disfarces um a um, como se arrancasse os mosaicos daquele corredor. Na montanha do pátio não há só móveis, lençóis, papéis, há também poços, maçãs meio mordidas, peças de xadrez, unicórnios, anjos da guarda, caleidoscópios, vampiros, centauros, cristais, baralhos, mandalas. Posso entrar sem medo no segundo quarto. Ele tornou-se como o resto da Casa, ou o resto da sa tor’zou-’e como ele, você ambos tornaram-se o que sempre foram, assim sem disfarces, e nada tenho a temer de paredes vazias. Me pergunto se alguém os amaria assim, tão nus. Não sei responder. Posso não sentir nada vendo a perna alongada de uma bailarina emergindo da confusão de trapos, o rosto pintado de um manequim sobre os restos do fogão, o gelo transformado em água escorrendo pelo quadro onde, forçando os olhos, consigo divisar a mão erguida de um homem empunhando uma espada, em luta com uma espécie de demônio de asas.
O movimento na casa da frente começou a diminuir. Estou parado no topo da escada com o galão de gasolina numa das mãos, a caixa de fósforos na outra. Conto os degraus, ao descer. Dezenove, o Sol. Na sala, os vidros pintados ainda defendem a casa do olhar dos outros, se alguém se interessasse em olhá-la. Tão vazia que já não oferece nada à curiosidade de ninguém. E tão completamente real, penso sem querer, atravessando a primeira sala para penetrar na outra, depois na cozinha. Quase todo o pátio está tomado pela montanha de detritos. Acabou de anoitecer. As nuvens se foram. O céu está completamente limpo. Há algumas estrelas sobre a minha cabeça.
Quem sabe Aldebarã, Vega, Arcturus.
Com cuidado, com carinho, vou derramando gasolina sobre todos os objetos. Agora já não há dor nenhuma em lembranças de emoções como partidas, quartos vazios, separações. Não tenho mais emoção alguma. Sou só um corpo dotado de movimentos que vai derramando meticuloso a gasolina sobre os objetos. Tudo isso leva muito tempo. Não há nenhum centímetro dessa estranha montanha que não esteja impregnado até o fundo. Depois sento no chão, olho. Poderia chorar, ou pensar qualquer coisa funda, viva, forte. Não choro. Nem penso nada. Sou só um corpo sentado no chão de um pátio dentro de uma cidade qualquer, olhando para uma montanha de objetos encharcados de gasolina. Fico tempo assim, eu.
Às vezes uma estrela cadente cruza o céu em direção ao horizonte. Poderia fazer pedidos, mas nada tenho a pedir. Sentado no chão, permaneço ouvindo os barulhos da noite de sábado além dos muros. Espero paciente que se dissolvam aos poucos, que a cidade reste quieta enquanto as estrelas mudam de lugar sobre minha cabeça. Minha mente está tão alerta que é como se pairasse acima da dormência que se infiltra nos membros. Sei que eles reagirão ao primeiro comando. Quando tudo está finalmente quieto e uma pálida luz esverdeada começa a anunciar o amanhecer, faço contas lentas para verificar se a constelação do Escorpião começa a se erguer no Oriente. Então levanto, estendo pernas e braços lentamente numa dança para desentorpecer os músculos. Só depois de sentir o sangue renovado fluindo quente nas veias, risco um fósforo e trago a chama até bem perto dos olhos. As pupilas se contraem, antes de jogá-la sobre o monte de detritos. Não chego a ver o fogo. Atravesso correndo as portas abertas do interior da casa. Alcanço a rua.
No fim da rua, olho para trás e vejo as chamas subindo nos fundos daquela que eu chamava de a minha casa. Os cálculos estavam corretos, confirmo, quando volto a cabeça para o Ocidente e vejo as Plêiades e a constelação de Orion prestes a desaparecer. O céu está cada vez mais claro. Alguns pássaros começam a cantar. Tenho vontade de cantar também. Um canto feito de palavras, não como o antigo.
Daqui a pouco vai amanhecer. Há um vago cheiro de mar solto nas ruas.
Hesito um pouco na esquina. Antes de me pôr a caminho, abro devagar e completamente os braços para depois fechá-los arredondados, tocando suavemente as pontas dos dedos de uma das mãos nas pontas dos dedos da outra. Como se faz para abraçar uma pessoa. Mas não há nada entre meus braços além do ar da manhã. Suspiro, sorrio, desfaço o abraço.
Então, com as mãos vazias, finalmente começo a navegar
Marcadores: triangulo das aguas