Eles vinham aos sábados, sem telefonar. Não lembro desde quando criou-se o hábito de virem aos sábados, sem telefonar — e de vez em quando isso me irritava, pensando que se quisesse sair para, por exemplo, passear pelo parque ou tomar uma dessas lanchas de turismo que fazem excursões pelas ilhas, não poderia porque eles bateriam com as caras na porta fechada e ficariam ofendidos (eles eram sensíveis) e talvez não voltassem nunca mais. E como, aos sábados, eu jamais faria coisas como ir ao parque ou andar nessas tais lanchas que fazem excursões pelas ilhas, era obrigado a esperá-los, trancado em casa. Certamente os odiava um pouco enquanto não chegavam: um ódio de ter meus sábados totalmente dependentes deles, que não eram eu, e que não viveriam a minha vida por mim — embora eu nunca tivesse conseguido aprender como se vive aos sábados, se é que existe uma maneira específica de atravessá-los.
Disse-lhes isso, certa vez. Creio que se sentiram lisonjeados, como se debaixo daquilo que eu dizia friamente, como quem comunica, por exemplo, ter tomado um banho, nas entrelinhas eu dissesse, pudico e reservado, que simplesmente não saberia o que fazer de meus sábados, se não viessem sempre. Tremi quando cheguei a perceber o equívoco, pois era como uma declaração de amor velada e, de certa forma, criava entre nós um compromisso extremamente sério. Quase como se, mentalmente, assinássemos um contrato estabelecendo que: a) a partir daquele momento, eu me comprometia a jamais sair aos sábados; b) a partir daquele momento, eles se comprometiam a jamais deixar de me visitar aos sábados. Desde então, tudo ficou mais definido. Ou, melhor dizendo, mais oficializado. E afinal, chovesse ou fizesse sol, sagradamente lá estavam eles, aos sábados. Naturalmente chovesse-ou-fizesse-sol é apenas isso que se convencionou chamar força de expressão, já que há muito tempo não fazia sol, talvez por ser agosto — mas de certa forma é sempre agosto nesta cidade, principalmente aos sábados.
Não é que fossem chatos. Na verdade, eu nunca soube que critérios de julgamento se pode usar para julgar alguém definitivamente chato, irremediavelmente burro ou irrecuperavelmente desinteressante. Sempre tive uma dificuldade absurda para arrumar prateleiras. Acontece que não tínhamos nada em comum, não que isso tenha importância, mas nossas famflias não se conheciam, então não podíamos falar sobre os meus pais ou os avós deles, sobre os meus tios ou os seus sobrinhos ou qualquer outra dessas combinações genealógicas. Também não sabia que tipo de trabalho faziam, se é que faziam alguma coisa, nem sequer se liam, se estudavam, iam ao cinema, assistiam à televisão ou com que se ocupavam, enfim, além de me visitar aos sábados.
Então era natural que nossos encontros fossem um tanto estéreis, já que nunca ninguém tinha nada a dizer. Procurávamos compensar os enormes silêncios que invariavelmente se instalavam feito furos nos nossos esfarrapados diálogos, sobretudo eu, pois sempre achei que quem recebe deve se esmerar para evitar silêncios ou ruídos excessivos, embora não seja exatamente o que se possa chamar de um anfitrião mas, em todo caso, me esforçava. Assim, corria a fazer chá ou distribuir cinzeiros, abrir ou fechar janelas, colocar algum disco na vitrola e regular o volume de acordo com o gosto deles, tarefa essa em que gastava, no mínimo, uns trinta minutos. E ainda assim criavam-se furos em que os chás haviam acabado, e ninguém queria mais, as janelas estavam fechadas, e ninguém queria abri-las, os cinzeiros estavam vazios, mas ninguém queria fumar, o toca-discos em silêncio, mas ninguém queria ouvir música. Tudo assim como que perfeito, e não existe nada mais esterilizante do que a perfeição de não se querer nada além do que está à nossa volta. O furo se tornava tão espesso que, quando alguém falava, a voz soava áspera e brusca, como se tirasse uma lasca do silêncio. E atribuo a seu senso estético (ao meu também) o fato de, então, preferirmos ficar mesmo calados, por mais embaraçoso ou insuportável que fosse. Evidente que, quando eles saíam, os meus nervos estavam simplesmente aos pedaços, e acredito que também os deles não andassem em muito bom estado, embora sorrissem sempre e procurassem manter-se simpaticamente compreensivos para com a minha absoluta falta de habilidade em lidar com as pessoas.
Sei que fica um-pouco-não-sei-como falar sobre tudo isso sem detalhar nada, falar deles assim, em termos tão gerais — mas eu ficava tão submerso na tarefa de me sentir sendo visitado que sobrava pouco tempo para fazer qualquer coisa além de abrir ou fechar janelas etc. etc. Mesmo assim, havia brechas inesperadas na minha capacidade de observação, e lembro que num dos últimos sábados fiquei profundamente espantado ao perceber que um deles usava sapatos de pano. Tentando situar na memória o exato momento em que se deu essa percepção: creio que consigo situá-lo num daqueles instantes de perfeição, quando inconscientemente eu procurava algo destoante, pois só poderia falar sobre algo assim. Mas seria tão indelicado referir-me a seus sapatos de pano como uma imperfeição dentro de um daqueles sábados, sobretudo depois daquele nosso contrato, que achei bem mais educado calar-me, e nem sequer tentar subir os olhos procurando encaixar aqueles sapatos num par de meias, calças ou talvez saias e, quem sabe, uma cabeça.
Para eliminar, portanto, essa desagradável impressão de generalidade, posso dizer a meu favor isto: que um deles usava — ou usou, certa vez, e disso estou absolutamente certo — um par de sapatos de pano, e mais exatamente, pano marrom, e é bem possível ainda que houvesse junto ao salto e ao bico algumas partículas de lama endurecida, já que chovia tanto naqueles agostos, e já que lembro também de, mais tarde, quase madrugada, ter apanhado uma vassoura para varrer do tapete alguns fios de linha, cinzas, pontas de cigarro e — justamente — uma placa de lama endurecida, que não poderiam ter vindo de outro lugar senão de sapatos, embora não necessariamente de pano, e menos necessariamente ainda de pano marrom.
Uma dessas outras lembranças indiscutíveis foram umas flores amarelas que me trouxeram certa vez, embora não possa dizer se foram exatamente para mim. Quero dizer: compradas ou colhidas com a intenção específica de dá-las justamente a mim, pois reconheço friamente que minha aparência não convida muito a dar flores, e creio que eles eram desses que dão às pessoas coisas que a aparência dessas pessoas dê margem a suposições do gênero: gostará mais de cravos ou de rosas? em se tratando de rosas, amarelas, brancas ou vermelhas? se forem vermelhas, com ou sem espinhos? Mas tudo isso é inútil, porque as flores que me trouxeram — ou, mais verdadeiramente, como estou tentando dizer, as flores com que entraram no meu quarto e que deixaram sobre a mesa ao sair —, essas flores não eram rosas. Também não consegui saber o que eram, apesar de amarelas e um tanto moles, quase gordas, com as pétalas manchadas por uma matéria escura que parecia, a princípio, cinza — mas que soprada permanecia perfeitamente imóvel, como se fizesse parte mesmo das pétalas, um pigmento ou qualquer dessas coisas científicas que os vegetais costumam ter.
Como durante vários dias me esqueci dessas flores, elas perderam lentamente as pétalas, que precisei juntar uma a uma para jogar no corredor, depois varrêlas e colocá-las no lixo. Mas sobre isso, creio que poderá informar melhor algum vizinho ou mesmo o lixeiro: nesses agostos não é comum ver flores amarelas, mesmo murchas, esquecidas pelas latas de lixo. E isso, quero dizer, o lixeiro ou algum vizinho, será no mínimo mais uma testemunha das visitas deles. Se é que a estas alturas alguém ainda tem dúvidas a respeito de sua existência. Eu nunca duvidei, parece que isso está bastante óbvio — contudo reconheço não ser a minha linguagem exatamente aquilo que se possa chamar de clara ou/e objetiva.
Não me peça para descrevê-los ou dizer pelo menos quantos eram, eu não saberia. Não saberia dizer também a partir de quando deixaram de vir. Certamente que, na primeira vez em que violaram nosso contrato, devo ter ficado ansioso, pois nada fazia aos sábados a não ser recebê-los, e certamente devo ter corrido várias vezes do relógio para a janela, como é de praxe nessas situações. Embora não os amasse, em absoluto, disso tenho a maior e talvez única certeza. Às vezes chego a pensar que nem sequer os suportava. Apenas, os sábados eram tão longos e aquele agosto não terminava nunca mais, havia sempre o frio e a chuva, e se eles não viessem provavelmente eu ficaria enrolado neste cobertor ainda mais tempo do que fico agora, ouvindo os velhos discos e de vez em quando espiando sobre o telhado que há embaixo da minha janela. Com as chuvas freqüentes, começaram a nascer algumas plantinhas sobre esse telhado, mas as crianças não brincam mais no quintal do edifício vizinho.
Creio que se eles voltassem outra vez, eu lhes falaria dessas coisas, como quem prepara um chá ou vira um disco. Mas não virão mais, e não sei se isso me alivia. Me pergunto às vezes se eu mesmo não os teria expulsado com palavras duras num sábado qualquer, especialmente monótono. Não que os odiasse, isto é, odiava-os sim, mas só às vezes: o que me desagradava neles era principalmente serem um atestado tão veemente da minha profunda falta de assunto, do meu absoluto não ter aonde ir aos sábados e em todos os outros dias. Mas era bom sentir a tarde dobrando o meio-dia e depois ouvir o portão batendo e o barulho de seus passos no cimento da entrada e logo após o som da campainha: então eu me interrompia no que não estava fazendo e me preparava para a visita, como quem espera que algo aconteça. Embora nada chegasse a acontecer realmente: eles pertenciam a essa raça simpática e um pouco amorfa que, por delicadeza, nunca provoca acontecimentos que poderiam degenerar em situações embaraçosas, na opinião deles, pois na minha nada podia haver de mais embaraçoso do que permanecer dentro de um daqueles furos. E, então, mesmo abrir a janela era uma lasca.
Mas desde que não vieram mais, meus sábados inteiros são feitos de duras lascas que vou arrancando com movimentos desajeitados pelas salas e escadas desta casa vazia, à espera de que um daqueles ruídos antigos e inúteis como o portão batendo ou os passos deles no cimento ou a campainha tocando me puxe do centro desse agosto que não acaba. Ainda que fosse para tirar mais lascas ou permanecer em silêncio. Fico pensando se, com o tempom, não acabaríamos por nos desinibir, e talvez então até me convidassem para passear no parque ou numa dessas lanchas de turismo que fazem excursões pelas ilhas. Nem era preciso tanto: bastava que eu me tornasse capaz de perceber detalhes mesmo insignificantes, como um anel no dedo de um deles, ou mesmo um botão, um sorriso ou ainda apenas uma face. Qualquer coisa como aqueles sapatos de pano marrom. Mas nem sequer tenho telefone para que possam me avisar de uma provável volta.
Disse-lhes isso, certa vez. Creio que se sentiram lisonjeados, como se debaixo daquilo que eu dizia friamente, como quem comunica, por exemplo, ter tomado um banho, nas entrelinhas eu dissesse, pudico e reservado, que simplesmente não saberia o que fazer de meus sábados, se não viessem sempre. Tremi quando cheguei a perceber o equívoco, pois era como uma declaração de amor velada e, de certa forma, criava entre nós um compromisso extremamente sério. Quase como se, mentalmente, assinássemos um contrato estabelecendo que: a) a partir daquele momento, eu me comprometia a jamais sair aos sábados; b) a partir daquele momento, eles se comprometiam a jamais deixar de me visitar aos sábados. Desde então, tudo ficou mais definido. Ou, melhor dizendo, mais oficializado. E afinal, chovesse ou fizesse sol, sagradamente lá estavam eles, aos sábados. Naturalmente chovesse-ou-fizesse-sol é apenas isso que se convencionou chamar força de expressão, já que há muito tempo não fazia sol, talvez por ser agosto — mas de certa forma é sempre agosto nesta cidade, principalmente aos sábados.
Não é que fossem chatos. Na verdade, eu nunca soube que critérios de julgamento se pode usar para julgar alguém definitivamente chato, irremediavelmente burro ou irrecuperavelmente desinteressante. Sempre tive uma dificuldade absurda para arrumar prateleiras. Acontece que não tínhamos nada em comum, não que isso tenha importância, mas nossas famflias não se conheciam, então não podíamos falar sobre os meus pais ou os avós deles, sobre os meus tios ou os seus sobrinhos ou qualquer outra dessas combinações genealógicas. Também não sabia que tipo de trabalho faziam, se é que faziam alguma coisa, nem sequer se liam, se estudavam, iam ao cinema, assistiam à televisão ou com que se ocupavam, enfim, além de me visitar aos sábados.
Então era natural que nossos encontros fossem um tanto estéreis, já que nunca ninguém tinha nada a dizer. Procurávamos compensar os enormes silêncios que invariavelmente se instalavam feito furos nos nossos esfarrapados diálogos, sobretudo eu, pois sempre achei que quem recebe deve se esmerar para evitar silêncios ou ruídos excessivos, embora não seja exatamente o que se possa chamar de um anfitrião mas, em todo caso, me esforçava. Assim, corria a fazer chá ou distribuir cinzeiros, abrir ou fechar janelas, colocar algum disco na vitrola e regular o volume de acordo com o gosto deles, tarefa essa em que gastava, no mínimo, uns trinta minutos. E ainda assim criavam-se furos em que os chás haviam acabado, e ninguém queria mais, as janelas estavam fechadas, e ninguém queria abri-las, os cinzeiros estavam vazios, mas ninguém queria fumar, o toca-discos em silêncio, mas ninguém queria ouvir música. Tudo assim como que perfeito, e não existe nada mais esterilizante do que a perfeição de não se querer nada além do que está à nossa volta. O furo se tornava tão espesso que, quando alguém falava, a voz soava áspera e brusca, como se tirasse uma lasca do silêncio. E atribuo a seu senso estético (ao meu também) o fato de, então, preferirmos ficar mesmo calados, por mais embaraçoso ou insuportável que fosse. Evidente que, quando eles saíam, os meus nervos estavam simplesmente aos pedaços, e acredito que também os deles não andassem em muito bom estado, embora sorrissem sempre e procurassem manter-se simpaticamente compreensivos para com a minha absoluta falta de habilidade em lidar com as pessoas.
Sei que fica um-pouco-não-sei-como falar sobre tudo isso sem detalhar nada, falar deles assim, em termos tão gerais — mas eu ficava tão submerso na tarefa de me sentir sendo visitado que sobrava pouco tempo para fazer qualquer coisa além de abrir ou fechar janelas etc. etc. Mesmo assim, havia brechas inesperadas na minha capacidade de observação, e lembro que num dos últimos sábados fiquei profundamente espantado ao perceber que um deles usava sapatos de pano. Tentando situar na memória o exato momento em que se deu essa percepção: creio que consigo situá-lo num daqueles instantes de perfeição, quando inconscientemente eu procurava algo destoante, pois só poderia falar sobre algo assim. Mas seria tão indelicado referir-me a seus sapatos de pano como uma imperfeição dentro de um daqueles sábados, sobretudo depois daquele nosso contrato, que achei bem mais educado calar-me, e nem sequer tentar subir os olhos procurando encaixar aqueles sapatos num par de meias, calças ou talvez saias e, quem sabe, uma cabeça.
Para eliminar, portanto, essa desagradável impressão de generalidade, posso dizer a meu favor isto: que um deles usava — ou usou, certa vez, e disso estou absolutamente certo — um par de sapatos de pano, e mais exatamente, pano marrom, e é bem possível ainda que houvesse junto ao salto e ao bico algumas partículas de lama endurecida, já que chovia tanto naqueles agostos, e já que lembro também de, mais tarde, quase madrugada, ter apanhado uma vassoura para varrer do tapete alguns fios de linha, cinzas, pontas de cigarro e — justamente — uma placa de lama endurecida, que não poderiam ter vindo de outro lugar senão de sapatos, embora não necessariamente de pano, e menos necessariamente ainda de pano marrom.
Uma dessas outras lembranças indiscutíveis foram umas flores amarelas que me trouxeram certa vez, embora não possa dizer se foram exatamente para mim. Quero dizer: compradas ou colhidas com a intenção específica de dá-las justamente a mim, pois reconheço friamente que minha aparência não convida muito a dar flores, e creio que eles eram desses que dão às pessoas coisas que a aparência dessas pessoas dê margem a suposições do gênero: gostará mais de cravos ou de rosas? em se tratando de rosas, amarelas, brancas ou vermelhas? se forem vermelhas, com ou sem espinhos? Mas tudo isso é inútil, porque as flores que me trouxeram — ou, mais verdadeiramente, como estou tentando dizer, as flores com que entraram no meu quarto e que deixaram sobre a mesa ao sair —, essas flores não eram rosas. Também não consegui saber o que eram, apesar de amarelas e um tanto moles, quase gordas, com as pétalas manchadas por uma matéria escura que parecia, a princípio, cinza — mas que soprada permanecia perfeitamente imóvel, como se fizesse parte mesmo das pétalas, um pigmento ou qualquer dessas coisas científicas que os vegetais costumam ter.
Como durante vários dias me esqueci dessas flores, elas perderam lentamente as pétalas, que precisei juntar uma a uma para jogar no corredor, depois varrêlas e colocá-las no lixo. Mas sobre isso, creio que poderá informar melhor algum vizinho ou mesmo o lixeiro: nesses agostos não é comum ver flores amarelas, mesmo murchas, esquecidas pelas latas de lixo. E isso, quero dizer, o lixeiro ou algum vizinho, será no mínimo mais uma testemunha das visitas deles. Se é que a estas alturas alguém ainda tem dúvidas a respeito de sua existência. Eu nunca duvidei, parece que isso está bastante óbvio — contudo reconheço não ser a minha linguagem exatamente aquilo que se possa chamar de clara ou/e objetiva.
Não me peça para descrevê-los ou dizer pelo menos quantos eram, eu não saberia. Não saberia dizer também a partir de quando deixaram de vir. Certamente que, na primeira vez em que violaram nosso contrato, devo ter ficado ansioso, pois nada fazia aos sábados a não ser recebê-los, e certamente devo ter corrido várias vezes do relógio para a janela, como é de praxe nessas situações. Embora não os amasse, em absoluto, disso tenho a maior e talvez única certeza. Às vezes chego a pensar que nem sequer os suportava. Apenas, os sábados eram tão longos e aquele agosto não terminava nunca mais, havia sempre o frio e a chuva, e se eles não viessem provavelmente eu ficaria enrolado neste cobertor ainda mais tempo do que fico agora, ouvindo os velhos discos e de vez em quando espiando sobre o telhado que há embaixo da minha janela. Com as chuvas freqüentes, começaram a nascer algumas plantinhas sobre esse telhado, mas as crianças não brincam mais no quintal do edifício vizinho.
Creio que se eles voltassem outra vez, eu lhes falaria dessas coisas, como quem prepara um chá ou vira um disco. Mas não virão mais, e não sei se isso me alivia. Me pergunto às vezes se eu mesmo não os teria expulsado com palavras duras num sábado qualquer, especialmente monótono. Não que os odiasse, isto é, odiava-os sim, mas só às vezes: o que me desagradava neles era principalmente serem um atestado tão veemente da minha profunda falta de assunto, do meu absoluto não ter aonde ir aos sábados e em todos os outros dias. Mas era bom sentir a tarde dobrando o meio-dia e depois ouvir o portão batendo e o barulho de seus passos no cimento da entrada e logo após o som da campainha: então eu me interrompia no que não estava fazendo e me preparava para a visita, como quem espera que algo aconteça. Embora nada chegasse a acontecer realmente: eles pertenciam a essa raça simpática e um pouco amorfa que, por delicadeza, nunca provoca acontecimentos que poderiam degenerar em situações embaraçosas, na opinião deles, pois na minha nada podia haver de mais embaraçoso do que permanecer dentro de um daqueles furos. E, então, mesmo abrir a janela era uma lasca.
Mas desde que não vieram mais, meus sábados inteiros são feitos de duras lascas que vou arrancando com movimentos desajeitados pelas salas e escadas desta casa vazia, à espera de que um daqueles ruídos antigos e inúteis como o portão batendo ou os passos deles no cimento ou a campainha tocando me puxe do centro desse agosto que não acaba. Ainda que fosse para tirar mais lascas ou permanecer em silêncio. Fico pensando se, com o tempom, não acabaríamos por nos desinibir, e talvez então até me convidassem para passear no parque ou numa dessas lanchas de turismo que fazem excursões pelas ilhas. Nem era preciso tanto: bastava que eu me tornasse capaz de perceber detalhes mesmo insignificantes, como um anel no dedo de um deles, ou mesmo um botão, um sorriso ou ainda apenas uma face. Qualquer coisa como aqueles sapatos de pano marrom. Mas nem sequer tenho telefone para que possam me avisar de uma provável volta.
Marcadores: O Ovo Apunhalado




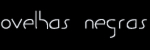

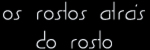


"É, sem amor, apenas a loucura.
É exatamente embaixo das cobertas, ouvindo barrulho de chuva e olhando pela janela que eu descobri a essas palavras.
Os velhos discos nunca mais irão cantar a mesma canção se eles jamais retornarem"