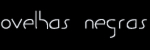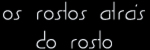À memória de Erico
Verissimo,
que acreditava em mim
‘A primeira vez que a cidade imaginária Passo da
Guanxuma apareceu num conto meu foi em Uma praiazinha de areia bem
clara, ali, na beira da sanga, escrito em 1984 e incluído no livro Os dragões não conhecem o paraíso. Naquele conto é narrado o
assassinato de Dudu Pereira, que volta a aparecer aqui. Em outras histórias,
voltou a aparecer o Passo, até que assumi a cidade, um pouco como a Santa Maria
dejuan Carlos Onetti. Este texto, de 1990, pretendia ser o primeiro capítulo de
um romance inteiro sobre o Passado tão ambicioso e caudaloso que talvez eu
jamais venha a escrevê- lo. De qualquer forma, acho que tem vida própria, com o
estabelecimento de uma geografia e esses fragmentos de histórias quase sempre
terríveis respingados aqui e ali como gotas de sangue entre as palavras.’
Por quatro pontos pode-se entrar ou sair do Passo da Guanxuma. Vista de
cima, se alguém a fotografasse — de preferência numa daquelas manhãs
transparentes de inverno, quando o céu azul de louça não tem nenhuma nuvem e a
luz claríssima do sol parece aguçar em vez de atenuar a navalha do frio solto
pelas ruas, com o aglomerado das casas quase todas brancas no centro, em torno
da praça, e as quatro estradas simétricas alongando suas patas sobre as pontas
da Rosa dos Ventos — e ao revelar o filme esse fotógrafo carregasse nas sombras
e disfarçasse os verdes, a cidade se pareceria exatamente com uma aranha na
qual algum colecionador tivesse espetado um alfinete bem no meio, como se faz
com as borboletas, no ponto exato em que as quatro estradas se cruzariam, se
continuassem cidade adentro, e onde se ergue a igreja. A torre aguda da igreja
seria a cabeça desse alfinete prendendo no espaço a aranha de corpo irregular,
talvez disforme, mas não aleijada nem monstruosa — uma pequena aranha
inofensiva, embora louca, com suas quatro patas completamente diferentes umas
das outras.
LESTE: OS PLÁTANOS
Os românticos e sonhadores, esses que imaginam vidas vagamente inglesas, de
paixões contidas, silêncios demorados e gestos escassos mas repletos de
significados, preferem a estrada do leste. Ela vai subindo da cidade em tantas
curvas que as pessoas são obrigadas a diminuir a velocidade, tanto faz que
andem a pé, a cavalo, de automóvel ou bicicleta, até chegarem ofegantes na
alameda de plátanos. Lá, onde já não existem casas, fora um ou outro rancho
perdido no campo entre capões de eucaliptos, a estrada começa seu caminho em
direção a Porto Alegre. Os plátanos são muito altos, dos dois lados da estrada,
e as folhas superiores, de ambos os lados, quase chegam a se misturar, formando
uma espécie de túnel — que mesmo antes
do filme com Doris Day, grande sucesso do Cine Cruzeiro do Sul, ganhou o nome
de Túnel do Amor. No final de maio, a luz do sol deitando no horizonte oposto
bate oblíqua nas folhas douradas e vermelhas caídas no chão e nas que ainda
restam nos galhos cada vez mais descarnados para revestir inteiro de ouro o
Túnel do Amor. Forra-se de prata também, nas noites de lua cheia,
principalmente as de Câncer, Leão ou Virgem, em pleno verão, quando as árvores
já recuperaram as folhas e, no auge do verdor, preparam-se para perdê-las outra
vez. Novamente entrelaçadas nas copas altas, dispondo sombras, noite alta elas
conspiram a favor daqueles namoros considerados fortes e de certas
amizades estranhas, como aquela que durante anos uniu a Tarragô filha do
vice-prefeito à alemoa Gudrun da revistaria.
Mesmo que nada mais existisse lá, só o Túnel seria suficiente para que os
apaixonados do Passo preferissem essa estrada a qualquer outra das três, mas há
outras razões. Tomando-se uma picada de terra batida à direita de quem vem da
cidade, pouco antes da alameda, chega-se à casa de Madame Zaly, cartomante,
vidente e curandeira respeitada por todo Estado e, dizem mas ninguém prova, a
aborteira mais hábil da cidade, com seus devastadores chás de arruda e outras
tisanas. Madame Zaly, cega de um olho coberto por venda preta e estranho
sotaque — alguns juram que peruano, outros francês, indiano os mais delirantes,
mas para os heréticos mera língua presa —, também planta girassóis e se alguém
lhe perguntasse por que, certamente explicaria, sacudindo as muitas pulseiras
de ouro, que é nativa-do-signo-de-Leão-e-
os-leoninos-precisam-do-sol-em-todas-as-suas-formas. Nas tardes de verão,
quando os girassóis escancaram as pétalas amarelas em volta da casa de tábuas
também amarelas de Madame Zaly, de dentro do Túnel do Amor pode-se ver aquele
exagero de ouro respingado em gotas sobre o verde do campo. E quando, de
dezembro a março, alguma moça volta ao Passo com um girassol dos grandes nas
mãos, ou dos pequenos nos cabelos, todo mundo fica logo sabendo que ela foi ou
ver o futuro ou matar uma criança. Foi assim que Dulce Veiga certa vez entrou
na cidade de tardezinha, pouco antes de ir embora para sempre, um girassol dos
pequenos entre os cabelos naquele tempo ainda castanhos, lisos, caídos abaixo
da cintura, tantos anos atrás, quase ninguém lembra sequer que ela era de lá.
NORTE: AS SANGAS
Menos romântica e mais erótica, porque no Passo amor e sexo correm tão
separados que até as estradas refletem isso, é a pata estendida em direção ao
norte. Do vale onde fica a cidade ela sobe áspera, em linha reta até o topo da
coxilha da zona do meretrício.
Aqui, assim como Madame Zaly reina a leste com seus estranhos poderes sobre
as plantas e os destinos, quem brilha soberana sobre a carne e os prazeres é La Morocha , uma paraguaia
meio índia de olhos verdes estreitos de cobra e cuja de mate novo sempre entre
os dedos cheios de anéis. O mais vistoso deles, dizem, uma serpente de prata
com olhos de rubi autêntico, mas dizem tanta coisa no Passo sobre as vidas alheias,
teria sido presente do próprio lendário prefeito Tito Cavalcanti, quase trinta
anos no poder, que a teria trazido ainda petiça lá dos lados de Encamación.
Passada a meia dúzia de casas dos domínios de La Morocha , só a dela de
material, com parreira nos fundos e hibiscos vermelhos na frente, à esquerda e
à direita do outro vale em que a estrada do norte afunda num pontilhão de
madeira, estendem-se os lajeados e a sanga Caraguatatá. De águas fresquíssimas
no verão e gélidas nas manhãs de inverno, cobertas por uma camada de geada tão
fina que dá a impressão de que bastaria soprar leve na superfície para rachá-la
em cacos e ver os lambaris do fundo.
Essa, claro, é a estrada preferida da bagaceirada do Passo. Nas noites de verão dizem que a soldadesca, os rapazes e até senhores de família, médicos e vereadores costumam arrebanhar o chinaredo das pensões deLa Morocha para
indescritíveis bacanais na beira dos lajeados, com muita costela gorda, coração
de galinha no espeto, cachaça, violão e cervejinha em caixa de isopor. Depois
dessas noitadas a areia branca da pequena praia da sanga Caraguatatá amanhece
atulhada de brasas dormidas, pontas de cigarro, restos de carne mastigada,
algum coração de galinha mais fibroso, camisas-de-vênus úmidas, tampinhas de garrafa,
restos de papel higiênico com placas duras e, contam em voz baixa para as
crianças não ouvirem, às vezes algum sutiã ou calcinha de cor escandalosa,
dessas de china rampeira, alguma cueca manchada ou sandália barata de loja de
turco com a tira arrebentada.
Ao cair da tarde, principalmente em janeiro quando as famfiias direitas buscam o frescor da sanga, a tradição manda os maridos irem na frente para limparem discretamente as areias, enquanto as senhoras se fingem de distraídas e diminuem o passo, sacudindo as toalhas sobre as quais vão sentar, que Deus me livre pegar doença de rapariga, comentam baixinho entre si, mas algum guri metido sempre acha alguma coisa nas macegas. Os lajeados são muitos, a sanga Caraguatatá desdobra-se secreta e lenta entre pedras, algumas tão altas que podem ser usadas como trampolim, e para quem tiver coragem de entrar pelo mato cerrado onde, dizem, até onça tem, revela praias de águas cada vez mais cristalinas, que pouca gente viu. Numa delas, certa manhã de setembro, Dudu Pereira foi encontrado morto e nu, a cabeça espatifada por uma pedra jogada ao lado, ainda com fios de cabelo grudados, lascas de ossos e gotas cinzas de cérebro.
Essa, claro, é a estrada preferida da bagaceirada do Passo. Nas noites de verão dizem que a soldadesca, os rapazes e até senhores de família, médicos e vereadores costumam arrebanhar o chinaredo das pensões de
Ao cair da tarde, principalmente em janeiro quando as famfiias direitas buscam o frescor da sanga, a tradição manda os maridos irem na frente para limparem discretamente as areias, enquanto as senhoras se fingem de distraídas e diminuem o passo, sacudindo as toalhas sobre as quais vão sentar, que Deus me livre pegar doença de rapariga, comentam baixinho entre si, mas algum guri metido sempre acha alguma coisa nas macegas. Os lajeados são muitos, a sanga Caraguatatá desdobra-se secreta e lenta entre pedras, algumas tão altas que podem ser usadas como trampolim, e para quem tiver coragem de entrar pelo mato cerrado onde, dizem, até onça tem, revela praias de águas cada vez mais cristalinas, que pouca gente viu. Numa delas, certa manhã de setembro, Dudu Pereira foi encontrado morto e nu, a cabeça espatifada por uma pedra jogada ao lado, ainda com fios de cabelo grudados, lascas de ossos e gotas cinzas de cérebro.
SUL: O ARCO
Em direção ao pampa e ao Uruguai, além do pobrerio da Senzala espalhado em
malocas de telhado de latão, há o quartel do Passo com a Vila Militar Rondon ao
lado, sempre com alguns cariocas de fala chiada e meio sem modos, todo mundo
acha. Tinha que ser mesmo perto das malocas, costuma dizer com desprezo dona
Verbena Marques de Amorim, quase todo ano segunda colocada na lista das dez
mais elegantes do Passo, perdendo sempre para alguma carioca rebolativa,
exagerada nas pinturas e balangandãs, afinal carioca não pode viver longe da
favela. Mas a Senzala não tem lata d’água na cabeça, samba ou tamborim. Nos
baixos úmidos até em tempo de seca, a piazada barriguda cata agrião e girinos
pelos banhados e, dizem, até mesmo algum sapão rajado para feitiço de Madame
Zaly, um pila cada, enquanto negrinhas adolescentes pulam cercas de arame
farpado, de preferência em noite de lua nova, trouxa nas costas, para
atravessar a cidade a pé e cair de boca na vida do lado oposto, nas pensões de La Morocha. Algumas
se regeneram antes de pegar doença incurável de macho e vão se empregar com
senhoras de sociedade, feito a Lisaura Sonia de Souza, que depois foi primeira
e única Miss Mulata Passo da Guanxuma, casou com coronel reformado e hoje até
bingo canta aos sábados no Círculo Militar, mas não passa nem da porta dos
fundos do Clube Comercial.
Viveiro de domésticas, pedreiros, jardineiros, benzedeiras e mandaletes
para a cariocada da Vila Militar Rondon, ninguém sabe bem como, a cada agosto,
a Senzala sobrevive aos surtos de tifo, meningite e tudo que é peste ruim. Mais
do que pela vontade de Deus, todo mundo acha que é mesmo por artes santas da
Gorete dos Lfrios, estuprada e degolada aos nove anos de idade, a cabeça sem
corpo, de olhos abertos e sorrindo afogada entre tufos de copos-deleite no
banhado, em ano que ninguém lembra quando e nem mesmo se realmente houve.
Padroeira de todos os maloqueiros, basta acender vela branca em noite de lua
cheia ao lado de açúcar branco, que toda criança adora, mais nove
copos-de-leite, a idade da santinha, colhidos de fresco — e todas as preces são
atendidas. O padre nega, mas dizem de fonte segura que corre beatificação no
Vaticano, até bispo já andou fazendo rol de milagre.
No alto da coxilha, com a Vila Militar dentro, o quartel parece um pequeno castelo medieval,
principalmente por causa do arco branco na entrada, que pode ser visto desde a
praça central, longe dali. Acontece cada coisa, dizem, entre os oficiais de
fora e a soldadesca do Passo, tudo rapaziada farrista e sem vergonha, mas nunca
esclarecem que coisas, só dizem Deus-me-livre revirando os olhos se alguém
insiste um pouco. Logo após o arco suavizado em muros caiados de branco em
tcomo do quartel e da vila, a estrada se desagrega nuns descampados de cupins,
unhas-de-gato, pitangueiras magrinhas, ásperos gravatás e pedras branquicentas,
entre as quais rastejam mortais cruzeiras, que só mesmo a soldadesca fazendo
manobras se atreve a enfrentar. Diz que passatempo preferido de milico com mira
boa é apontar justo onde, na testa da cobra, os dois braços da cruz se cruzam,
quem acerta vira lenda, como virou Biratã Paraguaçu, morenão que depois foi pro
Rio viver em Copacabana com padrinho capitão.
O arco branco é o ponto mais alto daquele horizonte. Para quem vem das
bandas do Uruguai, de certa curva na estrada, a primeira imagem do Passo é
exatamente a torre da igreja bem no centro desse arco, atravessando-o feito
seta apontada para o céu. Além de aranha, dizem pois, o Passo da Guanxuma é
também o corpo de um guerreiro tapuia enterrado entre vales e coxilhas, tão
valente que nem mesmo embaixo da terra conseguiram arrancar-lhe das mãos o arco
e a seta.
OESTE: O DESERTO
Para a fronteira com a Argentina estende-se a última pata da aranha. O
deserto, apenas o deserto, um ondulado deserto de areia avermelhada que o vento
sopra fazendo e desfazendo as dunas que ameaçam a única coisa que ainda resta
por lá: cercado por cinamomos cada vez mais raquíticos, distante da estrada mas
nem tanto que não possa ser visto, com sua piscina — a única do Passo — em
forma de cuia de mate, ergue-se o que ainda resta do palacete de Nenê Tabaj
ara, o estancieiro responsável, dizem, por todo aquele areal dos infernos que
em dia nem muito longe até açude teve. Veneno demais na plantação,
monoculturas, coisas assim, todas do mal, e como Deus castiga, agora que perdeu
quase tudo em dívida de jogo e hipoteca, o deserto avança sobre seu último
refúgio sem que ele tenha para onde fugir. Sozinho no casarão roído pelos
ventos, a piscina seca há anos, Zezé passa o dia inteiro olhando as fotos da
filha Eliana, a mais linda das sete que teve, e as outras seis, espalhadas pelo
mundo, não querem saber dele — sem chorar, de joelhos, os olhos secos vermelhos
da areia que entra pelas frestas, não de lágrima. Numa madrugada roxa de
outubro, uivando feito gata no cio, cabelos ruivos desgrenhados até a cintura,
Eliana Tabajara, a mais linda moça que o Passo já viu, foi vista vagando
inteiramente nua, as coxas tingidas pelo vermelho do próprio sangue, falando
sozinha no meio do deserto, inteiramente louca. Dizem que até hoje vive, sem
dentes, a cabeça raspada, pele e osso, num hospício em Buenos Aires , outros
que já morreu, e aquele vulto branco gemendo pelas areias nas madrugadas é seu
espfrito sem paz, deflorada pelo próprio pai, dizem também, mas ninguém prova
nada.
Isso é o que se conta, o que se diz, o que se vê e não se vê, mas se
imagina do Passo. De tudo, o mais real, salpicadas entre as quatro patas da
aranha
— no meio dos girassóis do leste, à beira dos lajeados ao sul, pelos descampados do norte e até mesmo entre os vãos mais sombrios das areias a oeste —, o que mais tem em qualquer tempo de seca ou aguaceiro, calorão ou friagem, são touceiras espessas de guanxuma. Por mais que o tempo passe e o asfalto recubra a polvadeira vermelha das estradas, transformando tudo em lenda e passado, por mais sujas e secretas as histórias sussurradas pelos bolichos, entre rolos de fumo preto e sacos de feijão, por mais que por vezes o tempo pareça não andar, ou andar depressa demais, quando as antenas de tevê e as parabólicas começam a interferir entre o arco e a torre, exatamente por causa da planta, de dois males jamais sofreu, sofre ou sofrerá o Passo. De distúrbios estomacais, que chá de guanxuma é tiro e queda, nem de pó acumulado, que os ramos servem para fazer vassouras capazes de assentar até mesmo a poeira daquele deserto próximo que sopra e sopra noite e dia sem parar e, dizem, dizem tanto, ai como dizem nesse Passo, nunca pára de crescer.
— no meio dos girassóis do leste, à beira dos lajeados ao sul, pelos descampados do norte e até mesmo entre os vãos mais sombrios das areias a oeste —, o que mais tem em qualquer tempo de seca ou aguaceiro, calorão ou friagem, são touceiras espessas de guanxuma. Por mais que o tempo passe e o asfalto recubra a polvadeira vermelha das estradas, transformando tudo em lenda e passado, por mais sujas e secretas as histórias sussurradas pelos bolichos, entre rolos de fumo preto e sacos de feijão, por mais que por vezes o tempo pareça não andar, ou andar depressa demais, quando as antenas de tevê e as parabólicas começam a interferir entre o arco e a torre, exatamente por causa da planta, de dois males jamais sofreu, sofre ou sofrerá o Passo. De distúrbios estomacais, que chá de guanxuma é tiro e queda, nem de pó acumulado, que os ramos servem para fazer vassouras capazes de assentar até mesmo a poeira daquele deserto próximo que sopra e sopra noite e dia sem parar e, dizem, dizem tanto, ai como dizem nesse Passo, nunca pára de crescer.
Marcadores: Ovelhas Negras
Para Ledusha
Foi escrito em 1983, no Rio de Janeiro, entre as
novelas de Triângulo das
Águas, e nunca publicado, creio, por ser às vezes francamente pornográfico.
Sua linguagem ao mesmo tempo afetada e chula, cheia de referências literárias,
tem uma influência deliberada de Ana Cristina César, na época minha grande
interlocutora, amiga e cúmplice.
Out of the ash
I rise with my red hair
And I eat men like air
(Sylvia Plath: Lady Lazarus)
Me penetras por trás como a uma cadela, a grande cabeça roxa da tua pica
encharcada pela minha saliva. Só fico de quatro, como gostas, depois de hastear
tua bandeira no mínimo a meio pau, batendo acima do umbigo rendido de
eletricista. Carpinteiros, ergam bem alto o pau da cumeeira! grito rindo
arreganhada enquanto molho lençóis e mordo fronhas e teu leite grosso escapa de
dentro de mim para melar coxas e pentelhos. Enxugamos os gozos em papel
higiênico cor-de-rosa e voltas a me chamar de senhora, sem ouvir Claudia
Chawchat que bate portas no quarto ao lado, escandalizada com meus gritos.
Puta, não diz, mas ai! traumatismos, reumatismos, solecismos. Estou ficando
velha e louca aqui no alto deste morro velho, bem na curva da mangueira e das
tormentas.
No porto inseguro lá embaixo vão e voltam navios de e para Surabaya,
Johnny, tira esse cachimbo da boca, seu rato! A hora da partida, acaricio
culhões de estivadores pelo cais, mas acordo às quatro da manhã para chupar
outra vez o guarda noturno, depois às seis me faço enrabar em pé pelo negrão
jardineiro pedindo que me chame de Zelda para que eu goze como numa valsa.
Zilda, ele geme, Zildinha, então desisto temporariamente de sexo e pela manhã
compro rosas na feira onde não há um que eu não tenha, sabes? Tipo Clarissa
Dalloway compareço à pérgola do hotel em modelinho vaporoso, entre sedas e
musselinas me estendo na relva folheando diários da Mansfield e suavemente
tusso, tusso, très Bertha Young. Mas não apago o cigarro, é com ele em
punho que à tarde troto ladeira abaixo em chita estampada e havaianas, hibisco
no jubão, bem Sonia Braga. Lambo com os olhos do rabo o cobrador e desço antes
do Flamengo deixando telefone embrulhadinho junto com o dinheiro da passagem.
Mais tardar sábado tem mulatão de Madureira em meu dossel.
Te busco por telefone, telegrama e telepatia na cidade antiga onde vendo móveis, viro punk a tesouradas, cinco furos na orelha esquerda, jogo um Volpi no lixo, cometo escrotidões indizíveis rasgando noites que não estas de agora, mais tropicais e tão ordinárias quanto. Enfim parto em lágrimas da cidade iluminada espatifando corações de gás néon, tudo em vão naquelas madrugadas em que choro bêbada cheirada malfodida metade no ombro de Patricia, metade no ombro de Luiz Carlos, e repito repito meu amor você não precisa mentir, você só precisa me dizer porque, Camille Claudel perde. Deixo recado definitivo na secretária eletrônica alta madrugada e parto, definitiva também, pasta de originais inéditos na sacola
relíquia Biba de franjas e espelhinhos na gare da Estação da Luz: Janet Frame abandona a Nova Zelândia.
Te busco por telefone, telegrama e telepatia na cidade antiga onde vendo móveis, viro punk a tesouradas, cinco furos na orelha esquerda, jogo um Volpi no lixo, cometo escrotidões indizíveis rasgando noites que não estas de agora, mais tropicais e tão ordinárias quanto. Enfim parto em lágrimas da cidade iluminada espatifando corações de gás néon, tudo em vão naquelas madrugadas em que choro bêbada cheirada malfodida metade no ombro de Patricia, metade no ombro de Luiz Carlos, e repito repito meu amor você não precisa mentir, você só precisa me dizer porque, Camille Claudel perde. Deixo recado definitivo na secretária eletrônica alta madrugada e parto, definitiva também, pasta de originais inéditos na sacola
relíquia Biba de franjas e espelhinhos na gare da Estação da Luz: Janet Frame abandona a Nova Zelândia.
Agora sou o último quarto no fim de corredor, à esquerda de quem vai, não
de quem vem, compreende? antes da queda brusca do caminho nos trilhos do
bondinho. Ligo a TV sem som, espalho devagar nívea hidratante entre as coxas,
pelas róseas pregas do cuzinho que eles gostam de arrombar, objetos brutais e
necessários. E de novo te espero em desespero, outra paisagem, outros sabores,
quem sabe o porteiro da noite batendo à porta dizendo ser você interurbano
urgente na portaria e eu nem atenda abrindo de joelhos com os dentes manchados
de batom o zíper do garotão. Anyway, amanhã vou e volto tentar te ver,
talvez ponte-aérea, trem só se me sentir demasiado Karen Blixen, o que é raro.
Trarei Rimbaud da Abissínia
— alma gangrenada, a minha; dele a perna, naturalmente — para abnegada cuidá-lo até o fim. Recados para Isabelle, exigirei direitos totais sobre a obra, que não há de ser par delicatésse que perderei minha vida.
— alma gangrenada, a minha; dele a perna, naturalmente — para abnegada cuidá-lo até o fim. Recados para Isabelle, exigirei direitos totais sobre a obra, que não há de ser par delicatésse que perderei minha vida.
Entre os galhos da mangueira carregada espio a lua minguante sobre a
Guanabara, lobiswoman esfaimada na curva das tormentas. Fumo além da conta,
tenho umas febres suspeitas, certos suores à noite, muito além deste verão sem
fim. Uns gânglios, umas fraquezas,
sapinhos na boca toda, será? Tenho lido coisas por aí, dizem, sei lá. Não duro
muito, acho.
Marcadores: Ovelhas Negras
Em memória de
Paulo Yutaka
Entre 1977, quando foi escrito, e 1987, este texto
passou por várias versões. Três delas chegaram a ser publicadas (na extinta
revista mineira Inéditos; no caderno Cultura, de Zero
Hora, e no suplemento literário de
A Tribuna da Imprensa). Alguns
trechos também foram utilizados por Luciano Alabarse num espetáculo teatral.
Mas nunca consegui senti- lo pronto e por isso mesmo também nunca o incluí em livro. Continuo
tendo a mesma sensação. Mas talvez o jeito meio sem jeito destes pedaços mais
parecidos com fiagmen tos de cartas ou diário íntimo afinal seja a sua própria
forma informe e inacabada.
Te amo como as begônias tarântulas amam seus
congêneres; como as serpentes se amam enroscadas lentas algumas muito verdes
outras escuras, a cruz na testa lerdas
prenhes, dessa agudez que me rodeia, te amo ainda que isso te fulmine ou que um
soco na minha cara me faça menos osso e mais verdade.
(Hilda Hilst: Lucas, Naim)
Desculpa, digo, mas se eu não tocar você agora vou perder toda a
naturalidade, não conseguirei dizer mais nada, não tenho culpa, estou apenas
sentindo sem controle, não me entenda mal, não me entenda bem, é só esta
vontade quase simples de estender o braço para tocar você, faz tempo demais que
estamos aqui parados conversando nesta janela, já dissemos tudo que pode ser
dito entre duas pessoas que estão tentando se conhecer, tenho a sensação
impressão ilusão de que nos compreendemos, agora só preciso estender o braço e,
com a ponta dos meus dedos, tocar você, natural que seja assim: o toque, depois
da compreensão que conseguimos, e agora.
Não diz nada, você não diz nada. Apenas olha para mim, sorri. Quanto tempo
dura? Faz pouco despencou uma estrela e fizemos, ao mesmo tempo e em silêncio,
um pedido, dois pedidos. Pedi para saber tocá-lo. Você não me conta seus
desejos. Sorri com os olhos, com a mesma boca que mais tarde, um dia, depois
daqui, poderá me dizer: não. Há uma espécie de heroísmo então quando estendo o
braço, alongo as mãos, abro os dedos e brota. Toco. Perto da minha a boca se
entreabre lenta, úmida, cigarro, chiclete, conhaque, vermelha, os dentes se
chocam, leve ruído, as línguas se misturam. Naufrago em tua boca, esqueço, mastigo
tua saliva, afundo. Escuridão e umidade, calor rijo do teu corpo contra a minha
coxa, calor rijo do meu corpo contra a tua coxa. Amanhã não sei, não sabemos.
Pensei em você. Eram
exatamente três da tarde quando pensei em você. Sei porque sacudi a cabeça como se você
fosse uma tontura dentro dela e olhei o digital no meio da avenida.
Corre, corre. O número do telefone dissolvendo-se em tinta na palma da mão
suada. Ah, no fim destes dias crispados de início de primavera, entre os
engarrafamentos de trânsito, as pessoas enlouquecidas e a paranóia à solta pela
cidade, no fim destes dias encontrar você que me sorri, que me abre os braços,
que me abençoa e passa a mão na minha cara marcada, no que resta de cabelos na
minha cabeça confusa, que me olha no olho e me permite mergulhar no fundo
quente da curva do teu ombro. Mergulho no cheiro que não defino, você me embala
dentro dos seus braços, você cobre com a boca meus ouvidos entupidos de
buzinas, versos interrompidos, escapamentos abertos, tilintar de telefones,
máquinas de escrever, ruídos eletrônicos, britadeiras de concreto, e você me
beija e você me aperta e você me leva para Creta, Mikonos, Rodes, Patmos,
Delos, e você me aquieta repetindo que está tudo bem, tudo, tudo bem. O
telefone toca três vezes. Isto é uma gravação deixe seu nome e telefone depois
do bip que eu ligo assim que puder, OK?
O cheiro do teu corpo persiste no meu durante dias. Não tomo banho. Guardo,
preservo, cheiro o cheiro do teu cheiro grudado no meu. E basta fechar os olhos
para naufragar outra vez e cada vez mais fundo na tua boca. Abismos marinhos,
sargaços. Minhas mãos escorrem pelo teu peito. Gramados batidos de sol, poços
claros. Alguma coisa então pára, todas as coisas param. Os automóveis nas ruas,
os relógios nas paredes, as pessoas nas casas, as estrelas que não conseguimos
ver aqui do fundo da cidade escura. Olho no poço do teu olho escuro, meia-noite
em ponto. Quero
fazer um feitiço para que nada mais volte a andar. Quero ficar assim, no
parado. Sei com medo que o que trouxe você aqui foi esse meu jeito de ir
vivendo como quem pula poças de lama, sem cair nelas, mas sei que agora esse
jeito se despedaça. Torre fulminada, o inabalável vacila quando começa a brotar
de mim isso que não está completo sem o outro. Você assopra na minha testa. Sou
só poeira, me espalho em grãos invisíveis pelos quatro cantos do quarto. Fico
noite, fico dia. Fico farpa, sede, garra, prego. Fico tosco e você se assusta
com minha boca faminta voraz desdentada de moleque mendigo pedindo esmola neste
cruzamento onde viemos dar.
A cidade está louca, você sabe. A cidade está doente, você sabe. A cidade
está podre, você sabe. Como posso gostar limpo de você no meio desse doente
podre louco? Urbanóides cortam sempre meu caminho à procura de cigarros,
fósforos, sexo, dinheiro, palavras e necessidades obscuras que não chego a
decifrar em seus olhos semafóricos. Tenho pressa, não podemos perder tempo.
Como chamar agora a essa meia dúzia de toques aterrorizados pela possibilidade
da peste? (Amor, amor certamente não.) Como evitaremos que nosso encontro se
decomponha, corrompa e apodreça junto com o louco, o doente, o podre? Não
evitaremos. Pois a cidade está podre, você sabe. Mas a cidade está louca, você
sabe. Sim, a cidade está doente, você sabe. E o vírus caminha em nossas veias,
companheiro.
Fala, fala, fala. Estou muito cansado. Já não identifico nenhuma palavra no
que diz. Apenas me deixo embalar pelo ritmo de sua voz, dentro dessa melodia
monótona angustiada perpiexa repetitiva. Quase três da manhã. Não temos aonde
ir, nunca tivemos aonde ir. Um nojo, vezenquando me dá um asco — nojo é culpa,
nojo é moral — você se sente sórdido, baby? — eu tenho medo, não quero correr
riscos — mas agora só existe um jeito e esse jeito é correr o risco — não é
mais possível — vamos parar por aqui — quero acordar cedo, fazer cooper no
parque, parar de beber, parar de fumar, parar de sentir — estou muito cansado —
não faz assim, não diz assim — é muito pouco — não vai dar certo — anormal, eu
tenho medo — medo é culpa, medo é moral — não vê que é isso que eles querem que
você sinta? medo, culpa, vergonha — eu aceito, eu me contento com pouco — eu
não aceito nada nem me contento com pouco — eu quero muito, eu quero mais, eu
quero tudo.
Eu quero o risco, não digo. Nem que seja a morte.
Cachorro sem dono, contaminação. Sagüi no ombro, sarna. Até quando esses
remendos inventados resistirão à peste que se infiltra pelos rombos do nosso
encontro? Como se lutássemos — só nós dois, sós os dois, sóis os dois — contra
dois mil anos amontoados de mentiras e misérias, assassinatos e proibições.
Dois mil anos de lama, meu amigo. Esse lixo atapetando as ruas que suportam
nossos passos que nunca tiveram aonde ir.
Chega em mim sem medo, toca no meu ombro, olha nos meus olhos, como nas
canções do rádio. Depois me diz: — “Vamos embora para um lugar limpo. Deixe
tudo como está. Feche as portas, não pague as contas nem conte a ninguém. Nada
mais importa. Agora você me tem, agora eu tenho você. Nada mais importa. O
resto? Ah, o resto são os restos. E não importam”. Mas seus livros, seus
discos, quero perguntar, seus versos de rima rica? Mas meus livros, meus
discos, meus versos de rima pobre? Não importa, não importa. Largue tudo. Venha
comigo para qualquer outro lugar. Triunfo, Tenerife, Paramaribo, Yokohama.
Agora, já. Peço e peço e não digo nada mas peço e peço diga, diga já, diga
agora, diga assim. Você não diz nada. Você não me vê por trás do meu olho que
vê. Você não me escuta por trás da minha boca que pede sem dizer, e eu bem sei.
Você planeja partir para um país distante, sem mim, de onde muitos anos depois
receberei a carta de um desconhecido com nome impronunciável anunciando a sua
morte. Foi em abril, dirá, abril ou maio. Ou setembro, outubro. Os mais cruéis
dos meses. Tanto faz, já não importará depois de tanto tempo, numa cidade
remota.
Pelas escadarias da avenida deserta, lata de coca- cola largada na porta da
igreja, aqui parece que o tempo não passou, quero te mostrar um vitral, esta
sacada, aquele balcão como os de Lorca, entremeado de rosas, quero dividir meu
olhar, desaprendi de ver sozinho e agora que tudo perdeu a magia, se magia
houve, e havia, e não consigo mais ver nenhum anjo em você, pastor, mago,
cigano, herói intergaláctico, argonauta, replicante, e agora que vejo apenas um
rapaz dentro do qual a morte caminha inexorável, só não sabemos quando o golpe
final, mas virá, cabelos tão negros, rosto quase quadrado, quase largo, quase
pálido, onde já começou a devastação, olhos perdidos, boca de naufrágio
vermelho pesado sobre o escuro da barba malfeita, olho tudo isso que vejo e não
tem outra magia além dessa, a de ser real, e vou dizendo lento, como quem tem
medo de quebrar a rija perfeição das coisas, e vou dizendo leve, então, no teu ouvido
duro, na tua alma fria, e vou dizendo louco, e vou dizendo longo sem pausa —
gosto muito de você gosto muito de você gosto muito de você.
Tantas mortes, não existem mais dedos nas mãos e nos pés para contar os que
se foram. Viver agora, tarefa dura. De cada dia arrancar das coisas, com as
unhas, uma modesta alegria; em cada noite descobrir um motivo razoável para
acordar amanhã. Mas o poço não tem fundo, persiste sempre por trás, as cobras
no fundo enleadas nas lanças. Por favor, não me empurre de volta ao sem volta
de mim, há muito tempo estava acostumado a apenas consumir pessoas como se
consome cigarros, a gente fuma, esmaga a ponta no cinzeiro, depois vira na
privada, puxa a descarga, pronto, acabou. Desculpe, mas foi só mais um engano?
e quantos mais ainda restam na palma da minha mão? Ah, me socorre que hoje não
quero fechar a porta com esta fome na
boca, beber um copo de leite, molhar plantas, jogar fora jornais, tirar o pó de
livros, arrumar discos, olhar paredes, ligar-desligar a tevê, ouvir Mozart para
não gritar e procurar teu cheiro outra vez no mais escondido do meu corpo,
acender velas, saliva tua de ontem guardada na minha boca, trocar lençóis,
fazer a cama, procurar a mancha da esperma tua nos lençóis usados, agora está
feito e foda-se, nada vale a pena, puxar as cobertas, cobrir a cabeça, tudo
vale a pena se a alma, você sabe, mas alma existe mesmo? e quem garante? e quem
se importa? apagar a luz e mergulhar de olhos fechados no quente fundo da curva
do teu ombro, tanto frio, naufragar outra vez em tua boca, reinventar no escuro
teu corpo moço de homem apertado contra meu corpo de homem moço também, apalpar
as virilhas, o pescoço, sem entender, sem conseguir chorar, abandonado,
apavorado, mastigando maldições, dúbios indícios, sinistros augúrios, e amanhã
não desisto: te procuro em outro corpo, juro que um dia eu encontro.
Não temos culpa, tentei. Tentamos.
Marcadores: Ovelhas Negras
Tentei
ignorar, juro. Mas foi completamente impossível. Acontece que moro a duas
quadras do Caesar Park, onde Madonna ficou. Do meu monástico 12a
andar, dias e noites ouvia lá embaixo os gritos daquela involuntária homenagem
póstuma a Fellini. Certa manhã, acordei com um barulho estranhíssimo sob a
janela: helicópteros sobrevoavam a área. E, mesmo tendo que desviar da Augusta
para chegar à Paulista nas minhas peregrinações urbanas, não consegui mais
ignorar. Mesmo decidindo não ir ao show (pruridos ideológicos, tipo eeeu,
colaborar com esse Grosseiro Símbolo da Alienação Capitalista?), acabei indo.
Na última hora, meu amigo Denis Escudero acenou com um irrecusável convite. E
fui.
Safári, claro.
Uma hora de ônibus, duas na fila, mais três até começar. Dúvidas
pleistocênicas, oh Deus, já não tenho idade, devia ficar em casa lendo
Cervantes no original, que juventude idiota, não tenho mesmo vergonha na cara
& etc. Então as luzes apagaram, a bailarina seminua desceu pela corda. E eu
adorei. No dia seguinte, de cama por causa da Madonna, descobri algo
inteiramente insus- peitado — ela é do bem.
Nem ofensiva
nem obscena, Madonna representa tudo aquilo que todos nós gostaríamos de ser e
ter: o prazer sem culpa. Acho que uma figura assim não existiria em tempos e
espaços sem o vírus da aids, que bloqueou a prática sexual e incendiou todas as
formas imaginárias e indiretas da sexualidade. Veja-se, no mundo inteiro, a
maré de revistas, filmes, vídeos pornográficos, sexo por telefone e todas as
formas de, digamos, fazer a coisa da maneira mental, não física — e portanto
sem riscos. Madonna faz no palco tudo aquilo que as pessoas (as saudáveis)
fazem na cabeça. Exemplo — um crioulo fortíssimo, com sotaque baiano, vendendo
cerveja na fila, gritava o que todo mundo sentia: "Minha gente, quero ser
que nem a Madonna para dar mais que chuchu na cerca!"
Infelizmente,
observei outras atitudes, também sintomáticas da era da aids. No palco
(fantasia) pode, no real (vida) não. A drag queen montadésima foi atacada aos
gritos de "bicha! louca! piranha!". Tudo na maior agressividade. Mas,
durante as duas horas da realidade fantástica instaurada pelo show, há
respeito no ar. Ávida suposta de Madonna e seu reflexo coreografado (belamente,
pelo brasileiro Alexandre Magno), mesmo entre berros excitados, é recebida com
encantamento. Madonna é um pouco como aquele transatlântico que atravessa ao
longe a madrugada em Amarcord, de —justamente — Fellini.
Na saída
(Safári Parte II, o Retorno) Denis observou: "Engraçado, parece que tem
uma espécie de tristeza no ar". E tinha. Pelas ladeiras do Morumbi, a
noite tinha ficado fria, guardas tentavam organizar um trânsito histérico, os
ônibus não vinham, as ruas pareciam sujas, as calçadas destruídas. Fugaz, o
sonho passara. Ninguém era mais Madonna. Nem ela, de volta ao hotel, enjaulada
lá no alto, enquanto cá embaixo o povo só queria receber uma espécie de autorização
— a de que se pode também, mesmo em tempos sombrios e sem graça, ser meio
Madonna na vida.
A moça fez um
enorme bem ao astral do Brasil. Parece que gostou de nós, e a gente precisa
tanto, especialmente o Rio de Janeiro. No meio de dias estranhos, pesados (as
mortes de Fellini, River Phoenix, do maravilhoso Felipe Pinheiro, bombas por
toda a Alemanha, lama grossa em Brasília), Madonna deixou no ar um sopro de
vitalidade. Saúde, alegria, tesão. Com ou sem vírus e crise, Madonna dá vontade
dessa coisa sagrada: viver. Por isso mesmo, Deus a abençoe. E pouco importa se
Ele não existe, porque ela também não existe. Existem símbolos. São eles que
mobilizam e, mesmo quando não bastam, são necessários. Melhor ainda se forem
belos. E, repito, do bem. Do lado certo da luz, compreende?
O Estado de S.Paulo, 14/11/1993
Marcadores: A vida gritando nos cantos
Para quem tem mais de trinta,
trinta e cinco anos, este disco pode ser uma tortura. Não, não é que seja um
mau disco. Eu explico. Ou tento
É que fatalmente eu/tu/ele/nós
vamos lembrar. E não estou certo se essas lembranças serão boas. Ou se seriam
boas, lembradas hoje, você me entende? Porque o tempo passado, filtrado pela
memória e refletido no tempo presente — agora —, parece sempre melhor. E terá
mesmo sido?
Apenas, quem
sabe, porque não havia fadiga lá. Aquela fadiga que se insinua, persistente,
entre o ruído das buzinas e das descargas abertas nos engarrafamentos de
trânsito, todo dia. Ou essa, de atravessar mais uma vez qualquer avenida às
seis da tarde para, de repente, olhar a multidão também fatigada e perguntar:
mas que cidade, afinal, é esta? E que vida? A quase amável, paciente fadiga de
contemplar o grande relógio das repartições e escritórios, quase imóvel na sua
lentidão, a partir das cinco e a caminho das seis da tarde. Para nos despejar,
novamente, nas ruas entupidas de fumaça e desejos bandidos nas esquinas, dentro
de carros apertados entre outros carros ou de ônibus apinhados — até o
interior dos apartamentos, com seus fantasmas emboscados, uns mortos, outros
vivos. E então o acúmulo de contas atrasadas, telefonemas ansiosos, telenovelas
chatas, quem sabe algum plano, certas fantasias. Outra cidade, outro país,
outro planeta, outra vida que não esta—uma memória de flores no cabelo e pés
descalços, pouco antes de o ruído do despertador e de o meu/teu/dele/nosso
coração serem os únicos audíveis dentro da escuridão onde afundamos na lama de
nossos sonhos mortos.
Mas eu falava
— tentava—de um disco. De John Lennon.
Ele foi
gravado ao vivo, no Madison Square Garden, em 30 de agosto de 1972. Há quase,
portanto, catorze anos. Você tinha quantos — quinze, vinte, vinte e cinco? E
provavelmente também imaginava que, um dia, pudesse não haver mais guerras,
nem países, nem ódio entre as pessoas. Um
mundo novo, não é isso? Depois houve cinco tiros nas costas, e pouco antes,
durante o depois, os muros das cidades pixados com frases como
"flower-power is dead". E então uma invasão de cabelos muito curtos,
quase raspados, roupas negras, couro justo: a ridicularização de tudo em que
você acreditou durante tanto tempo — e largou faculdade, largou família, caiu
em bandos pelas estradas para sonhar com essa coisa que não aconteceu: um
mundo novo. O deboche das suas antigas — e perdidas — ilusões. Patrício Bisso
só sobe no palco para cantar qualquer coisa como "bolsa peruana? Sandália
indiana? Hippie! Mata". Eu rio, você ri, ele ri—nós rimos todos juntos. E
temos um sutil cuidado em evitar, no vocabulário, no vestuário, qualquer
detalhe capaz de nos identificar como sobreviventes daquele tempo. Agora somos
mais do que modernos: demi-darks. Não temos fé, nem esperança, nem caridade.
Bebemos vodca pura, cheiramos umas. Nunca mais compramos uma caixinha de
incenso. E a bad-trip pinta sem química.
Tudo isso dói
tanto. Eu nunca mais tinha ouvido John Lennon. O tempo corre, a gente vai
descobrindo jeitos de se proteger. Elis? Nem pensar: põe aí a Paula Toller.
Marc (quem lembra?) Bolan? De jeito nenhum, melhor um Boy George, cara. Let's
Roller. It's only rock and roll. Só que eu nem sempre sei se gusto. Mas, por
trás das defesas, esse vinco no canto esquerdo da boca continua avançando, cada
vez mais fundo, cada vez mais longo. Você tenta reagir, sem dizer claramente
não, pelo amor de Deus, não me dá esse disco pra ouvir, eu não entendo nada de
música, eu não conheço John Lennon e nunca ouvi falar em Yoko Ono. Eu não tenho
tempo. Não posso parar, nem pensar, nem sentir. Nem lembrar. Eu preciso ganhar
dinheiro. Tenho pressa neste passo alucinado em direção ao buraco negro do
futuro.
Mas você acaba
aceitando. Agora somos profissionais. Coloca no toca-discos, como quem não
quer nada. Liga a TV, ao mesmo tempo. E, no meio dos sons que vêm também da rua
e dos outros apartamentos, de repente aquela voz tão antiga e conhecida grita:
— Mother!
Aumente o
volume. Ou desligue para sempre, você me entende?
O Estado deS. Paulo, 6/4/1986
Marcadores: A vida gritando nos cantos